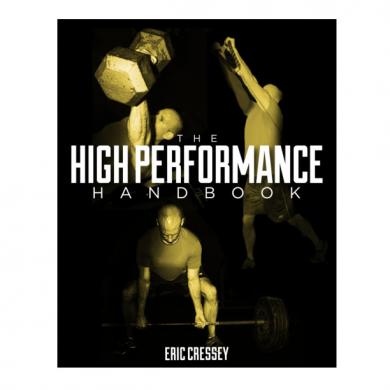O Movimento Cristero E O Conceito De Guerra Justa
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View O Movimento Cristero E O Conceito De Guerra Justa as PDF for free.
More details
- Words: 4,435
- Pages: 7
Loading documents preview...
O Movimento Cristero e o Conceito de Guerra Justa – Uma Lição dos Mártires aos Dias de Hoje Por Luiz Astorga Após recentes atitudes do tribunal mais alto de nosso país, fui instado por amigos que se dedicam à ciência política a dar forma escrita a uma palestra proferida há alguns meses. Cabe ao leitor, após devida meditação, emitir seu próprio juízo sobre se viveríamos ou não numa tirania, se ela seria apenas iminente, ou se seria uma mera ameaça no horizonte; o que desejamos neste texto é antes aproveitar o exemplo dos mártires cristeros para delinear claramente os critérios do direito natural para a guerra justa, sobretudo num quesito crucial para os dias de hoje: o da autoridade pública. Quando fui convidado a participar deste evento, decidi tratar brevemente da justiça da guerra cristera, cuja compreensão creio ser muito importante e muito relevante para o momento histórico atual, aquele no qual nós, inspirados por eles, nos propomos travar o bom combate, seja nos debates, seja na cultura, seja em manifestações, seja em outros âmbitos aos quais, espero, nosso povo jamais tenha que chegar. Nas suas Confissões (XIX 6), já nos dizia Santo Agostinho que, embora a contragosto, o homem sábio fará a guerra, se ela for justa e a necessidade o impelir a isto. A guerra justa foi assunto tratado em praticamente todas as épocas da cristandade, por incontáveis doutores. São Basílio, Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Graciano, Rufino de Bolonha e Raimundo de Penhafort; depois Santo Tomás, seguido de toda a escolástica tardia, como Vitória, Belarmino, Suárez, Soto, etc. A tradição sobre isso é muito extensa, mas há alguns critérios que são fundamentais, quase que universais, e que foram gradualmente depurados nesta continuidade de pensamento. Vamos a eles, portanto: 1- Causa justa: Diz Santo Tomás que aqueles a quem se combate devem merecer ser combatidos devido a alguma culpa. Ou seja, deve ser uma guerra em reação a uma injustiça ou dano, e não qualquer injustiça ou dano, mas um que seja duradouro, grave e certo. E os cristeros foram exemplo de combate a uma agressão grave, certa o suficiente para ser entendida e reconhecida por uma parcela muito grande da população, e que se pretendia não apenas duradoura, mas permanente. 2- Intenção justa: Não basta lutarmos contra um agressor pela razão errada. Moralmente, não basta brigar contra um ladrão se a sua intenção não é se defender, nem reparar imediatamente uma injustiça, mas a mera saudade de uma boa briga. A intenção não pode ser a de se alegrar no sofrimento alheio, mas sim a de reparar uma injustiça, preservar a justiça, coibir o erro, buscar a paz. Em tempo: buscar a paz mediante a guerra não é nenhuma contradição. O objetivo da guerra justa é alcançar a paz, porque não há paz quando reina a injustiça. A paz não é a ausência de guerra, não é a injustiça soterrada pela ameaça; a paz é a tranqüilidade assentada sobre a ordem; e não há ordem onde não há justiça e caridade. Creio que nesse quesito não há muito por que nos estendermos. A intenção dos cristeros, por todos os documentos e relatos que se têm, era justa. 3- Necessidade: Que este tipo de reação seja o único recurso disponível, e outros meios se mostrem impraticáveis ou ineficazes. Ora, a plena execução das antigas Leis da Reforma não foi imposta pela Lei Calles sem grande oposição e manifestações de descontentamento do povo mexicano, ações que infelizmente se revelaram ineficazes. (Em verdade, dependendo das circunstâncias, um povo pode até estar desobrigado de
insistir em meios pacíficos quando se esperam retaliações graves àqueles que os tentam, como se dava na Rússia comunista ou em Cuba. Foi o que também ocorreu no México de então.) Para fins de comparação com o momento atual, vale observar que um governo não deve ignorar repetidas manifestações pacíficas de milhares – ou, em alguns casos, milhões – de pessoas nas ruas, sob pena de o povo reconhecer que estes meios estão sendo recebidos por seus magistrados com desprezo ou respeito fingido e estão se revelando ineficazes. 4- Proporcionalidade: este quesito exige que não se vá causar um mal maior do que o bem a ser obtido. Ou seja, que o benefício visado seja proporcional aos males inevitáveis que virão com ele. Aqui cito Pedro Erik Carneiro, em Teoria e Tradição da Guerra Justa, que a meu ver comentou muito bem o teólogo Francisco de Vitória. “A proporcionalidade não requer que as partes beligerantes usem o mesmo tipo de armamento. O princípio é uma análise de custo e benefício moral e material de uma guerra, não no sentido econômico, mas no sentido de justiça e caridade, ou no sentido da busca da paz e do bem”. E vale observar que um uso isolado de destruição desproporcional, como no episódio da incineração de um vagão de trem repleto de pessoas por um líder cristero, não torna injusta a guerra como um todo – assim como o esforço aliado na Segunda Guerra Mundial não se tornou todo injusto pelos episódios isolados de Hiroshima e Nagasaki. Quanto a este princípio, os cristeros estavam plenamente justificados. Para um povo cristão, a maior morte é a morte da alma. Que o estado feche as portas de um povo à sua salvação é, objetivamente, maior dano do que se o ferisse na carne. E, se um povo como um todo tem consciência da falta que lhe fazem os sacramentos, está justificado em lutar para preservá-los. Exponhamos este ponto de modo ainda mais universal e atual: se um povo tem consciência de que está sendo obrigado a viver sua vida de um modo que condenará sua alma, está justificado em lutar contra quem o obriga a isso. Ora, não era o caso que o povo mexicano estivesse perdendo com a Lei Calles um modelo de estado cristão, que considerasse uma de suas funções tentar promover, dentro do possível e do prudente, a salvação das almas. Isto já não se tinha no México havia décadas. O que o povo mexicano perdia naquele momento era o último mal menor que lhe restava, isto é, o veneno político diluído da indiferença estatal (ou “laicidade”, que é uma indiferença de iure que tende a produzir um ateísmo de facto). O que o governo federal queria então era implementar um modelo de Estado anticristão de iure e de facto, o que é um ponto especialmente interessante de comparação com os dias de hoje. De lá para cá, os mínimos morais de nossa sociedade ocidental foram bastante reduzidos, e os principais meios e métodos implantados para produzir esta redução foram, como sabemos, as mentiras, a desinformação, o hedonismo, e sobretudo o seqüestro da cultura e das categorias da linguagem. Ao mesmo tempo, hoje é raro vermos um estado ocidental implementar leis explicitamente truculentas como a Calles, porque este não quereria perder o direito de se dizer “democrático” em reuniões da ONU, muito embora já realmente não o seja. Mas, do jeito que as coisas caminham, é facilmente imaginável que, para amainar o “fanatismo” da população, uma base curricular obrigue a atividades de “diversidade” que sejam unicamente afrontas à religião de nossas crianças, que são, em sua vasta maioria, cristãs. Num dia de maior delírio parlamentar, podemos facilmente imaginar deputados propondo uma lei que obrigue sacerdotes a realizar casamentos sacramentalmente impossíveis, inclusive entre a espécie humana e outras espécies, ou mesmo com entes inanimados; pois boa parte disso, ou já se está tentando implementar pelo mundo, ou está ao menos sendo ativamente discutida.
E não é apenas no sagrado que pode ocorrer a perseguição nos dias de hoje; se ontem o leviatã estatal destronava o sagrado sob o pretexto de exaltar a natureza, hoje tirou a máscara e quer subverter a natureza mesma em prol da imposição absoluta de sua própria vontade como medida da lei. Hoje a lei natural é desprezada e a lei positiva se sente livre para declarar que ninguém é menino nem menina e bizarrices do tipo. Quando a vontade é a medida da lei, o absurdo tende a se tornar na lei um elemento estrutural. Enfim, o fato é que podemos facilmente imaginar um ponto além do qual o dano causado por um governo a seu povo – seja na possibilidade de este praticar a Fé, seja na violação da mera saúde mental de seus filhos, por exemplo – seja reconhecido por parte suficientemente grande deste povo, não só como grave o bastante, mas como um dano ao qual uma revolta seria preferível, com todas as tristezas e perigos que a acompanhariam. Toda sociedade deve encontrar um ponto abaixo do qual ela não pode ir sem se tornar cúmplice de sua própria destruição. 5- Mínima chance de vitória: Este ponto inicialmente não foi visto como duvidoso por aqueles que observavam o esforço de guerra, como vários bispos e diplomatas, inclusive porque os rancheiros cristeros eram soldados extremamente capazes, principalmente sob a liderança do General Gorostieta. Era muito razoável dizer que havia mais que uma mínima chance de vitória. O que ocorreu foi que, à medida que o tempo passava, parecia que as posições haviam-se estagnado, e alguns acreditavam que ninguém venceria ninguém. Ora, mesmo que fosse verdade que a batalha estivesse estagnada, isto não quer dizer que ela não pudesse ser vencida “pelo cansaço” por um dos lados. A guerra estava em aberto. Creio, então, que permaneciam justificados os cristeros até o fim daquele grande conflito. Ainda assim, consideremos por um instante que a chance dos cristeros fosse a mínima das mínimas. Vale ressaltar que às vezes este quinto princípio é entendido de maneira demasiado estreita. Há diferentes maneiras de se conceber o êxito numa mesma guerra. Os templários, por exemplo, faziam voto de simplesmente não retroceder no campo de batalha, mesmo que sua vitória tivesse suas chances muitíssimo reduzidas, e isso não tornava injusta sua luta. É comum um grupo de combatentes saber que perderá uma batalha e morrerá ocupando um ponto estratégico até a chegada de reforços, como se deu com os trezentos de Esparta. Muitas vezes a vitória não vem dali, daquele sacrifício pontual, mas pelas mãos de outros que verão aquele exemplo e darão continuidade àquele sacrifício. Na guerra de independência americana, o Fort McHenry, em 1814, foi bombardeado por mais de vinte horas pela armada inglesa e não houve rendição, pois estavam convencidos de que uma derrota naquele momento poderia matar no berço uma nação livre recém-nascida. O que observo apenas é que este princípio deve ser bem entendido e aplicado prudentemente, pois nos guia principalmente a não jogar fora nossas vidas por temeridade, mas não nos deve levar a crer que só uma vitória plena aqui e agora poderia valer o preço de nossas vidas. 6- Autoridade pública legítima. A questão da autoridade para declarar uma guerra não é em si um grande problema na questão da guerra justa. Tomás de Aquino menciona a autoridade do príncipe como quesito da guerra justa em locais como o Comentário às Sentenças (In II Sent., d.44 q.2 a.2), a Suma Teológica (IIa-IIae, q.42 a.2) e o De Regno (I, 7). Posteriormente, Vitória (por exemplo) a explica em detalhe no seu Tratado Sobre a Guerra. Nele, o teólogo nos mostra como essa decisão compete à autoridade última de uma comunidade perfeita, seja esta um corpo coletivo de aristocratas, um tribunal democrático, um monarca, um dispositivo misto (no caso de regimes mistos), etc. Também Belarmino, por exemplo, menciona a autoridade legítima em seu De Laicis. Entretanto, é em situações de tirania e grave abuso do poder público – como a que gerou a Cristiada, e como outras que infelizmente poderíamos vislumbrar na atualidade – que a questão da
autoridade é muito mais sutil e complexa, o que justifica o espaço consideravelmente maior que a ela devemos dedicar. A guerra justa contra o tirano (ou, em última instância, o justo tiranicídio) é uma subespécie dentro do gênero da guerra justa, que se caracteriza pelo fato de que o agressor tem certo caráter interno à república. É o caso da república que se defende da agressão de seu tirano. “Tirano”, como se convencionou chamar na escolástica, é aquele que governa para seu próprio bem, em detrimento do bem comum. Costumam-se distinguir dois tipos de tiranos: o usurpador e o tirano em exercício ou em regime, que é aquele cujo poder foi obtido legitimamente, mas que o exerce de maneira nociva. Ilustremos brevemente a diferença entre os dois. No Comentário às Sentenças, Santo Tomás nos ensina que a prelazia de alguém pode ser defeituosa de duas maneiras: quanto ao modo de sua aquisição e quanto ao seu uso. No primeiro caso, o defeito que impede a prelazia não é o da mera indignidade da pessoa – que diz respeito às inúmeras falhas que possa ter quem foi escolhido para o cargo, ao contrário de (como veremos) uma indignidade resultante do próprio uso tirânico de seu poder; o defeito que impede a prelazia é o de havê-la obtido mediante violência, simonia ou outro meio ilícito, como, digamos hoje, “caixa dois” eleitoral, dinheiro de traficantes, de governos estrangeiros, etc. Nesse caso, quem adquire o poder não é um verdadeiro governante, exceto se legitimado, ou pelo consentimento dos conquistados (que pode ser tácito e pode contribuir para a prescrição do crime), ou por ordem válida de algum superior legítimo, o que não se aplica no caso do poder supremo de uma república. Já na prelazia defeituosa quanto ao uso, temos, num primeiro caso, aquele governante que comanda algo contrário à própria finalidade de seu poder, como um pecado contrário à virtude que o próprio prelado tenha sido instituído para promover. Nesta situação, o povo não só não está obrigado a obedecer, mas está obrigado a não obedecer. Num segundo caso, o de um governante que simplesmente exige algo neutro ao qual seu poder não se estenda (como exigir impostos que estejam fora de sua alçada, por exemplo), é facultativo ao povo obedecer ou não. Pois bem. Como nos ensina Francisco Suárez, nem o usurpador nem o tirano em exercício podem ser destronados por autoridade privada, porque, como diz o grande teólogo na sua Defesa da Fé, “a vingança e a punição dos delitos ordenam-se ao bem comum da república, e por isso não são confiadas senão àquele a quem foi confiado o poder público de governar a república.” O autor, naturalmente, faz eco a Santo Agostinho, em Contra Fausto: “a ordem natural exige que a autoridade para suscitar guerra resida na república ou no príncipe.” Como resolver este impasse? Primeiro tratemos do usurpador: como harmonizar esta proibição de agir sob autoridade privada com o fato de que o próprio Santo Tomás (e basicamente com ele toda a escolástica) concordam que, sendo públicas e manifestas a tirania e injustiça graves do usurpador, ou ao menos o próprio fato de que ele é um usurpador, o cidadão privado pode tomar em armas (desde que cumpridos, é claro, os demais critérios da guerra justa) e derrubar este usurpador? Afinal, não poderia ser à toa que Santo Tomás houvesse aprovado o exemplo de Brutus, que matou César. Suárez nos auxilia nesta solução: aquele homem privado que desse modo mata o usurpador “não o faz sem a administração pública, porque, ou o faz com a autoridade de uma república que consente tacitamente, ou com a autoridade de Deus, que pela lei natural deu a cada um o poder de defender a si mesmo e a república contra a violência que semelhante tirano faz.”
Ainda Suárez: O usurpador, “enquanto detém o reino injustamente e domina pela força, sempre inflige em ato violência à república, e assim ela sempre nutre contra ele uma guerra em ato ou virtual – não vingativa, por assim dizer, mas defensiva.” Ou seja, a guerra contra o usurpador se assemelha à legítima defesa. “E, enquanto a república não declara o contrário, sempre se crê que quer ser defendida por qualquer de seus cidadãos, até mesmo por qualquer estrangeiro; e, portanto, se ela não pode defender-se de outro modo senão matando o tirano, é lícito a qualquer um do povo matá-lo.” Vemos portanto que, se Plutarco Elías Calles e seu sucessor, Portes Gil, tivessem sido eleitos por urnas pouco seguras (ou vigiadas por tribunais politicamente comprometidos ou carentes de idoneidade), e se este defeito no modo de aquisição de seu poder público – uma dúvida insanável de confiabilidade – fosse conhecido e reconhecido por grande parte do povo mexicano, os Cristeros estariam justificados: estariam, ainda que na condição de cidadãos privados, apoiados em autoridade pública. Mas consideremos agora que as urnas fossem confiáveis (ou ao menos aferíveis) e que o governo federal fora legitimamente eleito, e estivéssemos tratando de um tirano em exercício. Ainda seria justa a revolta cristera, à luz da lei natural? Como se manifesta nesse caso a autoridade pública para depor o rei? O que o caso dos cristeros pode nos ensinar? Ora, em última instância uma república está autorizada a livrar-se de seu tirano, visto que ele fez por merecer a revogação do pacto de sujeição feito junto a ele pelo seu povo. E Suárez me parece suficientemente fiel a Santo Tomás ao descrever essa situação: o cidadão privado não está tácita e automaticamente autorizado a lutar contra este tirano da maneira que estava contra o usurpador, mas pode fazê-lo desde que uma comissão com autoridade pública (o que não quer dizer “oficial”, como veremos) declare revogado o pacto de sujeição, isto é, declare que o monarca não está mais na condição de líder legítimo, o que então o transformará automaticamente num usurpador – e nos remeterá ao quadro anterior, já elucidado. Vejamos o que diz Suárez: “Se um rei legítimo governa tiranicamente, e não resta ao reino outro remédio para a sua defesa senão expulsar e depor o rei, poderá a inteira república, com um conselho comum das cidades e dos nobres, depor o rei, tanto pela força do direito natural, pelo qual é lícito repelir a violência com a violência, quanto porque este caso necessário à própria conservação da república é entendido como exceção no pacto pelo qual a república transfere seu poder ao rei. É deste modo que se deve entender o que disse Santo Tomás: que não é sedicioso resistir ao rei que governa tiranicamente, sobretudo se o faz uma autoridade legítima da comunidade, e prudentemente e sem maior detrimento do povo.” Suárez usou o exemplo de uma comissão de nobres, ou um conselho de cidades, mas não julgo que devamos nos restringir unicamente a esses exemplos, visto que um “conselho de nobres” não implica necessariamente que estes estivessem vinculados às atividades administrativas da corte. É preferível que seja alguém com mando público e com autoridade para exercê-lo, mas o que se busca principalmente na pessoa ou na comissão é a autoridade, mais do que o cargo, especialmente quando não haja ninguém com mando público que tenha autoridade suficiente para liderar o levante. Foi o que fizeram os cristeros. A Liga Nacional Defensora da Liberdade Religiosa, fundada em 1925, era uma instituição que tinha presença em toda a nação, e que, visivelmente, pelo seu acolhimento junto ao povo, pelas doações que recebia, pelo reconhecimento público que tinha, constituía-se suficientemente como autoridade pública, isto é, autoridade junto ao povo. E sua autoridade se consolidou, à época, com o apoio de boa parte da hierarquia
eclesiástica e com a obtenção da liderança militar do general Gorostieta, que, embora então aposentado, era uma autoridade pública tanto em sua conduta quanto em suas capacidades. Sobre a noção de autoridade, façamos alguns esclarecimentos necessários. Hoje praticase certo vício de linguagem ao identificar “autoridade pública” com um magistrado, um ministro, um senador, um secretário, ou seja, alguém que ocupe um cargo político – quando, na vasta maioria dos casos atuais, “autoridade pública” é infelizmente algo que estas pessoas têm se esforçado em demonstrar que não são. Embora a noção de autoridade possa estar vinculada a um cargo político quando um estado se encontra minimamente íntegro e detém a confiança do povo, tanto na hora de dar poder quanto na hora de se livrar daqueles que se mostram indignos de seus cargos devido ao mau uso deste poder, a autoridade não é o mesmo que o cargo. A “autoridade pública” não é a detenção do poder ou de um cargo público. É a precondição que mantém lícita a detenção do poder ou do cargo. A autoridade vem, como dizia Cícero, de “autor”, aquele que sabe fazer e que, no caso, tem a intenção de fazer o que se espera dele. Autoridade pública é, no sentido mais fundamental, o depósito coletivo da confiança de um povo sobre alguém, no que se refere às suas capacidades e intenções de promover o bem comum. Se o monarca, mediante crimes graves, evidentes e repetidos, dissolveu visivelmente essa confiança, ele pôs a perder sua autoridade. E quem perde a autoridade só detém poder. E isso não vale apenas para a figura do monarca; em outros sistemas de governo, podemos falar das cabeças coletivas de cada um dos três poderes iguais e autônomos. O mesmo vale, aliás, para um estado que faz isso coletivamente. E não usei o termo “evidentes” à toa. A evidência desses crimes para uma grande parte do povo é um critério real da licitude de uma revolta, não em razão de subjetivismos relativistas, mas por ser necessário para mensurar a perda da confiança do povo, e sinalizar a licitude de que este coordene uma oposição ao tirano, assim como a licitude de procurar esta liderança fora dos escalões do governo. Embora seja preferível ao povo tiranizado procurar em escalões do governo a autoridade pública para seu levante, não está forçado a abandonar essa procura se é evidente que não consegue encontrar dentro deles tal autoridade. Ao falarmos da evidência da perda da autoridade, nos referimos à percepção de um povo acerca da falência sistêmica dos governantes em preservar o bem comum, e do visível empenho destes em preservar-se no poder mediante a ruína moral e espiritual de uma sociedade. Consideremos o seguinte exemplo: seria irrelevante ao povo mexicano escutar, por exemplo, que a corte mais alta do México (suponhamos) teria olhado a Lei Calles de perto e, devido a seu extenso conhecimento, decidido que seus absurdos óbvios não eram absurdos óbvios. Ora, o uso da razão por parte de um povo deriva de sua condição natural e está pressuposto em qualquer pacto jurídico. Sua licitude junto ao direito natural é inalienável. A verdade das coisas vai na contramão do espírito leviatânico do estado moderno, que se crê quase que ontologicamente anterior à natureza humana, a ponto de crer que o bom-senso de um povo só existe, só capta a realidade – enfim, só é válido – se regulado por dispositivos jurídicos chancelados pelo estado. Ora, o povo entende certas coisas óbvias porque elas são simplesmente óbvias, e isto não pode ser invalidado por nenhum estatuto jurídico. Explico-me: atualmente nos parece que muitas altas cortes empregam seu vastíssimo conhecimento, não para decidir se aquele bicho distante, meio escondido na sombra, é um leão ou um tigre, mas para incrivelmente dizer a um povo indignado que esse tatu em plena luz do dia é um coelho. Ora, a função de tribunais deste tipo deveria ser a de empenhar seu conhecimento em casos altamente específicos e herméticos que não estejam ao alcance da maioria dos juízes comuns, não a de empenhar
a força de seu cargo para afrontar a justiça emitindo juízos cujo absurdo é evidente não apenas a juristas, mas a qualquer ser humano normal. Uma corte que faz isso perde sua autoridade, e o povo não está obrigado a pedir chancela de nenhum escalão do governo para fazer uso de seu discernimento sobre o tema. Agora tratemos finalmente da lei positiva. Qual o papel da constituição neste assunto? Suponhamos primeiro que a Lei Calles não houvesse sido promulgada, e que o governo federal apenas impusesse, sem apoio legal, toda a tirania que sabemos que houve. O povo ficaria rouco de chamá-los “fora-da-lei” e nada aconteceria, pois o governo se empenhava em ignorar a lei. Ora, uma constituição jamais sai da prateleira, vai até a sede do governo e depõe um tirano; apenas pessoas emitem juízos e comandos. A mera existência de leis justas, portanto, não é solução contra governantes injustos. Se o governo não respeita a lei positiva, o povo está no direito de fazer cumpri-la, se atendidos os demais critérios da guerra justa. Agora contemplemos a situação inversa, que foi o caso histórico dos cristeros: consideremos um governo tirânico que simplesmente aprovara leis injustas (que, como diria Santo Tomás, não têm caráter verdadeiro de lei) e que os cristeros eram de fato os “fora-da-lei”. Isso em nada depunha contra os cristeros, visto que não só a lei era gravemente injusta, mas sua injustiça era insanável (porque o tirano controlava a promulgação das leis), e essas duas verdades eram públicas e notórias. Seria absurdo atar-se ao critério moral de não ser um “fora-da-lei” numa revolta contra um tirano que detém o controle do próprio aparato legal, e que, se conveniente, poderia simplesmente promulgar uma lei adicional que proíbe destituí-lo, ou revogar dispositivos de exceção destinados a defender a república contra a tirania. Sem ter fundamento na verdade e na busca do bem comum, as leis positivas perdem seu significado. É por este fato que nenhum aparato legal redige provisões para o caso de o desprezarem completamente. Este “milagre metajurídico” é impossível. Seria o mesmo que dizer: “na ocasião de que estas palavras neste papel não valham mais nada porque sua redação e interpretação está nas mãos de tiranos, eis o que se deve fazer…” Qualquer provisão que se seguisse seria tão absurda quanto uma tentativa de fazer-se flutuar puxando-se pelos próprios cabelos; seriam apenas mais palavras no mesmo papel. Seria vazio exigir que o levante cristero devesse ser “constitucional”, isto é, que estivesse obrigado a derivar da lei positiva sua autoridade pública. A autoridade pública do levante cristero foi a da Liga Nacional e a da Guarda Nacional Cristera (liderada pelo general Gorostieta), com apoio de numerosos padres e bispos. Por sua virtude e capacidade, pelo reconhecimento destas qualidades por parte do povo, e pelo conseqüente depósito de confiança que a sociedade tinha nestas pessoas, o povo mexicano pôde, com o respaldo da lei natural, lutar para defender sua Fé e salvar da ruína a sua nação, ao brado de Viva Cristo Rei. Quanto ao povo brasileiro, cabe antes de tudo meditarmos com plena serenidade, mas com igual dose de coragem, sobre em qual situação nos encontramos ou poderíamos vir a nos encontrar.
Instituto Angelicum 25/04/2018 11h14 https://www.facebook.com/institutoangelicum/photos/rpp.230254883797886/999231356900 231/?type=3&theater
insistir em meios pacíficos quando se esperam retaliações graves àqueles que os tentam, como se dava na Rússia comunista ou em Cuba. Foi o que também ocorreu no México de então.) Para fins de comparação com o momento atual, vale observar que um governo não deve ignorar repetidas manifestações pacíficas de milhares – ou, em alguns casos, milhões – de pessoas nas ruas, sob pena de o povo reconhecer que estes meios estão sendo recebidos por seus magistrados com desprezo ou respeito fingido e estão se revelando ineficazes. 4- Proporcionalidade: este quesito exige que não se vá causar um mal maior do que o bem a ser obtido. Ou seja, que o benefício visado seja proporcional aos males inevitáveis que virão com ele. Aqui cito Pedro Erik Carneiro, em Teoria e Tradição da Guerra Justa, que a meu ver comentou muito bem o teólogo Francisco de Vitória. “A proporcionalidade não requer que as partes beligerantes usem o mesmo tipo de armamento. O princípio é uma análise de custo e benefício moral e material de uma guerra, não no sentido econômico, mas no sentido de justiça e caridade, ou no sentido da busca da paz e do bem”. E vale observar que um uso isolado de destruição desproporcional, como no episódio da incineração de um vagão de trem repleto de pessoas por um líder cristero, não torna injusta a guerra como um todo – assim como o esforço aliado na Segunda Guerra Mundial não se tornou todo injusto pelos episódios isolados de Hiroshima e Nagasaki. Quanto a este princípio, os cristeros estavam plenamente justificados. Para um povo cristão, a maior morte é a morte da alma. Que o estado feche as portas de um povo à sua salvação é, objetivamente, maior dano do que se o ferisse na carne. E, se um povo como um todo tem consciência da falta que lhe fazem os sacramentos, está justificado em lutar para preservá-los. Exponhamos este ponto de modo ainda mais universal e atual: se um povo tem consciência de que está sendo obrigado a viver sua vida de um modo que condenará sua alma, está justificado em lutar contra quem o obriga a isso. Ora, não era o caso que o povo mexicano estivesse perdendo com a Lei Calles um modelo de estado cristão, que considerasse uma de suas funções tentar promover, dentro do possível e do prudente, a salvação das almas. Isto já não se tinha no México havia décadas. O que o povo mexicano perdia naquele momento era o último mal menor que lhe restava, isto é, o veneno político diluído da indiferença estatal (ou “laicidade”, que é uma indiferença de iure que tende a produzir um ateísmo de facto). O que o governo federal queria então era implementar um modelo de Estado anticristão de iure e de facto, o que é um ponto especialmente interessante de comparação com os dias de hoje. De lá para cá, os mínimos morais de nossa sociedade ocidental foram bastante reduzidos, e os principais meios e métodos implantados para produzir esta redução foram, como sabemos, as mentiras, a desinformação, o hedonismo, e sobretudo o seqüestro da cultura e das categorias da linguagem. Ao mesmo tempo, hoje é raro vermos um estado ocidental implementar leis explicitamente truculentas como a Calles, porque este não quereria perder o direito de se dizer “democrático” em reuniões da ONU, muito embora já realmente não o seja. Mas, do jeito que as coisas caminham, é facilmente imaginável que, para amainar o “fanatismo” da população, uma base curricular obrigue a atividades de “diversidade” que sejam unicamente afrontas à religião de nossas crianças, que são, em sua vasta maioria, cristãs. Num dia de maior delírio parlamentar, podemos facilmente imaginar deputados propondo uma lei que obrigue sacerdotes a realizar casamentos sacramentalmente impossíveis, inclusive entre a espécie humana e outras espécies, ou mesmo com entes inanimados; pois boa parte disso, ou já se está tentando implementar pelo mundo, ou está ao menos sendo ativamente discutida.
E não é apenas no sagrado que pode ocorrer a perseguição nos dias de hoje; se ontem o leviatã estatal destronava o sagrado sob o pretexto de exaltar a natureza, hoje tirou a máscara e quer subverter a natureza mesma em prol da imposição absoluta de sua própria vontade como medida da lei. Hoje a lei natural é desprezada e a lei positiva se sente livre para declarar que ninguém é menino nem menina e bizarrices do tipo. Quando a vontade é a medida da lei, o absurdo tende a se tornar na lei um elemento estrutural. Enfim, o fato é que podemos facilmente imaginar um ponto além do qual o dano causado por um governo a seu povo – seja na possibilidade de este praticar a Fé, seja na violação da mera saúde mental de seus filhos, por exemplo – seja reconhecido por parte suficientemente grande deste povo, não só como grave o bastante, mas como um dano ao qual uma revolta seria preferível, com todas as tristezas e perigos que a acompanhariam. Toda sociedade deve encontrar um ponto abaixo do qual ela não pode ir sem se tornar cúmplice de sua própria destruição. 5- Mínima chance de vitória: Este ponto inicialmente não foi visto como duvidoso por aqueles que observavam o esforço de guerra, como vários bispos e diplomatas, inclusive porque os rancheiros cristeros eram soldados extremamente capazes, principalmente sob a liderança do General Gorostieta. Era muito razoável dizer que havia mais que uma mínima chance de vitória. O que ocorreu foi que, à medida que o tempo passava, parecia que as posições haviam-se estagnado, e alguns acreditavam que ninguém venceria ninguém. Ora, mesmo que fosse verdade que a batalha estivesse estagnada, isto não quer dizer que ela não pudesse ser vencida “pelo cansaço” por um dos lados. A guerra estava em aberto. Creio, então, que permaneciam justificados os cristeros até o fim daquele grande conflito. Ainda assim, consideremos por um instante que a chance dos cristeros fosse a mínima das mínimas. Vale ressaltar que às vezes este quinto princípio é entendido de maneira demasiado estreita. Há diferentes maneiras de se conceber o êxito numa mesma guerra. Os templários, por exemplo, faziam voto de simplesmente não retroceder no campo de batalha, mesmo que sua vitória tivesse suas chances muitíssimo reduzidas, e isso não tornava injusta sua luta. É comum um grupo de combatentes saber que perderá uma batalha e morrerá ocupando um ponto estratégico até a chegada de reforços, como se deu com os trezentos de Esparta. Muitas vezes a vitória não vem dali, daquele sacrifício pontual, mas pelas mãos de outros que verão aquele exemplo e darão continuidade àquele sacrifício. Na guerra de independência americana, o Fort McHenry, em 1814, foi bombardeado por mais de vinte horas pela armada inglesa e não houve rendição, pois estavam convencidos de que uma derrota naquele momento poderia matar no berço uma nação livre recém-nascida. O que observo apenas é que este princípio deve ser bem entendido e aplicado prudentemente, pois nos guia principalmente a não jogar fora nossas vidas por temeridade, mas não nos deve levar a crer que só uma vitória plena aqui e agora poderia valer o preço de nossas vidas. 6- Autoridade pública legítima. A questão da autoridade para declarar uma guerra não é em si um grande problema na questão da guerra justa. Tomás de Aquino menciona a autoridade do príncipe como quesito da guerra justa em locais como o Comentário às Sentenças (In II Sent., d.44 q.2 a.2), a Suma Teológica (IIa-IIae, q.42 a.2) e o De Regno (I, 7). Posteriormente, Vitória (por exemplo) a explica em detalhe no seu Tratado Sobre a Guerra. Nele, o teólogo nos mostra como essa decisão compete à autoridade última de uma comunidade perfeita, seja esta um corpo coletivo de aristocratas, um tribunal democrático, um monarca, um dispositivo misto (no caso de regimes mistos), etc. Também Belarmino, por exemplo, menciona a autoridade legítima em seu De Laicis. Entretanto, é em situações de tirania e grave abuso do poder público – como a que gerou a Cristiada, e como outras que infelizmente poderíamos vislumbrar na atualidade – que a questão da
autoridade é muito mais sutil e complexa, o que justifica o espaço consideravelmente maior que a ela devemos dedicar. A guerra justa contra o tirano (ou, em última instância, o justo tiranicídio) é uma subespécie dentro do gênero da guerra justa, que se caracteriza pelo fato de que o agressor tem certo caráter interno à república. É o caso da república que se defende da agressão de seu tirano. “Tirano”, como se convencionou chamar na escolástica, é aquele que governa para seu próprio bem, em detrimento do bem comum. Costumam-se distinguir dois tipos de tiranos: o usurpador e o tirano em exercício ou em regime, que é aquele cujo poder foi obtido legitimamente, mas que o exerce de maneira nociva. Ilustremos brevemente a diferença entre os dois. No Comentário às Sentenças, Santo Tomás nos ensina que a prelazia de alguém pode ser defeituosa de duas maneiras: quanto ao modo de sua aquisição e quanto ao seu uso. No primeiro caso, o defeito que impede a prelazia não é o da mera indignidade da pessoa – que diz respeito às inúmeras falhas que possa ter quem foi escolhido para o cargo, ao contrário de (como veremos) uma indignidade resultante do próprio uso tirânico de seu poder; o defeito que impede a prelazia é o de havê-la obtido mediante violência, simonia ou outro meio ilícito, como, digamos hoje, “caixa dois” eleitoral, dinheiro de traficantes, de governos estrangeiros, etc. Nesse caso, quem adquire o poder não é um verdadeiro governante, exceto se legitimado, ou pelo consentimento dos conquistados (que pode ser tácito e pode contribuir para a prescrição do crime), ou por ordem válida de algum superior legítimo, o que não se aplica no caso do poder supremo de uma república. Já na prelazia defeituosa quanto ao uso, temos, num primeiro caso, aquele governante que comanda algo contrário à própria finalidade de seu poder, como um pecado contrário à virtude que o próprio prelado tenha sido instituído para promover. Nesta situação, o povo não só não está obrigado a obedecer, mas está obrigado a não obedecer. Num segundo caso, o de um governante que simplesmente exige algo neutro ao qual seu poder não se estenda (como exigir impostos que estejam fora de sua alçada, por exemplo), é facultativo ao povo obedecer ou não. Pois bem. Como nos ensina Francisco Suárez, nem o usurpador nem o tirano em exercício podem ser destronados por autoridade privada, porque, como diz o grande teólogo na sua Defesa da Fé, “a vingança e a punição dos delitos ordenam-se ao bem comum da república, e por isso não são confiadas senão àquele a quem foi confiado o poder público de governar a república.” O autor, naturalmente, faz eco a Santo Agostinho, em Contra Fausto: “a ordem natural exige que a autoridade para suscitar guerra resida na república ou no príncipe.” Como resolver este impasse? Primeiro tratemos do usurpador: como harmonizar esta proibição de agir sob autoridade privada com o fato de que o próprio Santo Tomás (e basicamente com ele toda a escolástica) concordam que, sendo públicas e manifestas a tirania e injustiça graves do usurpador, ou ao menos o próprio fato de que ele é um usurpador, o cidadão privado pode tomar em armas (desde que cumpridos, é claro, os demais critérios da guerra justa) e derrubar este usurpador? Afinal, não poderia ser à toa que Santo Tomás houvesse aprovado o exemplo de Brutus, que matou César. Suárez nos auxilia nesta solução: aquele homem privado que desse modo mata o usurpador “não o faz sem a administração pública, porque, ou o faz com a autoridade de uma república que consente tacitamente, ou com a autoridade de Deus, que pela lei natural deu a cada um o poder de defender a si mesmo e a república contra a violência que semelhante tirano faz.”
Ainda Suárez: O usurpador, “enquanto detém o reino injustamente e domina pela força, sempre inflige em ato violência à república, e assim ela sempre nutre contra ele uma guerra em ato ou virtual – não vingativa, por assim dizer, mas defensiva.” Ou seja, a guerra contra o usurpador se assemelha à legítima defesa. “E, enquanto a república não declara o contrário, sempre se crê que quer ser defendida por qualquer de seus cidadãos, até mesmo por qualquer estrangeiro; e, portanto, se ela não pode defender-se de outro modo senão matando o tirano, é lícito a qualquer um do povo matá-lo.” Vemos portanto que, se Plutarco Elías Calles e seu sucessor, Portes Gil, tivessem sido eleitos por urnas pouco seguras (ou vigiadas por tribunais politicamente comprometidos ou carentes de idoneidade), e se este defeito no modo de aquisição de seu poder público – uma dúvida insanável de confiabilidade – fosse conhecido e reconhecido por grande parte do povo mexicano, os Cristeros estariam justificados: estariam, ainda que na condição de cidadãos privados, apoiados em autoridade pública. Mas consideremos agora que as urnas fossem confiáveis (ou ao menos aferíveis) e que o governo federal fora legitimamente eleito, e estivéssemos tratando de um tirano em exercício. Ainda seria justa a revolta cristera, à luz da lei natural? Como se manifesta nesse caso a autoridade pública para depor o rei? O que o caso dos cristeros pode nos ensinar? Ora, em última instância uma república está autorizada a livrar-se de seu tirano, visto que ele fez por merecer a revogação do pacto de sujeição feito junto a ele pelo seu povo. E Suárez me parece suficientemente fiel a Santo Tomás ao descrever essa situação: o cidadão privado não está tácita e automaticamente autorizado a lutar contra este tirano da maneira que estava contra o usurpador, mas pode fazê-lo desde que uma comissão com autoridade pública (o que não quer dizer “oficial”, como veremos) declare revogado o pacto de sujeição, isto é, declare que o monarca não está mais na condição de líder legítimo, o que então o transformará automaticamente num usurpador – e nos remeterá ao quadro anterior, já elucidado. Vejamos o que diz Suárez: “Se um rei legítimo governa tiranicamente, e não resta ao reino outro remédio para a sua defesa senão expulsar e depor o rei, poderá a inteira república, com um conselho comum das cidades e dos nobres, depor o rei, tanto pela força do direito natural, pelo qual é lícito repelir a violência com a violência, quanto porque este caso necessário à própria conservação da república é entendido como exceção no pacto pelo qual a república transfere seu poder ao rei. É deste modo que se deve entender o que disse Santo Tomás: que não é sedicioso resistir ao rei que governa tiranicamente, sobretudo se o faz uma autoridade legítima da comunidade, e prudentemente e sem maior detrimento do povo.” Suárez usou o exemplo de uma comissão de nobres, ou um conselho de cidades, mas não julgo que devamos nos restringir unicamente a esses exemplos, visto que um “conselho de nobres” não implica necessariamente que estes estivessem vinculados às atividades administrativas da corte. É preferível que seja alguém com mando público e com autoridade para exercê-lo, mas o que se busca principalmente na pessoa ou na comissão é a autoridade, mais do que o cargo, especialmente quando não haja ninguém com mando público que tenha autoridade suficiente para liderar o levante. Foi o que fizeram os cristeros. A Liga Nacional Defensora da Liberdade Religiosa, fundada em 1925, era uma instituição que tinha presença em toda a nação, e que, visivelmente, pelo seu acolhimento junto ao povo, pelas doações que recebia, pelo reconhecimento público que tinha, constituía-se suficientemente como autoridade pública, isto é, autoridade junto ao povo. E sua autoridade se consolidou, à época, com o apoio de boa parte da hierarquia
eclesiástica e com a obtenção da liderança militar do general Gorostieta, que, embora então aposentado, era uma autoridade pública tanto em sua conduta quanto em suas capacidades. Sobre a noção de autoridade, façamos alguns esclarecimentos necessários. Hoje praticase certo vício de linguagem ao identificar “autoridade pública” com um magistrado, um ministro, um senador, um secretário, ou seja, alguém que ocupe um cargo político – quando, na vasta maioria dos casos atuais, “autoridade pública” é infelizmente algo que estas pessoas têm se esforçado em demonstrar que não são. Embora a noção de autoridade possa estar vinculada a um cargo político quando um estado se encontra minimamente íntegro e detém a confiança do povo, tanto na hora de dar poder quanto na hora de se livrar daqueles que se mostram indignos de seus cargos devido ao mau uso deste poder, a autoridade não é o mesmo que o cargo. A “autoridade pública” não é a detenção do poder ou de um cargo público. É a precondição que mantém lícita a detenção do poder ou do cargo. A autoridade vem, como dizia Cícero, de “autor”, aquele que sabe fazer e que, no caso, tem a intenção de fazer o que se espera dele. Autoridade pública é, no sentido mais fundamental, o depósito coletivo da confiança de um povo sobre alguém, no que se refere às suas capacidades e intenções de promover o bem comum. Se o monarca, mediante crimes graves, evidentes e repetidos, dissolveu visivelmente essa confiança, ele pôs a perder sua autoridade. E quem perde a autoridade só detém poder. E isso não vale apenas para a figura do monarca; em outros sistemas de governo, podemos falar das cabeças coletivas de cada um dos três poderes iguais e autônomos. O mesmo vale, aliás, para um estado que faz isso coletivamente. E não usei o termo “evidentes” à toa. A evidência desses crimes para uma grande parte do povo é um critério real da licitude de uma revolta, não em razão de subjetivismos relativistas, mas por ser necessário para mensurar a perda da confiança do povo, e sinalizar a licitude de que este coordene uma oposição ao tirano, assim como a licitude de procurar esta liderança fora dos escalões do governo. Embora seja preferível ao povo tiranizado procurar em escalões do governo a autoridade pública para seu levante, não está forçado a abandonar essa procura se é evidente que não consegue encontrar dentro deles tal autoridade. Ao falarmos da evidência da perda da autoridade, nos referimos à percepção de um povo acerca da falência sistêmica dos governantes em preservar o bem comum, e do visível empenho destes em preservar-se no poder mediante a ruína moral e espiritual de uma sociedade. Consideremos o seguinte exemplo: seria irrelevante ao povo mexicano escutar, por exemplo, que a corte mais alta do México (suponhamos) teria olhado a Lei Calles de perto e, devido a seu extenso conhecimento, decidido que seus absurdos óbvios não eram absurdos óbvios. Ora, o uso da razão por parte de um povo deriva de sua condição natural e está pressuposto em qualquer pacto jurídico. Sua licitude junto ao direito natural é inalienável. A verdade das coisas vai na contramão do espírito leviatânico do estado moderno, que se crê quase que ontologicamente anterior à natureza humana, a ponto de crer que o bom-senso de um povo só existe, só capta a realidade – enfim, só é válido – se regulado por dispositivos jurídicos chancelados pelo estado. Ora, o povo entende certas coisas óbvias porque elas são simplesmente óbvias, e isto não pode ser invalidado por nenhum estatuto jurídico. Explico-me: atualmente nos parece que muitas altas cortes empregam seu vastíssimo conhecimento, não para decidir se aquele bicho distante, meio escondido na sombra, é um leão ou um tigre, mas para incrivelmente dizer a um povo indignado que esse tatu em plena luz do dia é um coelho. Ora, a função de tribunais deste tipo deveria ser a de empenhar seu conhecimento em casos altamente específicos e herméticos que não estejam ao alcance da maioria dos juízes comuns, não a de empenhar
a força de seu cargo para afrontar a justiça emitindo juízos cujo absurdo é evidente não apenas a juristas, mas a qualquer ser humano normal. Uma corte que faz isso perde sua autoridade, e o povo não está obrigado a pedir chancela de nenhum escalão do governo para fazer uso de seu discernimento sobre o tema. Agora tratemos finalmente da lei positiva. Qual o papel da constituição neste assunto? Suponhamos primeiro que a Lei Calles não houvesse sido promulgada, e que o governo federal apenas impusesse, sem apoio legal, toda a tirania que sabemos que houve. O povo ficaria rouco de chamá-los “fora-da-lei” e nada aconteceria, pois o governo se empenhava em ignorar a lei. Ora, uma constituição jamais sai da prateleira, vai até a sede do governo e depõe um tirano; apenas pessoas emitem juízos e comandos. A mera existência de leis justas, portanto, não é solução contra governantes injustos. Se o governo não respeita a lei positiva, o povo está no direito de fazer cumpri-la, se atendidos os demais critérios da guerra justa. Agora contemplemos a situação inversa, que foi o caso histórico dos cristeros: consideremos um governo tirânico que simplesmente aprovara leis injustas (que, como diria Santo Tomás, não têm caráter verdadeiro de lei) e que os cristeros eram de fato os “fora-da-lei”. Isso em nada depunha contra os cristeros, visto que não só a lei era gravemente injusta, mas sua injustiça era insanável (porque o tirano controlava a promulgação das leis), e essas duas verdades eram públicas e notórias. Seria absurdo atar-se ao critério moral de não ser um “fora-da-lei” numa revolta contra um tirano que detém o controle do próprio aparato legal, e que, se conveniente, poderia simplesmente promulgar uma lei adicional que proíbe destituí-lo, ou revogar dispositivos de exceção destinados a defender a república contra a tirania. Sem ter fundamento na verdade e na busca do bem comum, as leis positivas perdem seu significado. É por este fato que nenhum aparato legal redige provisões para o caso de o desprezarem completamente. Este “milagre metajurídico” é impossível. Seria o mesmo que dizer: “na ocasião de que estas palavras neste papel não valham mais nada porque sua redação e interpretação está nas mãos de tiranos, eis o que se deve fazer…” Qualquer provisão que se seguisse seria tão absurda quanto uma tentativa de fazer-se flutuar puxando-se pelos próprios cabelos; seriam apenas mais palavras no mesmo papel. Seria vazio exigir que o levante cristero devesse ser “constitucional”, isto é, que estivesse obrigado a derivar da lei positiva sua autoridade pública. A autoridade pública do levante cristero foi a da Liga Nacional e a da Guarda Nacional Cristera (liderada pelo general Gorostieta), com apoio de numerosos padres e bispos. Por sua virtude e capacidade, pelo reconhecimento destas qualidades por parte do povo, e pelo conseqüente depósito de confiança que a sociedade tinha nestas pessoas, o povo mexicano pôde, com o respaldo da lei natural, lutar para defender sua Fé e salvar da ruína a sua nação, ao brado de Viva Cristo Rei. Quanto ao povo brasileiro, cabe antes de tudo meditarmos com plena serenidade, mas com igual dose de coragem, sobre em qual situação nos encontramos ou poderíamos vir a nos encontrar.
Instituto Angelicum 25/04/2018 11h14 https://www.facebook.com/institutoangelicum/photos/rpp.230254883797886/999231356900 231/?type=3&theater
Related Documents

O Movimento Cristero E O Conceito De Guerra Justa
March 2021 0
A Luz, O Tempo E O Movimento
January 2021 2
O Movimento Homossexual
January 2021 0
O Eu E O Inconsciente.pdf
February 2021 2
O Dizer E O Dito
January 2021 2
O Dada E O Surrealismo
January 2021 1More Documents from "Gustavo Nunes"

O Movimento Cristero E O Conceito De Guerra Justa
March 2021 0
1.-programacion Pk3 Y Pk3 (-) Gm Mce-1.pdf
January 2021 0
Cinesiterapia
February 2021 1
Libro 38.pdf
February 2021 1