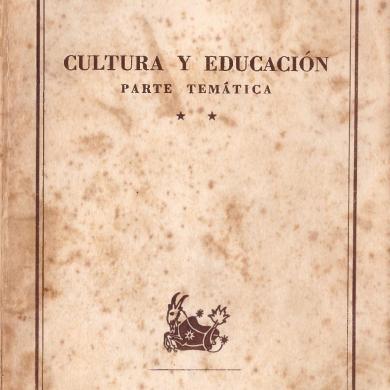Tratado Dos Signos - João Poinsot João De São Tomás
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Tratado Dos Signos - João Poinsot João De São Tomás as PDF for free.
More details
- Words: 115,494
- Pages: 279
Loading documents preview...
JOÃO DE SÃO TOMÁS
TRATADO DOS SIGNOS Tradução, introdução e notas de ANABELA GRADIM ALVES
ÍNDICE
Introdução de A nabela G radim A lves ...........................................................
9
TRATADO DOS SIGNOS P re fá cio .......................................................................................................
37
Prólogo a toda a dialéctica em dois prelúdios............................... .............
39
ARTE DA LÓGICA
Livros das Sú m u l a s .................................................................................
Art.
L ivro
47
I. Definição do termo.............................................................
49
Art. II. Definição e divisão do signo........................... ..................
52
Art. III. Algumas divisões dos termos..................... ........................
55
Acerca do ente de razão e da categoria de relação ........................
65
zero .
Cap.
I. O que é em geral um ente de razão e quantos há............
69
Cap. II. O que é a segunda intenção, a relação de razão lógica, e quantas existem .........................................................
78
Cap. III. Por que potência e através de que actos é feito o ente d e ra zã o ..... ................................
83
7
Cap. IV. Se da parte das coisas reais se dão relações que sejam formas intrínsecas..............................................................
93
O que é requerido para que alguma relação seja categorial
100
Ltvro I. Do signo segundo a sua natureza.....................................................
111
Cap. V.
Cap.
£ Se o signo está na ordem da relação...............................
113
Cap.
II. Se no signo natural a relação é real ou de razão.............
128
Cap. III. Se é a mesma a relação do signo com o objecto e com a potência........................................................................
141
Cap. IV. De que modo são os objectos divididos em motivos e terminativos..................................................................
151
Cap. V. Se significar é formalmente causar alguma coisa na ordem da causalidade eficiente...................................................
166
Cap. VI. Se a verdadeira razão do signo se encontra no com portamento dos animais irracionais e nas operações dos sentidos externos.......................................................
175
Consequência e apêndice a todos os livros.................................................
185
Livro n. Acerca da divisão do signo..............................................................
189
Cap. Cap.
I. Se é correcta e unívoca a divisão do signo em formal e II.
instrumental.....................................................................
191
Se o conceito é signo form al...........................................
205
Cap. III.
Se a espécie impressa é signo form al.............................
213
Cap. IV.
Se o acto de conhecer é signo form al............................
220
Cap. V. Se é apropriada a divisão do signo em natural, con vencional e consuetudinário............................................ Cap. VI.
Se um signo consuetudinário é verdadeiramente signo ...
L ivro UI. Acerca das apercepções e con ceitos................................................ Cap.
225 231
237
I. Se as apercepções intuitiva e abstractiva diferem essen cialmentena natureza da cognição...................................
241
Cap. II. Se pode ser dada uma cognição intuitiva da coisa fisicamente ausente, seja no intelecto seja no sentido externo.............................................................................
256
Cap. III. De que modo diferem os conceitos reflexivos dos conceitos directos.............................................................
271
Cap. IV. Qual é a distinção entre conceito ultimado e não ultimado.................................................................................
280
Glossário............................................................................................................
287
B ib lio g ra fia .......................................................................................................
293
INTRODUÇÃO
I. VIDA
João de São Tomás 1 nasceu em Lisboa a 9 de A b ril de 1589, filh o de uma portuguesa, M aria Garcês, e de um diplomata austríaco, p ro vavelmente de origem francesa, Pedro Poinsot, então ao serviço do arquiduque Alberto da Áustria como secretário. Ainda m uito novo, João, também conhecido enquanto estudante como Ponçote ou Peixoto, segue para Coimbra c o m o irmão mais velho, Luís, inscrevendo-se na Faculdade de Artes da Universidade. Em 11 de Março de 1605fa z exame para bacharel, ficando aprovado nemine discrepante. Trindade Salgueiro 1 2, citando Q uètife alguns biógrafos, diz que recebeu o grau de laurea artium; outros, e, entre eles, Maritain, dizem -no mestre em Artes. O que recebeu de certeza, segundo os documentos do Arquivo da Universidade de Coimbra, fo i, com a idade de 16 anos, o grau de bacharel. Nesse mesmo ano, a 16 de Outubro, matriculou-se na Faculdade de Teologia, frequentando as aulas até finais do ano seguinte. Após
1 João d e Sào Tomás é o nome religioso adoptado por João Poinsot quando entra para a Ordem dos Dominicanos. Nos registos da Universidade de Coimbra encontra-se também o aportuguesamento do patronímico sob a forma de João Peixoto, ou Ponçote. Registe-se que, nessa época, dois outros homens utilizavam o mesmo nome religioso: Daniel Rindfleisch, um protestante polaco que acabará por tomar o hábito dos dominicanos (1600-1631); e um religioso espanhol que, pela mesma altura, ensina teologia em Salamanca (v. Francis W ade et al., John o f St. Thom as O utlines o j F orm a l L og ic Translator's In tro d u ctio n , Marquette University Press, 1955, Milwaukee, Wisconsin). 2 Salgueiro, Manuel da Trindade, 1940, O Conhecim ento Intelectual na Filosofia de Fr. João de S. Tomás, separata da Biblos, vol. xvi, t. ii , Coimbra, p. 16.
9
1606, nada mais consta nos arquivos universitários referente a João Poinsot, ao con trá rio do que sucedeu com o seu irm ão, Luis Poinsot, que também frequ en tou a universidade coim brã. O irm ã o m ais velho de João, Luís, n u n ca chegaria a s a ir de Portugal. Form ou-se bacharel em Artes e prestou provas n o mesmo dia que o seu irm ão. Nesse ano, a 14 de Outubro, no arquivo da universidade fa z-se referência à sua m a tricu la com o ou vin te de Instituta. N o p rim e iro dia do mês de O utubro de 1610, tom a a fa z e rs e referência ao seu nome, quando se m atricula na Faculdade de Teologia, agora já com o religioso da Ordem da Santíssima Trindade. Luís form ou -se em 2 7 de O utubro de 1618, vind o alguns anos m ais tarde a ser nom eado professor da mesma fa cu ld a d e onde estudara, em 1637. Q uanto a João Poinsot, Trindade Salgueiro 3, ao com entar as razões que o levaram a d eixa r o País, supõe que s ó em 1608p a rtiu pa ra a Bélgica, cham ado p o r seu p a i, que pa ra a li havia acom panhado o arquiduque Alberto, nom eado em 15S>8governador dos Países Baixos, depois de.casar com a in fa n ta D . Isabel, filh a de F ilip e Uk A panhar-se-á d e.novo o rasto de João em Lovaina, ã época um im portante centro teológico-filosófico da escolástica, e onde João cursa Teologia, tendo sido con d iscíp u lo de C om élio Jansénio. N a qu a lid a d e de. candidato ao bacharelato bíblico, que acabaria p o r com pletar em 12 de Fevereiro de 1608, João fa z ia na Universidade de Lovaina um p rim eiro exam e sobre o tema D e concursu liberi arbitrii. Pou co tempo depois, ainda em Lovaina, vem a conhecer Tomás de Torres, um mestre célebre no seu tempo, dom inicano espanhol e antigo aluno do convento de Santa M aria de Atocha, em M adrid.João, ligado p o r fortes laços de am izade ao d om inicano, resolveu, certam ente p o r sua in fluência, en tra r na Ordem dos Pregadores. P o r p o u co tempo, pois, esteve P o in s o t em L ova in a depois de te r co n c lu íd o o seu bacharelato bíblico, já que o vamos en con tra r em 17 de Julho de 1609 a tom a r o hábito d om in ica n o em Santa M a ria de A tocha, escolhendo o nom e com que passará a ser conhecido — João de São Tomás. Passado um ano, fa z ia a sua profissão religiosa. O Iisbonense prossegue os seus estudos e é nom eado le ito r de Artes e mestre de estudantes de Atocha. O D ou tor Profu n d o in icia va a sua vida de m agistério a ensinar Teologia, ca rreira que p o r um breve p eríod o prosseguiu em Placência, sendo cham ado novam ente para A tocha, sempre com o professor de lições teológicas. Os seus dotes intelectuais acabaram p o r não passar despercebidos aos demais e em
1625f o i enviado pa ra A lca lã de Henares, em cujo convento ensinou p o r longo tempo, p rim eiro Filosofia e m ais tarde Teologia. Em 1630, Pedro de Tapia deixou a cadeira de Véspera pa ra passar à de Prim a, e p a ra o seu lu ga r f o i convidado o d om in ica n o português. D urante onze anos regeu João de São Tomás essa cadeira, passando em 1641 pa ra a cadeira de Prim a, m udança essa provocada pela p rom oçã o de Pedro de Tapia a bispo de Segóvía. A fa m a da profundidade e subtileza do d om in ica n o cresce e João vai conhecer, p o r nom eação de Filipe IV, um novo pa pel — o de in qu isid or de Costela e Aragão. Não é de surpreender que lhe fosse com etida ta l tarefa, pois a Ordem dos D om inicanos quase detinha o m onopólio do exercício do braço arm ado da Igreja. Em meados de 1643, os traços de personalidade de João de São Tomás concorreram , definitivam ente, p a ra a decisão de Filipe IV em escolhê-lo p a ra seu confessor p a rticu la r. João tentou tudo p a ra evitar que se cum prisse esta decisão régia, chegando mesmo a alegar que, p o r serportuguês, não era personagem indicada p a ra o cargo. Debalde tentou evitar a honra, pois acabaria p o r ter de submeter-se à disciplina religiosa, nada m ais lhe restando senão abandonar a quietude dos claustros e acom pa n h a r o re i à sua corte. Reiser, referindo-se à biografia elaborada p o r Ram írez, confrade e contem porâneo de João de São Tomás, conta que, desesperado, quando recebe ordem definitiva de segu ir p a ra a corte, terá exclam ado: -Actum est, patres, de vita mea. Mortuus sum. Orate pro me.» Estas palavras prem onitórias leva ram mesmo alguns biógrafos posteriores a supor qu e João tivesse sido assassinado p o r envenenam ento, todavia parecem não sub sistir quaisquer fundam entos pa ra esta suspeita. A in d a de acordo com Ram írez, João de São Tomás só se irritou , verdadeiram ente, duas vezes em toda a sua vida. Q uando os padres capitulares de A tocha o elegeram, p o r duas vezes, p rio r. D e ambas recusou veementemente, p ois gostava demasiado de A lca lã e do ensino para os troca r p elo governo das com unidades religiosas. Com o tal, não é de estranhar a sua perplexidade quando soube do interesse do rei em nom eá-lo p a ra um cargo de tanta responsabilidade e a que estava conferido m uito poder. Além do mais, a época de tais sucessos era conturbada e o rein o atravessava um a verdadeira convulsão. A independência de Portugal, em 1640, a revolta separatista da Catalunha, qu e teve o apoio de Richelieu, o inevitável afastam ento do conde-duque de Olivares, qu e d irig iu com mão de fe rro os negócios do Estado com o prim eiro-m in istro, caído em desgraça, m arcavam a turbulenta con ju n tu ra qu e se vivia então. Sem dúvida, João de São Tomás, que n unca tinha dem onstrado qu a lqu er interesse pela vida fo ra da quietude dos claustros, sofreu
11
um grande desgosto quando f o i sondado, em 1643, p elo m inistro Luis de H aro, p a ra v ir a ocu pa r o cargo de confessor régio. A o m inistro, João respondera que havia um assunto prévio a resolver, a saber: se o rei estava disposto a o u v ir a verdade e a segui-la. F ilip e TV parece não se ter ofendido com tal exigência e deixou o d om in ica n o regressar a A lca lá pa ra recom eçar as aulas, mas com ordem expressa de se apresentar em M ad rid no D om in go de Ramos. A vida dedicada ao ensino tinha term inado e o fra d e português viu-se num ápice a p a r ticip a r num a vida p ú b lica de que semprefiz e ra questão de se alhear. D ois pedidos ao re i in icia m esla travessia: p rim eiro, que ja m a is se lem bre de lhe conceder qualquer dignidade; e em segundo lu g a r que lhe seja d im in u íd o o seu vencim ento anual, red u zirid o-o ao estri tam ente indispensável. O resto do dinheiro, o re i m a n d á -lo-ia d ar aos pobres. P o r p ou co tempo f o i João confessor do rei. A 2 0 de M a io de 1643 recebera em A lca lá a missiva régia nom eando-o confessor de F i lipe IV , com ordem de se apresentar na ca p ita l nesse mesmo dia. Passados escassos dezoito mesesJoão de São Tomás v iría a sucum bir em Saragoça, acom etido de altas febres, com a idade de 5 5 anos. Conta ainda R am irez que fa leceu na p len itu d e da sua crença e f é inabaláveis e que, pressentindo a chegada da hora fa tíd ica , ocupou os seus últim os momentos orando.
n. OBRA
As p rin cip a is obras deJoão de São Tomás fo ra m redigidas durante os anos de docência, e publicadas, p a rte delas, ainda em vida do autor. Os trabalhos fundam entais que d eixou são os m onum entais cursos Filosófico e Teológico, mas o a u tor escreveu a ind a pequenos estudos de m enor fôlego, casos de Explicación de la Doctrina Cristiana, que conheceu várias edições4, nom eadam ente Valência (1644), Alcalá (1645), Saragoça (1645), A ntuérpia (1 6 5 1 ) e Rom a (1633)- Esta obra teve a ind a um a tradução latina, Compendium Doctrinae Christianae, editada em Bruxelas em 1658; e um a versão portuguesa que recebeu o títu lo Explicaçam de Doutrina Christâ, publica d a em Lisboa em 1654. Segue-se Pratica y Consideración para Ayudar a Bien Morir, editado em Saragoça em 1645, que conheceu ain d a um a edição italiana, pu blicad a em Florença e datada de 1674, Pratica e Con-
4 Isto seguindo o trabalho Frei
João de São Tomás»,
Coimbra, 1944.
12
«A
Obra Filosófica e Teológica do Padre Mestre
publicado no número especial 8-9 da revista Estudos,
siderationi per Ajutare e per Disporsi a Ben Morire. O ú ltim o destes pequenos tratados, João p u b lica -o já na qualidade de confessor do rei. Trata-se do Breve tratado y muy importante, que por mandado de su Magestad escrevio ei reverendissimo Padre Fray Juan de Santo Tomas, para saber hacer confessión general. O trabalho de Estudos que temos vindo a acom panhar refere ainda q u e «escreveu um a carta ao Padre G eral a defender-se e a explicar-se sobre as afirm ações que fiz e ra no Cursus Theologicus sobre a D o u trin a da Im a cu la d a C onceição, assunto sobre qu e tinha sid o d en u n cia d o n a cú ria generalícia. João fo ra acusado de ensinar um a d ou trin a con trá ria à de São Tomás-. O Curso T eológico é considerado a p rin cip a l obra do D o u to r Profundo, tendo sido parcialm ente — três dos oito volum es que o constituem — editado em vida do autor. Este trabalho, à sem elhança do Curso Filosófico, conheceu várias edições de con ju n to, das quais se destacam: a de Lyon, em 1663, em sete volumes; a de Colônia, publica d a em 1711, em oito volumes; e um a publica d a em Paris, conhecida com o edição de Vivés, publicada em dez volumes entre 1883-1886. Finalm ente surgiu, em 1933, o cuidada edição dos Be neditinos de Solesmes que, à sem elhança do trabalho de Réiser pa ra o Curso Filosófico, preserva o texto clássico da obra do d om inicano. Q uanto ao Curso Filosófico, ele constitui a p rim eira obra de fo ã o de São Tomás. Tendo sido in icia lm e n te p u b lica d o em volum es separados, conhecerá depois várias edições gerais, três das quais publicadas a ind a em vida d o a u tor e p o r ele revistas: A lcalá, 1631-1635; Roma, 1637-1638; e C olônia, 1638. Editada pela últim a vez p o r Reiser, nos anos 30, com o nom e de Cursus Philosophicus Thomisticus, a obra, em três volum es que perfazem 2215páginas, encontra-se dividida em Artis Logicae e Naturalis Philosophia; sendo que a Lógica com porta tam bém duas divisões. D e dialecticis institutionibus, quas summulas vocant e De instrumentis logicaltbus ex parte materiae. Estes textos de filosofia , que versam sobre as m atérias leccionadas p o r João de São Tomás, são m aioritariam ente compostos p o r com entários às obras de Aristóteles, adoptando um pon to de vista m uito p ecu lia r: o Filósofo é com entado e ilum inad o a p a rtir da d ou trin a de S. Tomás de A qu in o, de quem João se considerará toda a vida um hum ilde discípulo. A ordem de exposição e tratam ento adaptada também é tipicam ente escolãstica: cada Livro ou Quaestio tem p o r tem a g en érico um a questão, que ê explorada em artigos, também eles subordinados a um problem a p a rticu la r. N a p rim eira parte de cada artigo, João de São Tomás responde à questão que lhe dá tema, enum era as posições mais com uns sobre o assunto, m uitas vezes de adversários que não
13
cuida de identificar, as quais pode ou não con firm a r com as suas conclusões, e trata de estabelecer com segurança e clareza a posição que considera dever ser mantida. Num segundo momento, solvuntur argumenta, levanta e resolve, de acordo com a doutrina que sustenta, as objecções que poderíam surgir ãs posições adaptadas. As duas divisões da Lógica correspondem ã lógica fo rm a l e ã ló gica m aterial. Como João de São Tomás explica no seu prefácio, -•resumimos as divisões da Lógica em duas partes: na prim eira tratamos de todas as coisas que pertencem à form a da arte Lógica e ã prim eira resolução, das quais trata Aristóteles nos livros De Interpretatione e nos A nalíticos Anteriores, e que nas Súmulas tratamos para p rin cipiantes. Na segunda parte tratamos do que pertence ã matéria lógica ou à resolução posterior, especialmente na demonstração, para a qual principalm ente é ordenada a Lógica.» Esta vocação de m anualpara estudantes do Curso Filosófico notas e bem no estilo de João de São Tomás, claro, pedagógico, descom prom etido, cheio de redundâncias destinadas a d irim ir obscuri dades, frases longas e, p o r vezes, mesmo circulares. Tal não surpreende num homem que declara p u b lica r apenas para s e rv ir a in qu iriçã o da verdade, que d iz respeito à doutrina e não a pessoas», e que acredita que nos «ouvintes» *a d ou trin a é m ais fa cilm e n te ins-, tilada quando é estudada não em termos de discussões de autores e autoridade, com o quando é estudada somente em termos de luta pela verdade». Além de sucessivas edições após a morte do autor, as obras deJoão de São Tomás conheceram também um núm ero sign ifica tivo de traduções. D o Curso Teológico f o i realizada um a versãofrancesa do tratado -Os dons do Espírito Santo», pertencente ao tom o v e surgida em Paris em 1930, tradução essa elaborada p o r Raíssa M aritain. Em 1928 surge em Paris um a edição parcial, em francês, do volume i; e em 1948 é dada à estampa em M adrid uma edição p a rcia l do tom o v, em espanhol. Em 1951 é editada em Nova Iorqu e uma versão am ericana do mesmo tom o do Curso Teológico. D o Curso Filosófico existem três traduções parciais, todas elas edi tadas nos Estados Unidos e consultadas na realização deste trabalho. Trata-se, em p rim eiro lugar, de uma versão p a rcia l da segunda parte da Lógica, que f o i publicada em Chicago em 1955 com o título de The Material Logic o f John o f St. Thomas — Basic Treatises5; no
5 Thomas, John o f St., 1955, The Material Logic ofjohn ofSt. Tbomas— Basic Treatises, trad. Simon, Yves, Glanville, John, e Hollenhorst, Donald, The University o f Chicago Press, Chicago, Illinois.
14
mesmo ano surge, pela mão de Francis Wade, uma tradução p a rcia l da p rim eira parte da lógica, Outlines o f Formal L o gicfin a lm en te, à segunda parte da Lógica pertence também o Tractatus de Signis — the Semiotic o f John Poinsot, edição bilingue am ericana do Tratado dos Signos, da autoria de Jobn Deely, surgida em Indiana em 1985 e que constitui a últim a edição de um texto de João de São Tomás. Os melhores trabalhos do autor, e porventura os mais acessíveis, datam dos anos 30 e são compostos quer pela cuidada edição de Reiser do Curso Filosófico, quer pelo trabalho dos Beneditinos de Solesmes na preparação de uma edição geral do Curso Teológico, que se fa z acom panhar p o r copiosos estudos sobre o dom inicano. O Cursus Philosophicus Thomisticus não com enta apenas Aris tóteles, mas p o r vezes também outros clássicos de lógica, com o o Isagoge, de Porfirio. João não cuida de inovar, apenas comentar, explicitar e tom a r claros osfilósofos ã lu z dos ensinamentos de Tomás de Aquino, de quem deseja -não só seguir a solidez e im ita ra doutrina, mas também em ular a ordem, brevidade e modéstia-. E éprecisamente no que respeita ao Tratado dos Signos que se afasta do esquema do com entário, tão caro a toda a Idade Média. João já a n u n cia ra que trata as questões m ais simples, para principiantes, nas Súmulas, e que explora os aspectos mais complexos e intricados destas na quaestio correspondente. Assim fa rá também com o signo, um a questão que apresenta tantas dificuldades que, em Vez de um com entário ao De Interpretatione, de Aristóteles, decide p u b lica r um tratado separado, versando só esse tema: o Tratado dos Signos, que apresenta na segunda parte da Ars Logicae, dividido em três quaestiones: De Signo Secundum Se, De Divisionibus Signi e De Notitiis et Conceptibus.
n t EDIÇÃO DO TRATADO DOS SIGNOS
Apesar de pertencer ao século xvu, João de São Tomás perm anece um m edieval no espírito, estilo, convicções e form a de expressão, e o seu trabalho representa o que de mais apurado a escolástica peninsular produziu. Todavia, em termos de condições de produção, João deve decididam ente ser classificado entre os modernos, p ois a sua obra já não está lim itada pelas restrições que se im punham aos autores6
6 Thomas, John o f St., 1955, Outlines o f Formal Logic, trad. Wade, Francis, et al., col. -Medieval Philosophical Texts in Translation-, Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin
25
medievais: idealização, realização de m anuscritos e cópia laboriosa dos mesmos. Estefa c to acabou p o r sim p lifica r o presente trabalho. Na verdade, não existem origin a is da obra de João de São Tomás, dado qu e o a u to r acom panhou e pôd e rever p e lo m enos as p rim eira s três edições do seu Curso Filosófico, e terá destruído ou ignorado os m anuscritos p o r os considerar de pou ca im portância após p u b li cados. Assim sendo, a tradução e edição a q u i apresentada baseia-se na segunda reimpressão do Curso Filosófico, editada p o r Reiser e publica d a em Itá lia p o rM a rie tti, entre 1930-1936. Trata-se da últim a edição com pleta do Curso Filosófico, que levou perto de sete anos a ser preparada p o r Reiser, e onde se fix a o que pode ser considerado o texto clássico d o D o u to r Profund o. Q uanto à p rim e ira p a rte da Ars Logicae, Reiser u tilizo u p a ra a fix a çã o do texto a edição de Rom a de 1637, enquanto pa ra a segunda p a rte u tiliza a edição de M ad rid de 1640, explicando ta l decisão p elo fa c to de serem estes os trabalhos m ais fiá veis surgidos em vida do autor, «cui ultima ipsius auctoris manus accessit*. Refira-se ainda que Reiser, no seu trabalho, cita, em nota de rodapé, as variações relevantes ao texto que trabalha, surgidas nas edições de Lyon de 1663, e de C olônia em 1638; notas essas que fo ra m ignoradas, n o presente trabalho. P erten ce tam bém a Reiser o m on u m en ta l trabalho de re fe rir as referências bibliográficas, p o r vezes obscuras, que João de São Tomás fa z a outros autores, ã obra e respectivo loca l onde pod em ser encontradas, socorrend o-se p a ra tanto, fu n d a m entalm ente, da edição Rom ana Leonina e da edição de Parm a da obra de S. Tomás de A qu ín o. Seguindo-se fielm en te o texto de Reiser, ã excepção das notas, tom aram -se a qu i com o boas as referências a essas obras. Im portante é saber quem descobriu ou cu n h ou a expressão Tratado dos Signos p a ra designar a centena e m eia de páginas dedicadas p o r João de São Tomás a este assunto. Apesar de os prim eiros trabalhos sobre o tem a rem ontarem a M a rita in 7, Deely, que editou e tra d u ziu pela p rim eira vez a obra, tom ou a expressão, retirada do p róp rio Cursus Philosophicus Thomisticus, de uso corrente. Nesta p rim eira edição autônom a do Tratado dos Signos, o Tractatus de Signis — the
7 Maritain, Jacques, 1939, *Signe et Symbole*, incluído na obra Quatre essais sur Vesprit d a m sa condition chamelle, Paris; e Herculano de Carvalho, 1969, «Segno e significazione in João de S. Tomás*, Estudos Linguísticos, vol. n, pp. 131-168, Atlântida Editora, Coimbra; e os caps. 7 e 8 da Teoria da Linguagem: Natureza do Fenômeno Linguístico e Análise das Línguas, t. i, Atlântida Editora, 1967, Coimbra.
16
Semiotic o f John Poinsot, dada à estampa em 1985, D eely explica cjue as Quaestiones XXI, XXII e XXIII do Curso Filosófico, que o compõem, fo ra m assim baptizadas pelo próprio João de São Tomás. De fa cto , o dom inicano, na introdução a toda a Lógica, d irigid a ao leitor, e tam bém na in trod u çã o à segunda p a rte da Lógica, d iz claram ente que em vez de um com entário ao D e Interpretatíone aristotélico, que se lim ita rá a resum ir em poucas páginas, prefere p u b lica r ,u m «tratado acerca dos signos e apercepções», que remete para o fin a l da segunda pa rte da Lógica, devido às extraordinárias dificuldades que ta l assunto encerra, dando contudo ao tema um tratam ento m uito geral, pa ra principiantes, no in íc io dos livros das Súm ulas8. A expressão Tractatus de Signis f o i pois inventada e proposta inicialm ente p o r João de São Tomás, segundo o qual, além das a lu sões feita s ao tema nos três p rim eiros artigos das Súmulas, o Tratado dos Signos é composto p e t o Quaestiones XXI, XXII eXXHI da segunda parte da Lógica do Curso Filosófico, intituladas, respectivamente, Do signo segundo a sua natureza, Acerca da divisão do signo e Acerca das apercepções e conceitos. John Deely, porém , fa z uma selecção m ais abrangente na sua apresentação do Tratado dos Signos, considerando, além das três quaestiones expressamente nomeadas p orJoã o, ser necessário atentar ainda, na segunda p a rte da Lógica, nos artigos i, n e tv da Quaestio II — D e ente rationis logico e nos artigos i, n e m da Quaes.tio XVII — De praedicamento relationis. Nesta sua opção, Deely segue
8
«Quanto a estas dificuldades metafísicas e outras d os livros D a Alma, que
o ardor das disputas levou a introduzir no início dos livros das Súmulas, levei-as para local próprio, e desenvolvemos na Lógica, acerca d o D e InterpretatUme, um tratado acerca dos signos e apercepções*; .Cobrimos aqui, como prometemos, as várias questões tradicionalmente tratadas na primeira parte da Lógica, excepto, p or boas razões, o Tratado dos Signos, cheio com tantas e tão extraordinárias dificuldades; e assim, para libertar os textos introdutórios da presença destas dificuldades incomuns, decidimos publicá-lo separadamente em lugar de um comentário ao D e Interpretatíone e junto com as questões d o s Analíticos Posteriores; e para um uso mais conveniente separamos o Tratado dos Signos da discussão das Categorias* (João de São Tomás, in Tratado dos Signos). -Ad baec metaphysicas dijficultates pluresque alias ex tibris de Anima, quae disputantlum ardore in ipsa Summularum cunabula irruperant, suo loco am andavim us et tractatum d e signis et notitiis in Lógica super lib m m Periherm enias expedimus*; «Q u o d in prima Logicae p a rte prom isim us de quaestionibus plutíbus, quae íbi tractari solent, bic expediendis, plane solvimus, excepto qu od íustis de causis tractatum de signis, pluríbus nec vulgaribus dijjicultatlbus scaturientem, ne bic itiiectus aut sparsus gravaret tractatus alio satis p e r se graves, seorsum edendum duxim us loco com m entarU in llbros Perihermenias simul cum quaestionibus in libros Posteriomm, etpro commodiori libri usu a tractatu Praedicamentomm seiimximus.»
17
as instruções de João de São Tom ás no p re fá cio à 4.a ed içã o da segunda p a rte da Lógica, onde a firm a qu e o Tratado dos Signos só d everá ser a b ord a d o «d epois d o co n h e cim e n to h a in d o a c e r ca d o en te de ra zã o e ca te g o ria de rela çã o» 9, p recisa m en te as duas Quaestiones onde D eely fa z um apanhado dos artigos m ais relevantes, transform ando-os, respectivam ente, e m «First Pream ble: O n m in d -d e p e n d e n t b ein g »; e «S econ d P rea m b le: O n re la tio n », qu e apresenta separadam ente dos três livros qu e constituem o Tratado p rop ria m en te d ito. Esta opção e d ito ria l é absolutam ente necessária, já que seria praticam ente im possível com preender o Tratado dos Signos sefPi p rim eiro,in vestiga r o q u e é d ito no Curso Filosófico sobre o ente de ra zã o. e a ca tegoria de relação. P o r esta ra zã o, os c in c o artigos m ais im portantes dessas duas questõesfo ra m in trod u zid os na presente ed içã o d o Tratado sob a designação de Livro Zero, sendo im porta n te sa lien ta r que este Livro Z e ro n ã o perten ce p rop ria m en te ao D e Signis, mas a grupa alguns artigos das Quaestiones II e XV II da segunda p a rte da L ó g ica , respectivam ente D e ente rationis lo g ic o e D e praedicamento relationis, e que constituem um m ín im o fu n d a m e n ta l p a ra a com preensão e in terpreta çã o do Tratado, em bora ta l selecção n ã o esgote, de todo, o m a n a n cia l de problem as e in form a çã o qu e p od ería ser extra íd o do Curso Filosófico.
9
«M as p o rq u e todas estas coisas sâo tratadas nestes livros p o r m eio d a
interpretação e significação, e visto qu e o instrumento da lógica é o signo, d e qu e constam todos os seus instrumentos; p òr isso, paréceiTrhelhor agora, em vez d á doutrina destes livros, apresentar aquelas coisas destinadas a ex p o r a natureza e divisão d os signos, qu e nas Súmulas foram introduzidas, e para aqui, portanto, foram reservadas. Agora porém neste lugar com toda a razão se introduzem, depois do conhecimento havido acerca do ente de razão e categoria da relação, dos quais principalmente depende esta inquirição sobre a natureza e essência dos signos. Para q u e o assunto mais clara e frutuosam ente seja tratado, achei p or bem separadamente acerca disto fazer um tratado, em vez de reduzir e incluir a questão na categoria da relação, p ara q u e a discussão d a re laç ão n ão se tornasse redundante e enfadonha pela introdução deste tema exterior; e tam bém para qu e a consideração d o signo n ão se tomasse mais confusa e breve» (itálico nosso) (João d e Sâo Tomás, in Tratado dos Signos). - Sed tamen, qu ia ha ec om n ia tractaritur in his libris p e r m o d u m interpretationis et significatíonis, com m un e siquidem Logicae instrumentum est signum, q u o om n ia eius instrumènta constat, idcirco visum est in praesenti pro doctrina horum librorum ea tradere, quae a d explicandatn naturam et divisiones signorum in Summulis insinuuta, b u c vero reservata sunt. N u n c autem in hoc loco g e n u in e introducuntur, post notitiam h a bita m d e en te rationis et praedicamento relationis, a quibusprincipaliter dependet inquisitio ista de natura et quidditate signorum. Ut autem clarius et uberius tractaretur, visum est seorsum d e hoc edere tractatum, nec solum adpraedicam entum relationis illud reducere, tum ne iUiuspraedicamenti disputatio extraneo hoc tractatuprolixior redderetur et taediosior, tum ne istius considerado confusior esset et brevior. *
18
P o r ú ltim o, resta re fe rir as alterações à fo rm a do Curso F ilosófico a que se p roced eu nesta apresentação d o D e Signis. Os três p rim eiros capítulos das Súm ulas; passaram , n a versão portuguesa, a artigos, devido à sua extensão m ín im a . ^45 três Quaestiones q u e com põem o Tratado dos Signos recebem a q u i o n om e de Livros, tendo-se-lbe alterado a num eração o rig in a l p a ra i, u e in. O L iv ro Zero, com o já f o i dito, é con stitu íd o pela a glu tin a çã o de alguns artigos de duas Quaestiones distintas e é, de certa fo rm a , e x te rio r ao qu e João de São Tomás pretend ia fosse o seu tratado. Q uanto aos artigos que, na versão la tin a , com põem um a Quaestio, são a q u i cham ados capítulos, p o r ser essa a divisão m ais n o rm a l e corren te de um livro.
IV. O TR A TA D O DOS SIGNOS
O Tratado dos Signos, que ocupa p erto de cen ten a e m eia de páginas do Curso Filosófico, é riquíssim o em term os de conteúd o e, é im p orta n te fris á -lo , a despeito das intenções e m odéstia de João, p rofu n d a m en te o rig in a l no tratam ento de alguns conceitos. Q p a n to à origin a lid a d e, podem os con sid era r que a sua in ova çã o1' m ais ra d ica l está em ter, pela p rim eira vez, en ca ra d o a sem iótica corno um a p rob lem á tica a utônom a da q u q lto ã ó s o s outrõs tipos de con h ecim en to dependem : as m odelizaçoes do m und o dependem d o ' uso adequado de sisnos form ais, enquanto os d om ínios qu ese prendem 'com a intejsubjeçtjvid qd e_e com -a s form a s d e^Q rn u m cõçã n estãn , deperidentes^ dos signos instrum entais. A semiose é en tã o con d içã o p ré v ia à in tera cçã o com o m u n ã õ ê fjc T n u m p q ta m a r su p erior de percepção, à com u n ica çã o en tre indivíduos. João de São Tomás com preendeu, e isso n u n ca a té en tã o sucedera, que a Lógica precisava de re cu a r p a ra um p o n to a n te rio r ao q u e era o tratam ento habitual, de inspiração aristotélica, dado a esta ciên cia : análise dos term os eproposições, das categorias e tipos de ra c io c ín io 10. D a í que «et in universum omnia instrumenta quibus ad cognoscendum et loquendum utimur, signa sunt, ideo, ut logicus exacte cognoscat instrumenta sua, oportet qu od etiam cognoscat quid sit signum» con stitu a o cerne do progra m a de estudos que orien ta a exploração d o Tratado. É nova esta tom ada de con sciên cia do ca ra cte r p ro p ed êu tico d a sem iótica relativam ente a todas as outras ciências, bem com o a id en tifica çã o, p o r M ia dos signos form a is, de toda a vida p síq u ica com processos de semiose. João irá su b su m ir toda a vida
10 D eely, John, 1985, Tractatus de Signis — University o f Califórnia Press, Berkeley.
tbe Semiotic õ f John Poinsot,
19
m ental à u tiliza çã o de signos, p o r m eio dos quais, e m eio exclusivo p elo qual, o hom em conhece. E esta é a razão da im portância fu n d a dora que a trib u i à sem iologia, e que o m otiva p a ra escrever o tratado. P o r ou tro lado, e fru to da im portância que lhe atribu i, é notável a extensão e o vigor da sua preocupação sem iológica, e esta é também um a inovação ra d ica l inteiram ente da lavra de João de São Tomás. O Tratado dos Signos ocupa perto de centena e m eia de páginas do Curso Filosófico, fa d o que só assume o devido relevo se se recordar que, p o u co antes, Pedro da Fonseca, nas Instituições Dialécticas, dedica perto de cin co páginas a analisar o signo e os problem as a ele atinentes, ao passo que Sebastião do Couto e Pedro M argalho lhe concedem ainda menos espaço. A p rim e ira preocupação do Tratado dos Signos, seguindo aliás um a te rm in o lg ia já estabelecida na escolástica p e n in s u la r, é taxonóm ica. Os tipos e qualidades de signos segundo João de São Tomás são analisados no segundo a rtigo das Súmulas, no in íc io da Ars Logicae. Signo é definido com o a qu ilo que representa à p otên cia cognoscente algum a coisa diferente de si, fó rm u la que encerra um a crítica explícita à d efinição agostiniana de signo, a q u a l ao in voca r um a fo rm a (species) presente aos sentidos, se refere ao signo ins trum ental, mas não ao form al, que é in terior ao cognoscente e portanto nada acrescenta aos sentidos. Ê assim que, n o dom ínio da significação, aquele onde surgem os diversos tipos de signos, só se pode operar fo rm a l e instrum entalm ente, p orqu e sig n ifica r é to m a r algum a coisa distinta de s i presente ao intelecto, e desta fo rm a o acto de sig n ifica r e x clu i a representação, porqu e a í um a coisa «significa-se» a si própria. É nesta crítica explícita a Agostinho que o p rojecto de João se virá a assum ir com o um a proposta sem iológica suficientem ente abrangente p a ra ser considerada m oderna, p ois p ela p rim e ira vez se intenta fo rn e c e r um a explicação com pleta dos fen ôm en os sem ióticos. A o considerar estas duas e tão distintas espécies de signos, o trabalho do D o u to r P rofu n d o contem pla, sim ultaneam ente, a vertente da sign i fica çã o — a qu ilo pelo que o signo sign ifica algo e a fo rm a com o nos perm ite estruturar a experiência hum ana — e a da com u n ica çã o— enqu a n to veículos que servem a to m a r o objectivo e o subjectivo intersubjectivos. A o estabelecer que nem só a qu ilo que representa outro de fo rm a sensível é signo, consegue-se u n ir na mesma ordem de fenôm enos sem ióticos palavras e idéias, vestígios e conceitos, os quais servem, respectivam ente, p a ra co m u n ica r e p a ra estruturar um a im agem do m undo. João de São Tomás divide e classifica os diversos tipos de signos, que se situam no d om ín io da significação, adoptando duas pers pectivas distintas. D a perspectiva do sujeito cognoscente, enquanto o
20
signo é encarado na sua relação a o intelecto que conhece, divide-se o signo em fo rm a l e instrum ental. O signo fo rm a l é constituído pela apercepção, que é in te rio r a o cognoscente, n ã õ é con scien te e representa algo a p a rtir de si. Tem porta n to a capacidade de to m a r presentes objectos diferentes de s i sem p rim eiro te r ele p ró p rio de ser objectifiçado. O signo instrum ental é o objecto ou coisa que, exterior ao cognoscente, depois de conscientem ente conhecido lhe representa algo distinto de si próprio. A segunda perspectiva adoptada p o r João de São Tomás pa ra classificar os signos é o p on to de vista em que estes se relacionam ao referente. Nesta perspectiva, d ividem -se os signos em naturais, convencionais e consuetudinários. O signo na tu ra l é aquele que pela sua p róp ria natureza sign ifica algum a coisa d istinta de si, e isto independentem ente de qu a lqu er im posição hum ana, razão pela qu a l sign ifica o mesmo ju n to de todos os botnens. O signo con ven cion a l é aquele que sign ifica p o r im posição e convenção hum ana, e assim não representa o mesmo ju n to de todos os homens, mas só significa pa ra os que estão cientes da convenção. O signo consuetudinárto é aquele que representa em virtude de um costume m uitas vezes repetido, mas que não f o i objecto de um a im posição p ú b lica explícita. Depois das definições introdutórias dadas nas Súmulas, João de São Tomás passa a exp lica r em que consistem as relações secundum esse / secundum díci, que u tiliza pa ra analisar os signos, conceitos estes que sefilia m directam ente na d ou trin a aristotélica sobre o tema. Contra os nom inalistas e os que defendem que só existem relações secundum dici, isto é, relações que são form as extrínsecas aplicadas às coisas com o num a com paração, João de São Tomás vai sustentar que já Aristóteles estabelecera a existência de relações secundum esse, isto ê, relações cujo carácterfu n d a m en ta l é ser p a ra outra coisa, não à m aneira de uma denom inação extrmseca, mas enquanto traço essencial cio seu p róp rio modo de existir. E assim que os termos cuja substância é a de serem ditos dependentes de ou tros ou a eles referenciãveissão relativos secundum esse. P elo con trá rio, as relações secundum dici são aquelas onde subsiste algu m a coisa de relarivam ente independente — absoluto — entre os relacionados, e porta n to a totalidade do seu ser não ê ser pa ra ou tro; ao passo que nas relações secundum esse todo o seu ser consiste em ser pa ra outro, com o sucede, p o r exemplo, no caso da semelhança ou da paternidade, pois toda a essência de tais relações se orienta p a ra o termo, de form a que, desaparecendo o termo, a p róp ria relação não subsiste; mas quando existe, possui realidade ontolôgica autônom a e p rópria , isto é, independeu temente de ser ou não conhecida. Para João de São Tomás, a relação é uma categoria que se distingue das restantesformas. Em p rim eiro lugar, está m ais dependente e requer
21
(
et
I (•
com m a ior necessidade o fund am ento, porqu e é m ovim ento de um sujeito em direcção a um termo, enquanto as outras categorias retiram a sua entitatiindade e existência do sujeito. Depois, a relação não depende nem pode ser encontrada num sujeito da mesma fo rm a que as outras categorias, mas depende essencialmente do fu nd am ento que a coordena com um term o e a fa z existir «com o um a espécie de entidade terceira -. A relação transcendental ou secundum dici é porta n to um a fo rm a assim ilada ao sujeito que o conota com algo extrínseco, ao passo que na ontológica ou segundo o ser, a essência da relação é ser relação. O utra categoria im portante é a diferença entre relações reais e de razão, e é a q u i chegado que João de São Tomás la n ça fin a lm en te lu z sobre o mecanism o, a lógica das relações, que lhe vai p e rm itir d a r conta de todos os tipos de signos que já enum erou. A divisão entre relações reais e de razão só é encontrada nas relações segundo o ser, d iz. As relações segundo o ser podem então ser reais ou de razão, sendo que, n o caso de um a relação secundum esse real e fin ita nos encontram os perante um a relação categorial. O signo, com o bem se co n clu i da p róp ria definição, pertence à ordem do relativo. Mas não só. Preenche, além disso, todas as con dições p a ra ser relativo secundum esse, e é ao inseri-lo nesta categoria de seres cu ja essência é orientarem -se p a ra um term o, qu e João descobre um a fo rm a satisfatória de exp lica r o seu estatuto ontológico, sem com prom eter as posições gnosiológicas e m etafísicas que, com o bom tomista, perfilh a . Se nos relativos secundum esse se podem dar tanto relações reais com o relações de razão, então as relações segundo o ser são a estrutura ideal pa ra abranger tanto os signos naturais cóm o os.convencionais. Une-se assim num a mesma categoria as ordens opostas do que é real e do que é de razão, que é precisam ente a fo rm a com o, fu n cio n a n d o na sua vertente sign ifica tiva e com unicativa, os signos se entrelaçam com o m undo. É o fa c to de a ordem das relações secundum esse u n ir em si tanto o qüe é rea l com o o que é de razão, que vai p e rm itir a explicação cabal de todos os sistemas e tipos de signos, p orqu e signos há que constituem com os seus objectos relações reais, caso dos naturais; e ou tros relações de razão, caso dos con ven cion a is; mas todos são relações segundo o ser — isto é, a sua essência é serem p a ra outra coisa 11.1
11
N ão é inocente esta formulação joanina, qu e envolve opções políticas e
metafísicas de importância extrema. O que João de São Tomás faz ao dizer que os signos naturais estão unidos ao seu objecto por uma relação real (que nâo é denominação extrínseca e existe independentemente de ser apreendida) é tomar p osição na polêm ica
22
reales/nominales qu e abala
o seu tem po,
É p o r isso que as questões introdutórias do Tratado dos Signos se ocupam , em p rim e iro lugar, de saber se o signo pertence ã categoria da relação, e se essa relação é secundum esse ou secundum dici. A conclusão do dom inicano de que o signo é um a relação secundum esse p orqu e a sua essência é orientar-se e ser relação p a ra outra coisa, a qu ilo que representa, p erm itir-lb e-á d a r conta da existência de todos os tipos de signos, sem a bd icar de um a posiçã o realista nesta m atéria. D a í que, estabelecido o mecanismo, ]'ã se.possa a firm a r que a relação do signo n a tu ra l ao obfecto é necessariamente real, e não de razão, porqu e é fu n d a d a em algo real, proporção e conexão com 3 coisa represen tada----assim se e x p lica qu e a pega d a d o lobo represente antes o lobo que a ovelha— em bora depois a o representar à potência, objectificando-se, o signo estabeleça com ela um a relação de ra z ã o 12. Esta dupla relação do signo, ao referente e a o intelecto que conhece, oferece razão p a ra equívocos, d iz João de São Tomás, pois não poucos autores, ao verificarem que a apreensibilidade do signo é um a relação de razão Julgam que a p róp ria razão do signo é simplesmente um a relação de razão-, M as jã n a liga çã o dos signos convencionais ao objecto essa relação é, sem qu a lqu er dificuldade, de razão, fu n d a d a na "instituição p ú b lica - de um a convenção. A univocidade da relação que o signo estabelece entre p otên cia e objecto é a questão que ocupa o terceiro capítulo do Tratado dos Signos. Os signos externos também se relacionam à p otên cia com o ■objectos, e essa relação é idêntica ã que com ela estabelecem m uitos outros objectos que não são signos. O que se trata então de a p u ra r é se significativam ente, enquanto signo, essa relação é distinta daquela que estabelece com o referente, ou se, p o r hipótese, nos encontram os perante três relações: duas estabelecidas com o cognoscente — en quanto objecto e enquanto signo — e um a terceira relativam ente ao referente. A questão é subtil, pois a relação do signo à p otên cia é, com o já se viu, de razão, enquanto ao objecto sign ifica d o é real; ou
descortinando-lhe, à sua medida, uma solução. Note-se que o problema está longe de se encontrar resolvido, e ainda nos dias de hoje um semiólogo e medievalista tão conceituado como bm berto Eco opta, precisamente na questão da relação d o signo natural ao objecto, por uma posição nominalista, ao defender a impossibilidade de distinguir signos motivados de imotivados (v. Eco, Umberto, O Signo, 4.% ed., 1990, Editorial Presença, Lisboa, pp. 57 e segs.). 12 A realidade de tal relação tem fundas implicações gnosiológicas, já que nela reside a cognoscibilidade dos entes. -Para que alguma coisa em si própria seja cognoscível, não pode ser simples produto da razão; e que seja mais cognoscrvel relativamente a outra coisa, tornando-a representada, é também alguma coisa real n o caso dos signos naturais. Logo, a relação d o signo, nos signos naturais, é real-, afirma João de São Tomás.
23
(
____ s— <------- ^ A
então, são distintas as relações do signo pa ra um e ou tro term o, e esta plu ra lid a d e de relações na sua essência e x clu i-lo -ia da categoria de relação. João de São Tomãs resolve a d ificuldade considerando que essa relação é um a e a mesma, sendo que a relação ao referente toca -o directam ente, enquanto a potên cia é tocada indirectam ente. Se p otên cia e objecto significad o fossem considerados com o termos directam ente atingidos pela relação, isso exigiría necessariamente que ta l relação fosse distinta num term o e noutro, mas em ta l caso o signo referir-se-ia à potên cia com o objecto — o que, já vimos, tam bém su'cede— e não form alm ente com o signo. Tal conclusão— que a mesma relação a um term o é directa, a outro indirecta — prova-se p orqu e o signo d iz respeito ao seu significad o directam ente com o a qu ilo que deve ser representado ao cognoscente; enquanto ta l relação toca indirectam ente a potência, através de um a relação real, p orqu e ela é a q u ilo em qu e ta l objecto sign ifica d o ê representado. A mesma relação que atinge directam ente o objecto atinge indirectam ente a p otên cia enquanto o ser m anifestável à p otên cia está in clu íd o no p róp rio objecto 13. A relação do objecto com a p otên cia é de razão (n ã o existe antes da operação do intelecto), relação esta que, ocorrendo necessariamente no signo, não é todavia a relação que lhe é p ró p ria porqu e este p a r tilh a -a com todos os cognoscíveis que não são signos. Contudo, a relação do signo à potên cia é indirectam ente real, porqu e em bora este não lhe diga respeito (d irecta m en te) p o r um a relação real, ser m anifestável à p otên cia é, no objecto, algo de rea l (existe antes da operação do intelecto). D onde a relação do signo à potência, que ele
13 *E assim, como o objecto não é respeitado com o sendo alguma coisa de absolutamente em si, mas como manifestável à potência, necessariamente a própria potência é tocada obliquamente por aquela relação, a qual atinge o objecto não por subsistir nele precisamente como é em si, mas enquanto é manifestável à potência, e assim de alguma maneira a relação do signo atinge a potência na razão de alguma coisa manifestável a outro [...]. Pois com o um objecto diz respeito à potência é uma coisa, outra bem diferente é o que, num objecto, é ser manifestável à potência. Ser manifestável e objectificável é alguma coisa de real, e é aquilo de que depende a potência e pelo qual é especificada; antes, é porque um objecto é assim real que não depende da potência por uma relação real. Donde, como o signo, sob a formalidade d o signo, não diz respeito à potência directamente — pois isto é a formalidade do objecto — mas diz respeito à coisa significável ou manifestável ã potência, assim a potência enquanto indirectamente inclusa naquele objecto manifestável é atingida p or uma relação de signo real
relação essa que nada mais é que o facto de o objecto lhe
ser realmente manifestável, embora a própria manifestação em acto — que é feita enquanto este assume a forma de um objecto — deva necessariamente revestir-se da forma de uma relação de razão.
24
a tin g e in d irecta m en te, é real, em bora a sua apreensibilidade, ehquanto objecto, que já constitui um a outra relação, seja de razão. Pa ra responder â questão, se o acto de s ig n ifica r — constituído pela condução ou exibiçã o do objecto à p otên cia — pertence ã ordem da causalidade eficiente, João de São Tomás distingue três elementos inerentes ao acto de representar ou significar: a prod u çã o de espécies ou im agens das qualidades sensíveis do objecto extrín seco que estim ulam o cognoscente; o estím ulo da potên cia p a ra qu e receba a espécie — e este é um m om ento a n terior ã p róp ria recepção; e p o r ú ltim o o concurso do signo com a p otên cia p a ra p ro d u z ir um a apercepção. É neste ú ltim o pon to que a questão se com plica, p ois João de São Tom ãs preten d e a verig u a r se o a cto de s ig n ific a r — a representação do objecto ã p o tê n cia — que ele adm ite ter uma causa eficiente, provém eficientem ente do signo. A descoberta do dom inicano sobre este p on to é não ser o signo causa eficiente da significação, pois s ig n ifica r não é p ro d u z ir um efeito, e isto p o r três ordens de razões: S. Tomás aponta com o causa eficiente do conhecim ento a próp ria ra zã o ou in telecto do cognoscente; os objectos, enqu a n to form a s extrínsecas, não produzem eficientem ente conhecim ento, antes as suas espécies são impressas na potência p o r um a outra causa eficiente; e o signo instrum ental, p o r d efin içã o, fu n c io n a com o instrum ento su bstitu in te do objecto, n ã o um in stru m en to eficie n te . 0 sign o representa um referente à m aneira de um objecto, donde a emissão de espécies, ta l com o no objecto, não ê causada eficientem ente pelo signo, mas objectivam ente, isto ê, en qu a n to se destinam a ser conhecidas. O mesmo argum ento é válido pa ra o signo fo rm a l- esta qualidade de signos representa não eficientem ente, mas a p a rtir de s i objectivam ente, ta l com o sucede nos instrum entais. Representar, ou significar, que é o que convém ao signo enquanto signo, é simplesmente substituir um objecto e to m á -lo presente ã potên cia cognoscente, e isto não é fe ito prod u zin d o efeitos p o r pa rte d o signo, em bora m uitas outras causas que não oriundas do signo con corra m eficientem ente pa ra p ro d u z ir a representação: a que im prim e eficientem ente espécies, a p otên cia que p ro d u z a apercepção... O Livro Ie n ce rra questionando-se se os anim ais irra cio n a is (bruta) e os sentidos externos u tiliza m signos p a ra atingirem as realidades p o r eles significadas. João de São Tomás exclui, eviclentemente, os signos linguísticos e toda a actividade que exija o discurso ou o ra c io c ín io . O qu e p reten d e saber é se sem o d iscu rso e sem a com paração è colação pode o co rre r a utiliza çã o de signos e do seu m odo p róp rio de significar, con clu in d o que os anim ais irra cion a is são capazes de u tiliz a r signos, tanto naturais com a consuetudinários, e fa zem -n o am iúde. É qu e os anim ais recordam , de beneficies ou
25
( 9
4
danos passados, a oportunid ad e ou n ã o de prosseguirem certas a c tividades, e isso épassar de um signo, p o r exem plo o dano, â coisa que o p ro v o c o u ; têm ca p a cid a d e p a ra se e x p rim ir u tiliz a n d o sign os n a tu ra is ; e p od em a in d a a p reen d er certos tip os de sign os c o n suetud inários— há a n im a is que são disciplináveis e podem , m ediante instruções, habituar-se a desenvolver ou e v ita r determ inadas a ctividades14. Q u a n to à segunda p a rte da questão, a resposta é tam bém a firm a tiva : os sentidos externos, tanto dos hom ens com o dos anim ais, u tiliz a m signos instrum entais e são capazes de op era r com diferentes fo rm a s de sign ifica çã o.
/
N o resum o e apanhado g e ra l qu e se segue a todos os capítulos, João de São Tomás insiste fu n d a m en ta lm en te na im p ortâ n cia da d e fin içã o de signo, nas cond ições requeridas p a ra que algu m a coisa seja signo, e com o d is tin g u ir entre um signo e outros m anifestativos que n ã o o são — caso d a im agem , da lu z qu e m anifesta as cores ou do objecto que se m anifesta a si m esm o: é que o signo é sempre in fe rio r ao que designa, p o rq u e n o caso de ser ig u a l o u su p erior d estru iría a 'essência d o signo. E p o r esta ra zã o que Deus não é sign o das criaturas,
i K, r
em bora as represente, e um a ovelha n u n ca é signo de ou tra ovelha, em bora possa ser sua im agem . Assim , as con d ições necessárias p a ra qu e a lg o seja signo são a existência de u m a rela çã o p a ra o objecto. en qu a n to a lgo que é d istin to de si e m anifestável à p o tê n cia ; é a in d a necessário que o signo se revista da natureza do representativo; deverá tam bém ser m ais con h ecid o que o objecto em rela çã o ao su jeito que o apreende; e a in d a in fe rio r, m ais im perfeito, e distinto, qu e a coisa que sign ifica . O L iv ro II, ou Quaestio XXI, tra ta não já da n a tu reza d o sign o mas das suas divisões. Temas fu n d a m en ta is dos seis a rtig os q u e constituem a Quaestio são a adequabilidade da divisão d o sign o em fo rm a l e instrum ental; se os conceitos, as espécies impressas e o p ró p rio a cto de co n h e ce r p erten cem à ca tegoria dos signos fo rm a is ; se é
14
A experiência quotidiana também ensina q u e os animais p o d e m ser
influenciados p o r signos, «naturais — com o os gem idos, o b alido d a ovelha, o canto da ave — com o consuetudinários, com o sucede, p o r exem plo, qu an d o o cão, cham ado p elo nome, é m ovido p elo costume, em bora nào inteleccione a im posição
Para além disto, digo, vem os que um animal irracional, ao ver
uma coisa, tende para outra distinta, assim com o q u an d o a o perceber um odor [de caça, por exem plo] prossegue alguma via (...] o u ouvindo o rugido d o leão treme e foge, e seiscentas outras coisas nas quais não responde dentro dos limites d o qu e percebe pelos sentidos exteriores, mas p elo q u e p ercebe dos sentidos externos é conduzido para outro. O que, claramente, é utilizar um signo, ou seja, a representação de uma coisa n ão só p o r si, mas p or outra coisa distinta d e si» (João d e São Tomás, in Tratado dos Signos).
26
a p ro p ria d a a d ivisã o dos sign os em n a tu ra is, c o n v e n cio n a is e consuetudinários; e se o signo con su etu d in ã rio é verdadeiram ente um signo, o u pod e reduzir-se à ca tegoria dos convencionais. Sobre a divisão dos signos, d a perspectiva d o cognoscente, em fo rm a is e instrum entais, a questão qu e se coloca é a de saber se os signos fo rm a is são verdadeiram ente signos, ou, p o r outras palavras, de qu e m odo se revestem estes das condições necessárias a o signo, nom eadam ente, co n d u z ir a p o tê n cia p a ra um referente e ser m ais im perfeito que a coisa significada. A dificuldade, nestep on to, agud iza-se p o rq u e exige, sem dúvida, fin a s distinções, tais com o e x p lica r de que fo rm a o signo fo rm a l, qu e é in te rio r ao cognoscente e a m a ioria das vezes n ã o é sequer apreendido conscientem ente, é m eio con d u tor p a ra o objecto. S. Tomás explica que o médium in quo d a cogn içã o, ou seja, o objecto no qu a l ou tra coisa é vista, p od e ser ta n to um a coisa m a teria l e x te rio r à p otên cia , com o algo fo rm a l e in trín seco à p o tê n cia — caso da espécie expressa ou pa la vra m ental. D a í qu e o sig n o fo r m a l deva verd a d eira m en te s e r sign o, em bora d ifira do in stru m en ta l n o m odo de representar e sig n ifica r. É evid en te, de resto, qu e os sign os fo rm a is d iferem dos in s trum entais, p o is n ã o se m ostram à m aneira de um ob jecto e x trín seco n o q u a l ou tra coisa é conhecida, mas com o cond uzem à cognição de o u tro — e record e-se q u e o co n ce ito é d is tin to d o a c tc de con h ecer — revestem-se todavia da «ra zã o de signo», a in d a que só form a lm en te, p o is o signo fo rm a l n ã o existe nem estim ula a cogn içã o fo r a da p otên cia . Sendo sim ultâneo o m ovim ento de apreensão do objecto com a apreensão do conceito, o sujeito n ã o terá con sciên cia de q u e se en con tra p era n te duas operações, e é p o r esta ra zã o qu e o signo fo rm a l n ã o representa com o um objecto p rim e iro conhecid o qu e co n d u z a outro, mas essas duas cogniçoes distintas, do p o n to de vista de quem apreende, fu n d em -se num a s ó — é o q u e Joã o de São Tomás q u e r d iz e r qu a n d o refera qu e o con h ecim en to p rop orcion a d o p e lo signo fo rm a l «n ã o acrescenta n u m erica m en te ã cogn içã o*>15.
15
«E assim, quanto ao m od o d e conhecer, com maior propriedade se encontra
a razão d o signo no signo externo e instrumental, enquanto o acto de conduzir' d e uma coisa para outra é mais manifestamente exercido qu an d o d u a s cognições existem, uma d o signo, outra do objecto, q u e quan do existe apenas uma única cognição, caso qu e sucede n o signo formal. [...] D onde, su cede q u e para salvar a propriedade d o signo basta q u e este seja pré-conhecido, o que o signo formal alcança não porq ue seja conhecido com o objecto, mas com o razão e forma pela
qual o objecto é tom ado conhecido n o interior da potência, e assim ê pré-conhecido formalmente, n ào denomina tivamente e com o coisa conhecida* (João d e Sào Tomás, in Tratado dos Szgjios').
21
A questão seguinte é da m á xim a im portâ n cia . Prende-se com a tentativa de a p u ra r se o con ceito ou espécie expressa ê, ou não, um signo fo rm a l. A con clu sã o d o d om in ica n o é qu e a espécie expressa é, p o r excelência, um signo fo rm a l. In stru m en ta l é evidente qu e n ã o p o d e rá ser, p o is em nad a se assem elha a u m ob je cto p rim e iro con h ecid o que co n d u z a ou tro; é, isso sim, term o da in telecçã o qu e to m a a coisa conhecid a. A segunda conclusão de João de São Tomás é que a espécie sensível expressa, nas p otên cia s sensíveis fu n cio n a , em rela çã o a essas potências, com o um signo fo rm a l, e isto q u e r tais espécies sejam p rod u zid a s pelas potências, q u e r se devam a a lgum a causa extrínseca, com o u m a n jo ou um d em ôn io . D iferen te é o caso da espécie impressa — im agem das qualidades sensíveis do objecto qu e fa z as suas vezes u n in d o-se à p o tê n cia p a ra p ro d u z ir a co g n içã o — a qual, defenderá, n ã o é sign o fo rm a l. A n ega çã o da q u a lid a d e de s ig n o fo r m a l à espécie im pressa é defendida com base no seguinte argum ento: o signo é algum a coisa conhecida, que tom a , através de si, um a ou tra coisa conhecid a. Posta a questão nestes termos, resta apenas p ro v a r qu e a espécie impressa n ã o se enquad ra nesta d efin içã o, p o rq u e é apenas um p rin c íp io p e lo q u a l a p otên cia conhece — não é nem objecto, nem term o da cognição. É que a espécie impressa não pod e representar ou m anifestar à p otên cia — isso será fe ito p e la espécie expressa — p o rq u e representar supõe a cogn içã o, e a espécie impressa con stitu i um m om ento a n te rio r: é p rin c íp io da cogn içã o, con corren d o com outros p a ra a p ro d u z ir. A questão d e saber se o a cto de con h ecer; ou seja, a p ró p ria operação de in teleccion a r, qu e se distingue do objecto con h ecid o e das espécies impressas e expressas, perten ce à ca tegoria dos signos fo rm a is ocupa tam bém o d om in ica n o. A resposta é, m ais um a vez, negativa: nenhum a cto de in telecçã o é signo fo rm a l. Ê que o sign o deve ser representativo de outra coisa distinta de si, en qu a n to o a cto de in te le ccio n a r é um a operação que tende p a ra o objecto, m as nada representa.1 6
16
«Tais imagens o u ícones sâo signos formais, porque não conduzem a
potência nem lhe representam o objecto a partir de' um a oiitra cognição d e si pré-existente, m as c o n d u ze m
im ediatam ente p ara
os p ró p rio s ob jectos
representados, p orq ue estas potências sensitivas n ão p od em reflectir sobre elas próprias e sobre as formas expressas que têm. Logo, sem estas espécies expressas sendo conhecidas pelas potências sensitivas, as coisas são tomadas imediatamente representadas às potências; logo, esta representação é feita formalmente e não instrumentalmente, nem de alguma cognição anterior da imagem o u ícone* (João d e São Tomás, in Tratado dos Signos).
28
Um signo con su etu d in ã rio — aquele que sign ifica p o r um costum e am iúd e repetido mas q u e não resulta de um a im posição p ú b lica — sign ifica n a tu ra l ou con ven cion a lm en te? A esta questão João de São Tom ás responderá qu e se o costum e é causa do sign o, então ta l signo será con ven cion a l; mas se o costum e é efeito, expressa ape nas um tipo de uso, uso esse que co n s titu i a coisa com o signo, e en tã o o fu n d a m e n to do s ig n o co n s u e tu d in ã rio será n a tu ra l. O sign o con su etu d in ã rio tem, assim, capacidade p a ra u n ir em s i estas duas ordens, a do c o n v e n c io n a l e a d o n a tu ra l, d epen dendo da perspectiva em q u e f o r tom ad o: co m o efeito o u com o causa 17. N o L ivro I I I João de São Tomás dedica-se, em qu a tro questões, a a cla ra r o estatuto das apercepções e conceitos. E o p rim e iro problem a que o ocupa é o d e saber se as apercepções de um a coisa presente (in tu itiv a ) e ausente (a b stra ctiva ) são distintas. A apercepçâo in tu itiva exige a presença rea l e fís ic a da coisa apercebida, nã o apenas a in ten cion a l, devendo o seu objecto encontrar-se extra videntem; assim, a fo im a m ais com um e adequada de d is tin g u ir en tre a apercepçâo in tu itiv a e a abstractiva é, precisam ente, a qu e considera o term o da cogn içã o com o ausente ou presente. O d o m in ica n o c o n c lu i depois que in tu itiv o e abstractivo origin a m diferentes tipos de apercepçâo acidentalm ente, isto é, p o r o u tro e p o r razão d a q u ilo ao q u a l estão ju n ta s » pois o con h ecim en to da visão ou a percepçâ o in tu itiv a a crescen ta sobre a a p ercep çâ o sim ples ou abstractiva algum a coisa que está fo r a da ordem da apercepçâo, nom eadam ente a existência d a coisa. Logo, São Tom ás sente qu e as razões da a p ercep çâ o in tu itiv a e da a bstra ctiva n ã o expressam diferenças essenciais e intrínsecas, p o rq u e estas razões n ã o estão fo ra da ord em d a apercepçâo, m as p e rte n ce m à p ró p ria ord em d o cognosctvel. M as acrescentar algum a coisa que está fo r a do sujeito q u e vê e fo ra da p ró p ria ordem da cogn içã o, é a crescen ta r algum a coisa a cid e n ta l e extrínseca». D e resto, o in tu itiv o e o abstractivo não consistem sim plesm ente na m era d en om in a çã o extrínseca, defende João de São Tomás, m as são algum a coisa in trín s e ca à p ró p ria
17
«Nem é inconveniente que dois m odos d e significar convenham à mesma
coisa segundo formalidades distintas. D onde, quan do um m od o d e significar é removido, ou outro permanece, e assim o m esmo signo nunca é natural e convencional forma Imente, em bora materialmente seja o m esm o, isto é, a significação natural e convencional convenham n o mesmo sujeito» (João d e São Tomás, in Tratado dos Signos).
29
apercepção, d eform a que quando estas cogniçõespassam de intuitivas a abstractivas dá-se nelas um a m od ificação real. A questão seguinte trata de apu ra r se pod e existir nos sentidos externos um conhecim ento in tu itivo de coisas fisica m en te ausentes, ou seja, se pode ocorrer a í um a apercepção abstractiva. M uitos autores acreditam que pa ra a apercepção in tu itiva apenas ê requerida a presença objectiva da coisa, isto é, basta que a coisa seja conhecida, não se exigind o a sua coexistência fís ica com o próprrio acto de a con h ecer, d onde ê evid ente que, p a ra quem assum e tais p o s i ções, pod erá ocorrer um a apercepção in tu itiva da coisa fisica m en te ausente. Esta não é a posição de João de São Tomás, p a ra quem a resposta ã questão é, evidentemente, n e g a tiv a a apercepção in tu itiva exige não só a presença objectiva (en qu a n to con h ecid a ) d o objecto, mas tam bém a sua presença fís ica . P o r razões semelhantes, também nos sentidos externos é im possível en con tra r apercepções de coisas fisica m en te ausentes. Saber se os conceitos reflexivos (aqueles pelos quais o hom em conhece.que conhece — o seu objecto é o p ró p rio acto cogn itivo da p o tê n cia ) e os conceitos directos (aqueles pelos quais se conhece algum objecto, sem reflectir sobre o p ró p rio acto de con h ecer) se distinguem . realm ente e, caso a resposta seja afirm ativa, q u a l é a causa da diferença entre eles, ê o problem a que a seguir ocupa João de São Tomás. O dom in ica n o defende que as potências intelectivas, mas não as sensitivas, podem reflectir sobre elas próprias, pois com o o intelecto d iz resjpeito universalm ente a todos os seres, tam bém dirá, forçosa mente, respeito a s i próprrio. O p rim e iro objecto dos actos de inlelecção hum anos são as coisas m ateriais extrínsecas, é isso que é p rim eira m en te con h ecid o p elo homem, enquanto o p ró p rio acto de conhecer um sensível extrínseco é apreendido secundariamente, sendo que *através do acto é conhecido o prróprio intelecto do qu a l o próprrio acto de inteleccionar é a perfeição-. Tal sucede porque, em bora os conceitos e a cogn içã o estejam presentes em todo o m om ento na potência, contudo, essa ptresença, a que João de São Tomás cham a f o r m a ln ã o basta p a ra que sejam conhecidos directam enle, porqu e pa ra que pudessem ser conhecidos directam ente precisariam de cu m p rir todas as condições de objecto da p otên cia e essas, já o vimos, são ser algo m aterial e extrínseco, cond ição que o con ceito e o acto de conhecer não preenchem . Assim, p a ra serem conhecidos, exigem reflexão, que pode ocorrer p o r regressão quando um objecto m aterial é conhecido, regressão essa que passa do conceito, ao acto de conhecer, à espécie desse; conceito, até se a tin g ir a p róp ria
essência da alm a 18. Este processo de regressão, que pa rte da coisa m aterial e pode, eventualm ente, a tin g ir a essência ou natureza da alma, é, d iz o dom inicano, tom ado de S. Tomás de A qu in o, e é ele que dá origem ao nom e de •con ceito reflexivo». A d istin çã o entre con ceito u ltim ad o e não ultim ado pod e ser encarada de dois pontos de vista. Em geral, diz-se u ltim ad o um conceito que seja termo, isto é, a qu ilo em que cessa a cognição, onde esta subsiste e se m antém , e não ultim ado o con ceito através do qu a l a cognição tende pa ra um term o; adaptando um a perspectiva diversa — a dos dialécticos — e designando exactam ente o mesmo objecto, cbam a-se co n ce ito u ltim a d o ã quele que versa sobre as coisas significadas (q u e são term o) e não ultim ado ao que se debruça sobre as próprias expressões ou palavras significantes. D e resto, a diferença entre ultim ado e não ultim ado é m eram ente form a l, já que não nos encontram os perante um a distinção essencial entre os dois conceitos, mas perante um a diferença a que João de São Tomás cham a -pressupositiva-, um a vez que se tom a não da próp ria natureza dos conceitos, mas dos objectos acerca dos quais versam, que, esses sim, são distintos, sendo um a coisa presente in re e outro as palavras destinadas a exprim i-la. A té a qu i, as distinções são bastante simples. As d ificu ld a d es com eçam a su rg ir quando se trata de apurar se um conceito não ultim ado da voz, ou seja, uma expressão linguística, representa apenas a p róp ria expressão, ou se representa tanto a expressão com o o seu significado, significado esse que, temos de supô-lo, é distinto da própria coisa sign ifica d a , caso em qu e estaríam os p e ra n te um co n ce ito ultim ado. Em p rin cíp io , d iz João de São Tomás, a significação terã, de algum modo, de ser envolvida no con ceito não ultim ado, p orqu e *se a voz é nuam ente considerada com o um certo som fe ito p o r um anim al, é evidente que pertence a um conceito ultim ado, p o r deste modo ser considerada com o sendo um tipo de coisa, isto é, do m odo com o a Filosofia trata aquele som -. E este será o p on to de vista defendido pelo
18
«E assim os nossos conceitos, embora sejam inteligíveis segundo eles /
próprios, contudo nâo são inteligíveis segundo eles próprios a o m odo de uma 1 essência material, e, logo, não são primariamente e direccamente presentes C objectivamente, excepto quando são recebidos ao modo de uma essência sensível, m odo que, sem excepção, deve ser recebido de um objecto sensível. E porque recebem isto, no interior da potência, a partir de um objecto sensível directamente conhecido, são ditos serem conhecidos reflexivamente, e serem tom ados inteligíveis pela inteligibilidade de um ente material- (João de São Tomás, in Tratado dos Signos).
31
mestre lisbonense na derradeira questão do Tratado dos Signos, que a significação está e é representada no conceito não ultim ado, em bora o cognoscente não necessite de a tin g ir a con ven cion a lid a d e da s ig n ifica çã o , a -rela çã o de im posição-, mas baste qu e lhe seja representado que tal significação existe. É o que sucede n o caso de um hom em ouvindo um a expressão cujo significado não compreende, sabendo, todavia, que ta l significado existe. A explanação da gn osiologia joa n in a , profundam ente enraizada n a d ou trin a tom ista a este respeito, é fe ita p elo d om in ica n o nos livros D e Anima do Curso Filosófico, e não difere em nada da posição que se esperaria de um representante da Segunda Escolástica. Em termos ontolõgicos, a opção de João de São Tomás é m arcadam ente rea lista: os seres existem e oferecem -se ao hom em pa ra que possam ser pensados — é porqu e existem realm ente que podem ser in teleccionados, fund and o-se a q u i a im portância de conceber relações reais e independentes do cognoscente n o signo natural, pois um n om inalista tudo red uziría a relações de razão. Para os medievais, -nada há n o intelecto que não tenha estado p rim eiro•nos sentidos-. D a í que o intelecto só possa conceber Deus e a alm a conotativam ente com os sensíveis; ta l com o só pod e conhecer a p róp ria actividade do intelecto através do con ceito reflexivo (qu e. tem precisam ente a fu n çã o de a •con ota r com os sensíveis-). Com o o hom em ê um a alm a estrita e essencialmente unida a um a realidade m aterial, o seu corpo, só pode conhecer a essência das coisas rece bendo-a dos sensíveis e depurando-a, através de um processo de abstracção, dos aspectos m ateriais do objecto. O instrum ento p a ra co n h e ce r a n a tu reza das coisas sensíveis são as espécies, que representam pa ra os sentidos o que hã de fo rm a l nos objectos. A espécie é o objecto, só que despojado da sua m aterialidade física . É através das espécies impressas e expressas, e p o r um processo de progressiva abstracção, que o hom em acede ao m undo m aterial. Todo o conhecim ento se in icia com a espécie impressa, que éproporcionad a ou im p rim id a nos sentidos externos. O hom em recebe então nos sentidos as espécies impressas, que representam o objecto despido das suas condições m ateriais mas ainda claram ente individualizado. Estas espécies serão trabalhadas pelo intelecto agente ou activo, um a das faculdades da alm a, que as depura transform ando-as em espécies expressas, isto é, prod u zin d o o conceito, que é signo form a l, através do qu a l o homem conhece. A espécie expressa é depois trabalhada p elo intelecto passivo, produzindo-se, da sua con ju n çã o ou apro pria çã o, o conhecim ento. E a espécie impressa, que se oferece aos sentidos externos, que, ao ser trabalhada pelo intelecto agente, se transform a em espécie expressa
32
ou conceito, este sim, já apto a ser recebido pelo sentido interno e trabalhado pelo entendim ento. João de São Tomás já p rovou que tal conceito é signo form a l, in te rio r ao cognoscente, porqu e é um m eio que representa o objecto à p o tê n cia cogn itiva . Çpm o apenas e exclusivam ente p o r in term éd io da espécie expressa o m u n d o é proporcionad o ao homem, sem esta ele seria com o um a mónada sem janelas, um organism o fu n cio n a n d o em absoluta clausura e in ca pa z de constituir, rudim entar quefosse, qualquer imagem do m undo. P o r isso podem os d izer que João de São Tomás id entifica toda a vida m ental com processos semiôticos, ou, estendendo a m áxim a Escolãstica, nada está no intelecto què não tenba estado p rim eiro nos sentidos e não tenha sido subm etido a estruturas sem ióticas m ediadoras que possibilitam a consciência e a m odelizaçâo do m undo. São, portanto, os signos veículo ú n ico e fu n d a m en ta l de condução do extram ental à alm a, e de a p ró p ria alm a se in teleccion a r a si inteleccionando. A investigação sem iótica de João de São Tomás, ou in q u iriçã o da natureza e essência dos signos, constitui-se com o um program a perfeitam ente m oderno e com pleto, dando con ta em sim ultâneo, e depois de estabelecer convenientem ente o estatuto antológico dos signos, dos processos de com unicação, significação e constituição de um a im agem do mundo. Para tal, João irá estudaras relações entre os signos e os seus intérpretes (relações sim ultaneam ente secundum dici e de ra zã o); entre os signos em g e ra l e o que estes designam ( relações secundum esse); e ainda entre os próprios signos entre si. Desta lógica das relações que elabora, u tiliza n d o p a ra o efeito proposições prim itiva s ou signos isolados, se pod e p a rtir p a ra o estudo da Lógica propriam ente dita, que se debruça sobre as linguagens e os ra ciocín ios, com plexos sígnicos elaborados que obedecem ãs mesmas regras que qu a lqu er veículo sígnico encarado isoladamente. Em term os de concepção, o Tratado dos Signos destina-se a ex p lic ita r e desvelar, u tiliza n d o esta lógica das relações, a peculiaridade dos fenôm enos perceptivos, a sua ligação com a estrutura antológica do m undo, e a m aneira com o é possível tra d u zi-la e plasm á-la em form a s expressivas palpáveis e, m ais im portante ainda, com unicáveis a outrem . Nesta m aterialização do m undo objecttvo n o intersubjectivo ra d ica a possibilid ad e de con stitu içã o d e todas as estruturas e elementos trans-subjectivos qu e norm alm ente são identificados com cultura. D e resto, é preciso não esquecer que este esquema sem iõtico proposto pelo dom inicano perm ite transcender o d om ín io da percepção a ctu a l através da indiferença ãpresença ou ausência do objecto, ou seja, entre o in tu itivo e abstractivo, já que o prod uto destas duas operações, a ind a que clistinguido em virtude do tip o de objecto, será essencialmente o mesmo: conceitos que, num caso com o n o outro,
33
serão essencialmente idênticos. João de São Tomás explica que o signo conserva integralmente a sua capacidade defu n cio n a r mesmo nestas situações-lim ite, pois desaparecido o objecto, d iz, perm anece a imposição, no caso dos signos convencionais, ou a conexão, no caso dos signos naturais, «virtualm ente« ou fundam entalm ente». A existência de um mundo objectivo, povoado de entes reais que são autonom am ente — dependem não do homem mas de um acto cria d or de Deus— e se relacionam independentemente das humanas operações de apreensão, é assumida, ao longo de todo o Tratado dos Signos, com o fa cto inquestionável. Para João de São Tomás, com o bom tom ista, o m undo dos entes reais não oferece qu a lq u er problem aticidade ontológica; existe, simplesmente, em virtude de um acto cria d or de Deus; mas o homem só pode aceder-lhe através de uma com plexa abstracção que se reduz, no ponto em que o mundo penetra a alma, à mediação sígnica — omnia instrumenta quibus ad cognoscendum et loquendum utimur. O m undo objectivo, aquele onde pululam ens reale, só é acessível, pelo menos para o homem, com o ens rationis, isto é, objectivamente, através de um a percepção mediada p o r signos. Como tal mundo só é dado ao homem objectivamente — através da cognição — , esta é impreterivelm ente mediada p o r signos form ais-instrum entais, naturais, convencionais e consuetudinários que delimitam, pelas suasform as próprias, a estrutura do que é apercebido, num a ordem tendencialm ente ca pa z de o rig in a r progresso — pela possibilidade de evolução da ordem da significa ção — , mas que, no seu esquema básico, é em termos humanos incontom ãvel e inescapãvel. Toda a arquitectura do Tractatus se orienta num a tentativa de, perm anecendo fidelissim am ente discípulo de São Tomás, explicar e fundam entar, através de um m ecanism o preciso e fu n cio n a l, a totalidade dos processos de significação. João concede um estatuto claro a estesfenôm enos, salvando o realismo e a cognoscibilidade dos entes. O Tractatus é central a toda a Ars Logicae devido precisamente a este seu papelfundador, pois trata de um tema an terior a todas as restantes operações da lógica, que dele passarão a depender. A n a b e ia G radim A lves
TRATADO DOS SIGNOS João
de
São T omãs
TRACTATUS DE SIGNIS IONNIS A SaNCTO THOMMA
P R E F A C IO
A o Leitor, Parece-nos inütil para os amantes da brevidade difundir um prefácio moroso, pois nas próprias palavras d o Espírito Santo isto é antecipadamente condenado: «É estulto estender-se para lá d o devido no prefácio da história e restringir a própria história.» Logo, para não entediar e onerar o leitor no .próprio limiar que iniciamos., somente advirto acerca das coisas que o pro pósito d o nosso estudo colige, pois seguindo S. Tomás adoptamos um m étodo breve e conciso a favor da força da lógica e da filosofia. Desta forma, nào somente me parece por bem dele seguir a solidez e imitar a doutrina, mas também emular a sua ordem, brevidade e modéstia. Para que o s seus m étodo e ordem sejam seguidos, dividi a obra da Lógica em duas partes. A primeira com preende as disputas dialécticas, que são chamadas Súmulas, e versa sobre a lógica formal. A segunda é sobre os predicáreis, categorias, e A n a lítico s Posteriores; e trata dos instrumentos lógicos da parte da matéria e posterior resolução, com o abundantemente mostraremos no início destes livros. Para imitarmos a brevidade de S. Tomás, curamos de afastara floresta de imensas questões inextricáveis e sofismas espinhosos, que nào são d e qual quer utilidade, oneram a mente dos ouvintes, e nào poucos prejuízos causaram no passado. Quanto a estas dificuldades metafísicas e outras dos livros D a A lm a. que o ardor das disputas levou a introduzir no início dos livros das Súmulas, levei-as para local próprio, e desenvolvem os na Lógica, acerca do D e In terp reta tion e, um tratado sobre os signos e as apercepções. O que quer que eu tenha rem etido para a segunda parte da Lógica, da discussão d o termo ou outro tema das Súmulas, no m esm o local também o anotamos. Contudo, não pude evadir-me da discussão de todas as dificuldades, mas tomei na primeira pane algumas das mais importantes e necessárias questões
q u e con du zem à com preensão, p o r estudantes e professores, das questões lógicas. Cura portanto, leitor, para que, visto algum capítulo d o texto, aquelas dificuldades correspondentes sejam inquiridas nas questões, pois assim todas as dificuldades q u e ocorram p o d e rã o ser mais facilm ente p ercebidas e ultrapassadas. Finalmente, p ara reforçar a modéstia — u m a das mais gratas entre as angélicas virtudes d o Santo D outor — sobre a brevidade adoptéi a política d e m e abster d e citações prolixas e publicação d e nom es, referindo-nos, favoravelm ente ou não, às posições dos vários autores, pois n ão publico este trabalho para com bater o u prom over os partidários d e rivalidades, mas para servir a inquirição da verdade, q u e diz respeito â doutrina e n ão a pessoas. E isto faço para qu e os ouvintes m elhor disponham os, pois neles a doutrina é mais facilmente instilada qu an d o é estudada não tanto em termos d e discussões d e autores e autoridade, com o q u an d o é estudada som ente em termos d e luta p ela verdade. Q u e possas alcançar mais d o que multiplicado rendimento, humaníssimo leitor, atingindo isto, é o desejo desta rica e afectuosa pena. Até breve.
Alcalá, Espanha, 1631.
P R Ó L O G O A T O D A A D IA L É C T IC A EM D O IS PR E LÚ D IO S
PRIMEIRO PRELÚDIO
QUE PROPÕE O EXERCÍCIO E A PRÁTICA DA DISPUTA DIALÉCTICA
N o próprio início da arte dialéctiea, a qual modestamente em preendemos explicar, pareceu-nos melhor propor aos principiantes a forma e os modos do próprio exercício e da prática da arte'dialéctiea, que assim brevemente pode ser explicada. Em qualquer disputa cure primeiro o arguente de estabelecer e propor o argumento, totalmente reduzido à forma, isto ê, amputado seja de palavras ambíguas seja de declarações longas, propondo su cinta e dístintamente um silogismo ou entimema. E o silogismo con tém três proposições, que são ditas maior, menor e conclusão ou consequente, ligadas por uma marca de ilação, que é a partícula •logo»; a própria conexão, contudo, é chamada ilação ou consequência. O entimema contém duas proposições, das quais a primeira é chamada antecedente e a segunda consequente, também d o mesmo modo conexas. Por exemplo, querendo provar que a vida voluptuosa não deve ser abraçada, form o assim o silogismo; «Tudo o que se opõe à probidade da virtude não deve ser abraçado; a vida voluptuosa opõe-se à probidade da virtude, logo, não deve ser abraçada.» Ou, se quero formar um entimema de antecedente e consequente, assim formo; «A vida voluptuosa opõe-se à arduidade da virtude, logo, não deve ser abraçada.»
39
" » f) f‘
ei
Ouvida a formulação do argumento, o que defende a nenhuma outra coisa deve atender senão a íntegra e fielmente retomar o argumento proposto. E entretanto, enquanto resume o argumento, deve examinar cuidadosamente se alguma premissa é verdadeira, para que seja concedida; ou falsa, para que seja negada; ou dúbia e equí voca, para que seja distinguida. D o mesmo modo, deve examinar -se se a consequência ou ilação é boa ou má. Resumido uma vez o argumento, e nada àquele respondendo, em segundo lugar, repete-o, e às proposições singulares responde nesta ordem. Se forem três proposições, e a primeira lhe parecer ser verdadeira, diga: «Concedo a maior.» Se lhe parecer ser falsa, diga: «Nego a maior.» Se lhe parecer não ser pertinente à conclusão inferida, diga: «Passe a maior»; embora esta forma deva ser usada com modéstia e parcimônia, e a não ser que claramente esteja seguro de que a proposição não é pertinente. Se lhe parecer que a maior é dúbia ou equívoca, diga: «Distingo a maior», e acerca do termo no qual está o equívoco, faça a distinção por palavras breves, e não confusas. Mas dada a distinção, não deve logo explicá-la, a não ser que o oponente lho peça, ou não tenha sido claramente exposta; então d e v e explicá-la o mais brevemente possível. Em especial no início da disputa, não deve consumir tempo explicando as distinções, mas nunca deve partir da própria forma do seu argumento. Concedida a maior, ou explicada sob distinção, d eve proceder para a menor, observando o mesmo método ao negar, conceder ou distinguir, tal como dissemos da maior. Então, chegando à conclusão, se é concedida, diga: «Concedo a con sequência»; se é negada diga: «Nego a consequência.» Contudo, se a conclusão é distinguida, não diga: «Distingo a consequência», mas «distingo o consequente». Com efeito, como a consequência consiste na própria ilação, não numa asserção de verdade, pode ser boa ou má a ilação, e assim pode ser concedida ou negada com o boa ou má, mas não distinguida, porque a distinção cai sobre o equívoco ou ambiguidade da proposição, enquanto tem diversos sentidos ao significar a verdade, não sobre a própria conveniência da ilação. Contudo, o próprio consequente é a proposição ilacionada, que pode ser certa ou equívoca ou ambígua, donde quando é equívoca distingue-se, e assim não se diz «distingo a consequência» mas «distingo o consequente». Se contudo o consequente é negado ou concedido, porque isto não pode ser feito sem conceder ou negar a própria consequência, basta dizer «nego» ou «concedo» a consequência, não o consequente. Feita a distinção sobre alguma proposição, todas as vezes que ocorra o mesmo equívoco deve ser aplicada a mesma distinção. Não subdistinga o sentido de uma distinção uma vez concedida, a não ser, evidentemente, que apareça outro equívoco que a primeira
40
distinção não possa suprimir. Deve negar sem receio tudo o que é falso, e não permitir que passe, excepto se for certo tratar-se de má consequência. Se o sentido da proposição não puder ser compreen dido, para que se discirna a verdade, falsidade ou equívoco, peça ao arguente que explique o sentido dela, e então resuma-a. Finalmente, cure de responder com poucas palavras e só ligar à forma do argumento. Nem deve dar razões de tudo o que diz, a não ser que lhe sejam pedidas, mas todo o ônus da prova compete ao arguente; com efeito, assim a força do argumento toma-se mais formalmente conhecida e liberta de embaraços. À tarefa do argumentador pertence: Primeiro, não antepor várias pressuposições, nem introduzir várias proposições médias, nem for mular proposições demasiado longas ou intrincadas, mas cingir-se su cintamente à forma, não utilizando várias interrogações, mas antes apresentando provas, excepto quando a força do argumento é reenviada para isto, para solicitar a razão do que foi dito, ou quando o estado da disputa e o ponto da dificuldade ainda não está suficientemente claro. Segundo, deve prosseguir sempre com o mesmo meio termo através das suas causas e princípios, ou para deduzir o inconveniente, mas não mudar para outro meio termo, nem repetir a prova uma v e z proposta, seja com as mesmas, seja por outras palavras, porque ambas as coisas são prolixas e entediantes. Finalmente, nem sem pre deve usar o silogismo, mas de vez em quando o entimema, que procede mais breve e concisamente, e manifesta menos a força da ilação oculta, pelo que apresenta maior dificuldade ao que responde. Por último, à tarefa d o patrono ou presidente que assiste ã disputa, pertence: Primeiro: atentar e compreender todo o progresso do argumento e da disputa. Segundo: providenciar para que a forma de arguir e responder seja inteiramente observada. Terceiro: não assumir ou preencher a tarefa do respondente, e, muito menos, do impugnador, mas, prudentemente, quando vir a necessidade do respondente. sugerir a negação, concessão, ou distinção da proposição. Finalmente, deve fazer um breve juízo da disputa e clarificar os pontos obscuros.
SEGUNDO PRELÚDIO
DIVISÃO DA ARTE DA LÓGICA, SUA ORDEM E NECESSIDADE
Em toda a arte, duas coisas devem ser principalmente consideradas, nomeadamente a matéria, na qual a arte opera, e a forma, que em tal matéria é aplicada. Por exemplo, ao fazer uma casa, a matéria são
as pedras e a madeira, mas a forma, contudo, é uma composição, porque entre si madeira e pedras são coordenadas na figura e estrutura da casa. O mestre não faz a matéria, mas pressupõe-na; contudo introduz a forma, a qual porque propriamente é criada a partir da arte, é também principalmente intentada por aquela, como sendo produzida por ela. Mas a Lógica é ■um tipo de arte cuja função é dirigir a razão, para que não erre no m odo de discorrer e conhecer», assim como a arte de edificar dirige o artífice para que não erre ao fazer a casa. E assim a Lógica é dita arte racional, não só porque existe na razão com o num sujeito, tal com o as outras artes, mas também porque a matéria que dirige, são as próprias obras da razão. E porque a razão para discorrer e para fazer o juízo procede analiticamente, isto é, deduzindo os seus princípios e discernindo as provas pelas quais é manifestada, da mesma forma a Lógica dirige a razão para que não erre, mas para que correcta e propriamente resolva. Daí que Aristóteles tenha chamado às partes da Lógica que ensinam a forma certa de apresentar o juízo analíticas, isto é, resolutórias, porque ensinam a forma de resolver correctamente e evitar o erro. Contudo, feita a correcta resolução, esta tanto é devida à forma como à certeza da matéria. A matéria são as coisas ou objectos que desejamos conhecer correctamente. A fotma, contudo, é o próprio modo ou disposição pelo qual são conectados os objectos conhecidos, para que possam ser expressos e conhecidos, porque, sem a conexão, nem verdade alguma é concebida, nem é feito o discurso ou ilação de uma verdade para outra. E a resolução, do ponto d e vista da forma, diz-se pertencer aos analíticos anteriores; da parte da matéria, em termos de certeza e condições devidas, pertence aos analíticos posteriores, porque a consideração de uma forma artificial é, em qualquer arte, anterior â consideração da matéria. Desta forma, resumimos as divisões da arte Lógica em duas partes: na primeira tratamos de todas as coisas que pertencem à forma da arte Lógica e à primeira resolução, das quais trata Aristóteles nos livros D e Interpretatione e nos A nalíticos Anteriores, e que nas Súmulas tratamos para os principiantes; na segunda parte tratamos do que pertence à matéria Lógica ou ã resolução posterior, em especial na demonstração, para a qual principalmente é ordenada a Lógica. E nesta primeira parte deixamos um breve texto para os discípulos primeiro estudarem, depois, para os mais experimentados, disputamos as questões mais difíceis. Na segunda parte disputamos mais graves e úteis questões, seguindo um sumário estabelecido a partir dos textos de Porfírio e Aristóteles. Ordem de tratam ento: como a Lógica determina o m odo correcto de raciocinar e são três os actos de razão, nos quais de um se procede
para outro, como ensina S. Tomás no Com entários aos A n a líticos Posteriores, I, lect. 1, não pode observar-se melhor ordem que a de tratar a lógica com o distribuída por estas três operações. A primeira operação do nosso intelecto é chamada apreensão simples, como quando penso num homem, nada daquele afirmando ou negando. A segunda é a composição ou divisão, a saber, com o quando conheço a coisa, para que àquela alguma coisa atribua ou negue, com o quando digo «homem branco», ou nego que o homem seja uma pedra. A terceira operação é o discurso, com o quando de alguma verdade conhecida infiro e colijo outra não presente nesse conhecimento, por exem plo de determinada verdade «o homem é racional», infiro que «logo é disciplinável». Portanto, primeiro apreendo os termos, depois a partir daqueles componho a proposição, finalmente, a partir das proposições, formo o discurso. Assim, distribuímos esta p rim eira p a rte em três livros: o primeiro sobre o que pertence à primeira operação do intelecto, onde tratamos dos termos simples; o segundo sobre a segunda operação do intelecto, onde tratamos da oração, da proposição e das suas propriedades; o terceiro livro versa sobre a terceira operação, onde tratamos do m odo de discorrer e de formar os silogismos e induções, e tudo o mais que pertence à actividade de raciocinar. Na segunda parte da Lógica tratamos do que pertence à matéria de tais operações, principalmente enquanto ordenado paia formar certos juízos derivados de verdades necessárias, o que é feito pela demonstração. Contudo, as verdades necessárias dependem dos predicados essenciais, que são coordenados nos predicamentos, sendo estes tirados dos predicáveis, que exprimem os modos de predicar, como mais detalhadamente explicaremos no início da segunda parte da Lógica. Nem é inconveniente para os termos simples e para o que pertence à primeira operação do intelecto ser tratado na Lógica segunda vez, porque como nota S. Tomás no Comentário ao D e Tnterpyetatione, I, lect. 1, os termos simples são tratados sob um ponto de vista nas Categorias, enquanto significando simples essências; sob outro no D e Interpretatione, enquanto são partes da enunciação; e sob outro nos A n a líticos Anteriores, ou seja como constituindo a ordem silogística 1.
1 Note-se que nesta parte do prólogo Joio de São Tomás está a fazer a apresentação da totalidade do Cursas Poilosopiiicus Thomisticus e que, por isso, as divisões de que fala, e mesmo a numeração dos livros, não correspondem aos da presente tradução, ã excepção dos três artigos das Súmulas, todos os capítulos do Tratado dos Signos estavam, no original, incluídos na segunda parte da Lógica. 43
Finalmente, porque no discurso pode proceder-se de três formas diferentes para formar o juízo, nomeadamente correctamente por demonstração, topicamente por opinião, e erroneamente prelo sofisma, assim Aristóteles, depois de tratar da demonstração e da ciência nos A nalíticos Posteriores, trata da opinião nos Tópicos, e do silogismo sofistico nos Elencos Sofisticos. É extremamente necessária esta arte, tanto pela razão geral de que todas as artes são necessárias para que o homem dirija as suas operações correctamente e sem erro; como pela razão especial de que a Lógica dirige a actividade da razão, da qual dependem todo o discurso e todo o raciocínio, para que correcta e sem erro e ordenadamente proceda — algo muito necessário para que o homem faça uso da razão. Mas disto mais amplamente trataremos na questão de abertura da segunda parte da Lógica.
PRIMEIRA PARTE DA
ARTE DA LÓGICA
L ivros das Súmulas
A rtigo I
DEFINIÇÃO DO TERMO A definição d o termo varia de acordo com o pensamento dos autores, segundo consideram nele diferentes aspectos ou funções: quer com o parte que com põe a oração, seja qual for o m odo com o a integre; quer com o parte principal e apenas ao m odo de um extremo, quer seja um extremo terminando a análise da proposição e do silogismo, ou um extremo ao m odo do predicado e d o sujeito. E de facto estas considerações são verdadeiras e todas têm o seu lugar na discussão d o termo, mas é necessário ver qual explica de forma mais conveniente a natureza do termo, tal com o diz respeito à questão presente. Com efeito, com o a nossa m ente p roced e analiticamente nas ciências, e sobretudo na Lógica, que é chamada analítica por Aristóteles porque é resolutória, é necessário qu e seja designável o último elemento ou termo desta resolução, para lá d o qual a arte lógica não faz a resolução — assim com o também na geração natural a matéria-prima é o último princípio da resolução; de outro m odo, ou será processão ao infinito, ou não se fará uma perfeita resolução. E porque o term o da resolução e o princípio da com posição são o mesmo, aquilo que tenha sido o último elem ento no qual os compostos lógicos se resolvem convenientemente, será também chamado primeiro elemento, d o qual os outros se compõem. Ten do isto em conta, dizemos na presente questão tratar do termo tomado com o último elemento, n o qual é terminada toda a resolução da composição lógica, e até mesmo das próprias proposição e oração, porque convém com eçar deste termo com o d o principal e mais simples. E ainda que Aristóteles nos A n a líticos A nteriores tenha de finido assim o termo: «aquilo em que é resolvida a proposição com o 49
i no predicado e n o sujeito», todavia aí não definiu o term o em toda a sua latitude, mas contraidamente, enquanto serve à construção e com posição silogística, na qual o silogism o consta d e três termos, enquanto são extrem os nas proposições e se revestem d o m o d o de
tá
ser da parte silogística, isto é, são ilativos. Aliás, noutros lugares con siderou Aristóteles o term o sob um asp ecto mais universal, enquanto tam bém é com um ao n om e e ao verbo, e n ão sob o nom e d e term o, mas sob o nom e d e d icçã o , enquanto o n om e e a palavra co m p õ em a enunciação, não a inferência no silogism o. D o n d e S. Tom ás n o D e In te rp re ta tio n e , I, lect. 8, e x p o n d o as palavras d e Aristóteles: «o nom e, e p o r conseguinte o v e rb o serão apenas uma dicção» diz «e isto vê-se d o m o d o d e falar, p orq u e o próprio Aristóteles im pôs este nom e para significar as partes da enunciação*. Dá-se então, segu ndo Aristóteles e S. Tom ás, alguma n atu reza1 com um às partes da enunciação, a qu e o Filósofo chamou dicção e nós chamamos termo, porqu e n ele próprio toda a resolução é terminada, não só d o silogism o, mas também da enunciação, a qual é com posta de dicções simples, e consequentem ente é resolvida naquelas. E no m esm o lugar, lect. 5, d iz S. Tom ás qu e algumas vezes o n om e é tom ado con form e significa em geral qualquer dicção, até m esm o o próprio verbo. E n o in ício do O p ú scu lo 48, chama termos.
B
-------------------------1 Ratio, no original. É vastíssimo o âmbito de significações que ratio pode assumir: «conta, cálculo, interesse, consideração, empenho, relação, comércio, trato, situação, estado, modo, gênero, espécie, natureza, inteligência, juízo, bom senso, prova, motivo, causa, argumento, explicação, opinião, sentimento...» são apenas alguns dos sentidos mais correntes do termo em latim. Nalguns contextos do Tratado dos Signos, quando tal pareceu perfeitamente adequado, optou-se por traduzir ratio por natureza. Mas a verdade é que não existe em português nenhum equivalente semântico de ratio. Em S. Tomás de Aquino e na Escolástica de inspiração tomista subsequente ra tio é um termo técnico de âmbito muito mais vasto do que aquele que o termo «razão» assume hoje para nós. Para São Tomás, ratio tanto pode ser a faculdade de pensar como aquilo pelo que a realidade é o que é. Neste último sentido, muito mais amplo que o termo «razão» em português, ratio confunde-se com ideia, natureza, essência, e em alguns subcontextos do Tratado dos Signos estes três termos são uma opção de tradução adequada. Note-se porém que ratio é, além de princípio de inteligibilidade, logos, razão imanente, essencial e substancial das coisas, que se confunde mesmo com a sua essência: ela é a razão por que uma substância e seus acidentes são aquilo que são. «On dira même qu’il y a une raison immaaente en chaque chose, un logos, et c’est de son essence même, de son intelligibilité propre qu’on veut parler», Nicolas, Marie-Joseph, 1984, «Vocabulaire de la Somme Théologique-, in Somme Théologique, vol. i, Les Éditions du CERF, Paris, p. 115. Por todas estas razões, optou-se no Tratado dos Signos por traduzir ratio quer por «natureza», quer por «razão», Vocábulo que deverá, evidentemente, ser tomado como termo técnico que é no contqxto da filosofia tomista.
50
às «partes da enunciação». Logo, dizem os qu e se d e v e partir desta acepção geral de termo enquanto último elem ento d e toda a resolução lógica, e qu e dele se d eve dar a definição. E assim define-se o termo ou d icçã o n ã o som en te p e lo extrem o da p ro p o siçã o , ou p e lo predicado e sujeito, mas p o r alguma coisa mais geral, ou seja «aquilo a partir de qu e se elabora a proposição simples»; ou antes, imitando Aristóteles, qu e definiu nom e, v erb o e oração co m o «palavras p ro nunciadas» 2, porque são signos mais conhecidos d e nós, define-se assim o termo: «palavra pronunciada convencional m ente significativa, da qual se elabora a proposição simples ou o ra ç ã o »3. Mas para que com preenda tam bém o term o mental e escrito, será d efin id o com o «signo d o qual se elabora uma proposição simples». Chama-se signo ou palavra significativa para excluir as palavras não significativas, c o m o «blitiri» , assim c o m o as excluiu Aristóteles d o nom e e d o verbo; e visto q u e tod o o term o é nom e, verb o ou advérbio, se nenhum destes é um som não significativo, nenhum som sem significado é termo, com o mais detalhadamente mostraremos na questão acerca deste assunto. Diz-se convencionalm ente para excluir os sons significativos naturalmente, c o m o o s gem idos. Diz-se do qual se elabora a proposição simples para excluir a proposição ou oração, a qual não é o prim eiro elem ento d e com posição, mas é algo com p osto com o um todo, e se algumas vezes com põe, com p õe não a proposição simples mas a hipotética. Se p orém o term o fora da proposição é uma parte em acto quanto à essência e caracter da parte, em bora não quanto ao exercício de com por, disso falaremos posteriormente, na prim eira parte da Lógica, q. 1, art. 3, «Acerca d o termo».
no original. 3 Voxsignificativa aciplacitnm exqua stmple.x conficiturpropositio vel oratio, no original. 2 Vroces,
51
i
;
i *
Artigo U
DEFINIÇÃO E DIVISÃO DO SIGNO
Porque tanto o termo com o a oração e a proposição e restantes instrumentos lógicos são definidos pela significação, e porque o in telecto conhece por conceitos significativos, que são expressos porsons significativos, e em geral todos os instrumentos que usamos para conhecer e falar são signos; portanto, para que o lógico com exactidão conheça os seus instrumentos, isto é, os termos e as orações, é necessário que também conheça o que é o signo. Signo, então, define-se em geral como «aquilo que representa à potência cognitiva alguma coisa diferente de si*. Para que esclareçamos melhor esta definição, importa considerar que a cogniçâo tem quatro causas, a saber: eficiente, objectiva, formal e instrumental. A causa eficiente é a própria potência, que elicia a cogniçâo, com o a visão, a audição, o intelecto. A causa objectiva é a coisa que move, ou para a qual tende a cogniçâo, com o quando vejo a pedra ou o homem. A causa formal é o próprio conhecimento pelo qual a potência é tornada cognoscente, com o a própria visão da pedra ou d o homem. A causa instrumental é o meio, pelo qual o objecto é representado à potência, com o a imagem ex terior de César representa César. O objecto é triplo, a saber: motivo apenas, terminativo apenas, e motivo e terminativo simultaneamente. O objecto apenas motivo é o que m ove a potência para formar a ideia não dele próprio, mas de outra coisa, tal com o a imagem do imperador, que move a potência para conhecer o imperador. O objecto que é apenas terminativo é a coisa conhecida pela
52
apercepção 4 produzida por outro objecto, como, por exemplo, o imperador ao ser conhecido pela imagem. O objecto simultanea mente terminativo e motivo é o que m ove a potência para formar a cogniçâo dele próprio, como quando uma parede é vista em si mesma. Portanto, »fazer conhecer» é mais vasto do que «representar», e «representar» é mais vasto d o que «significar». Na verdade, fazer conhecer é dito acerca de tudo o que concorre para a cogniçâo, e assim é dito de quatro modos, ou seja, eficientemente, objectivamente, formalmente e instrumentalmente. Eficientemente, com o da própria potência que elicia a cogniçâo e das causas concorrentes para esse conhecimento, como Deus que move, o intelecto agente ou produtor de espécies, o hábito adjuvante, etc. Objectivamente, como da própria coisa que é conhecida. Por exemplo, se conheço o homem, o homem como objecto faz-se conhecer a si próprio apresentando-se à potência. Formalmente, como da própria apercepção, que, com o forma, toma a potência cognoscente. Instrumentalmente, como do próprio meio que traz o objecto ã potência, como a imagem d o imperador traz o imperador para o intelecto ã maneira de um meio, e a este meio chamamos instrumento. Representar diz-se de tudo aquilo por que alguma coisa se faz presente à potência, e assim diz-se de três modos, ou seja, objectivamente, formalmente, e instrumentalmente. Com efeito, um objecto, como uma parede, representa-se a si objectivamente; a apercepção representa-o formalmente; o vestígio instrumentalmente. Significar diz-se daquilo por que alguma coisa distinta de si se faz presente, e assim só é dito de dois modos, a saber, formaimente e instrumentalmente. Aqui nasce a dupla divisão do signo. D e facto, conforme o signo se ordena à potência, divide-se em signo formal e instrumental; mas
4
Notitia,
no original.
Notitia é aquilo
que é apercebido e fixado pela mente
na sequência de um acto cognitivo. Os tradutores americanos de João d e São Tomás verteram-no, na edição de W ad e, por
awareness,
knowleclge,
na de Deely, por
o que, tal como na opção aqui seguida, é um vocábulo ligeiramente
mais activo d o que o desejável. A língua mais apropriada para dar conta desta
notitia é, fiel e simplesmente, vertido por 1'aperçu. No caso da versão portuguesa d o texto, optou-se por dar conta de notitia como apercepção, importando, todavia, clarificar q u è a palavra não pode
expressão parece ser o francês, onde
ser tomada nem no sentido de apercepção reflexiva, tal com o foi utilizada por Leibniz, nem, puramente, n o sentido de «acto de se aperceber d e alguma coisa», porque
notitia
é mais passiva — é o acto de se aperceber, mas é também aquilo
que resulta na mente depois de dado o acto d o sujeito sé aperceber de algo —
1'aperçu.
53
i
( ^
enquanto se ordena ao objecto 5, divide-se, segundo a causa daquela ordenação, em natural, convencional e consuetudináriõ. O signo formal é a apercepçâo formal 6, a qual a partir de si própria, não mediante outro, representa. O signo instrumental é aquele que, a partir da cognição preexistente de si, representa alguma coisa diferente de si, com o o vestígio do boi representa o boi. E esta é a definição que geralmente costuma ser dada acerca d o signo. O signo natural é aquele que representa pela natureza da coisa, independentemente d e qualquer imposição ou costume; e assim, representa o mesmo junto de todos os homens, como o fumo representa o fogo. O signo convencional é o que representa alguma coisa a partir da imposição da vontade, por autoridade pública, com o a palavra “homem». O signo consuetudinário é aquilo que só pelo uso representa, sem imposição pública, assim como os guardanapos em cima da mesa significam refeição. De todas estas coisas que dizem respeito à natureza e divisão dos signos tratamos mais detalhadamente neste Tratado dos Signos.
5 Signatum, no original. Com signatum João de São Tomás refere-se à própria coisa absoluta, tomada em si mesma, que o signo referencia; fala-se então do objecto, ou referente, para utilizar uma terminologia bem estabelecida nos nossos dias. Em todas as ocasiões que signatum é utilizado, optou-se pois por vertê-lo como objecto. Mas uma segunda dificuldade se coloca; em latim existe o verbo signo, que não possui perfeito equivalente em português. Optou-se em tais casos pelo uso d o verbo assinalar, o qual, pese embora as diferenças semânticas que a evolução da semiótica foi estabelecendo entre signo e sinal, substantivos que correspondem a tais verbos, continua, em português, a ser o mais aproximado d o signo original. ° jPormalis notitia, no original.
54
Artigo U I
ALGUMAS DIVISÕES DOS TERMOS
Um termo divide-se primeiramente em mental, vocal e escrito. O termo mental é a apercepção ou conceito do qual se faz uma proposição simples. O termo vocal foi definido acima, no artigo i. O termo escrito é a escrita significando convencionalmente, da qual se faz a proposição simples. O termo mental, se atendermos às diversas espécies essenciais dele, divide-se segundo os objectos, que diferenciam as espécies do conhecimento. E assim não tratamos da divisão daqueles tipos essenciais de termo na presente questão, mas apenas tratamos de algumas condições gerais das apercepções ou conceitos, pelas quais se distinguem os vários modos de conhecer. E nota que é a apercepção simples que é dividida aqui, isto é, o conhecimento que pertence apenas à primeira operação do intelecto; com efeito, tratamos da divisão do termo mental, porém, o termo diz respeito ã primeira operação. Donde nesta divisão dos conceitos não se inclui qualquer apercepção pertencente ao discurso ou composição, pois nenhuma destas é termo ou apreensão simples. E, semelhantemente, põe-se de parte toda a apercepção prática, e toda a que exprime a ordem para a vontade, porque a vontade não é movida pela apreensão simples do termo, mas pela composição ou juízo de conveniência da coisa, com o diremos no livro D e Anim a. Portanto, a apercepção, que é a apreensão simples, ou o termo mental, divide-se primeiramente em apercepção intuitiva e abstractiva. Esta divisão não só abrange a apercepção intelectiva, mas também a dos sentidos externos, que é sempre intuitiva, e dos sentidos internos,
55
que algumas vezes é intuitiva, e outras vezes abstractiva. A apercepçào intuitiva é a apercepçào de uma coisa presente. E d igo d e uma coisa presente, não apenas apresentada à própria potência; com efeito, ser presente pertence à coisa em si própria, enquanto está fora da potência, enquanto ser apresentada convém à coisa com o objecto da própria potência, qu e é algo comum a toda a apercepçào. A apercepçào abstractiva é a apercepçào de uma coisa ausente, e é entendida de m odo oposto à intuitiva. Segundo: d o ponto de vista d o conceito, divide-se a apercepçào em conceito ultimado e não ultimado. O conceito ultimado é o conceito d e uma coisa significada por um termo, com o a coisa que é o homem é significada pela palavra «homem». O conceito não ultimado, ou m eio, é o conceito d o próprio termo com o significante, com o o conceito do termo «homem». Terceiro: o conceito divide-se em directo e reflexo. E reflexo o conceito p elo qual conhecem os que conhecemos, o qual tem, assim, por objecto algum acto ou conceito ou potência n o interior d e nós. É directo o conceito p e lo qual conhecem os algum objecto fora d o nosso conceito, e sem reflectirmos sobre a nossa cognição, com o quando é conhecida uma pedra ou um homem. A segunda divisão do termo pertence mais própria e principalmente ao termo vocal, dividindo-se assim o termo em unívoco e equívoco. Diz-se termo unívoco aquele cujo significado significa o m esm o conceito, com o a palavra «homem» significa todos os homens, o mesmo sucedendo com o conceito de natureza humana. E entende-se no mesmo conceito simplesmente, não apenas proporcionalmente. Diz-se term o equívoco aquele cujo significado não significa o mesmo, mas vários conceitos, isto é, quando estes não coincidem de algum m odo proporcionalmente, mas diferem, com o p o r exem plo a palavra «canis», que significa simultaneamente animal e constelação. E por este m otivo não se dá o equ ívoco no conceito último da mente, com o diremos na Lógica, porque o conceito é uma semelhança natural, e se é um, a representação daquele é una; mas se atinge muitos, isto sucede enquanto coincidem em alguma razão una, que é própria do unívoco. E assim esta divisão toca propriamente o termo vocal, no qual se encontra o equívoco, is to é a unidade da vo z com pluralidade de significações, porque a significação é convencional, não natural. Veja-se também o que é dito no Tratado dos Signos acerca do segundo argumento. E recorda que Aristóteles definiu o equívoco no Antepredicamento c o m o «aquelas palavras cujo nom e é com um , mas o con ceito significado é diverso», porque aquela definição era dada acerca das coisas significadas pelo nom e equívoco ou unívoco, que são ditos
56
equívocos equivocados, isto é, significados equívocos. Nós, porém, definimos aqui os termos equivocamente ou univocamente significantes, sendo ditos equívocos equivocantes, isto é, equivocamente ou univocamente significantes. Divide-se o equívoco em equívoco por acaso ou p or determinação. O primeiro é simplesmente equ ívoco e convém-Ihe a definição dada. O segundo é análogo, isto é, aquele que significa o s seus significados com o sendo um só. segundo uma certa proporção, e não simples mente. tal com o «são» é dito d o animal e da erva. Disto tratamos na Lógica. Xa presente questão damos duas regras para a analogia. Primeira: o análogo tomado por si próprio está p elo significado mais comum; assim com o dizendo «homem», e nada acrescentando ao teim o que o restrinja ou determine, vale por hom em vivo, não p o r uma pintura. Segunda: na analogia ou equívocos semelhantes, os sujeitos são apenas os que são permitidos ou restringidos pelos seus predicados, sendo assim que. quando um nome significa várias coisas, é determinado com o estando por alguma coisa segundo a exigência ou a restrição do predicado, com o se dizes «o cão ladra», está para o cão, que é animal, e não para constelação. Estas regras explicamo-las na Lógica. A terceira divisão d o termo é em categorem ático e sincategoremático. com o se dissêramos em latim significativo ou predicativo e consignificativo. Categoremático é aquilo que por si significa alguma coisa. Onde a expressão -por si» é para juntar à expressão «alguma coisa», isto é. significa alguma coisa, que é representada com o algo por si. não com o advérbio ou modificação, mas com o uma certa coisa, assim com o quando digo «homem». O termo sincategoremático é aquele que de alguma maneira significa, c o m o os advérbios «velozmente», «facilmente». E é dito de alguma maneira significar não porque verdadeira e propriamente não signifique, mas porque o significado dele não é representado com o coisa por si, mas como m odo da coisa, isto é, exercendo modificação na coisa.
57
SEGUNDA PARTE DA
ARTE DA LÓGICA
A o Leitor, Com a ediçào deste livro cumpro a minha promessa de publicar a segunda parte da Lógica, um acontecimento tom ado mais feliz p e lo seu vínculo ao proveito dos leitores. Procurando o proveito dos que qu erem aprender, e acham a disputa prolixa das questões entediante, julgo ter tratado o assunto de tal forma qu e não presumo ter antecipado aqueles de mais rápida percepção, mas para os espíritos mais lentos não levantei um nevoeiro. Curo sempre de revelar com a brevidade possível o ponto d e vista a ser mantido, com receio de que cansadamente nos agarremos a opiniões obscuras que nào consideramos sãs, enquanto deixam os na ambiguidade o que pen samos ser importante. A m brósio aconselha bem nos Salm os quando diz que «os assuntos tomam-se mais fáceis quando são explicados com brevidade». Especialmente nestes cursos para principiantes, julgo que a intenção d o escritor d eve ser mais revelar a facilidade d o assunto do que a erudição e as múltiplas doutrinas do seu campo. Cobrimos aqui, com o prometemos, as várias questões tradicionalmente tratadas na primeira parte da Lógica, excepto, por boas razões, o Tratado dos Signos, cheio d e tantas e tào extraordinárias dificuldades, e assim, para libertar os textos introdutórios da presença destas dificuldades incomuns, deádim os pubiicá-lo separadamente em lugar de um com entário ao D e ln terpretcitione, e junto com as questões dos A n a lítico s Posteriores-, e para um uso mais conveniente separamos o Tratad o dos Signos da discussão das Categorias. O que resta discutir acerca da Filosofia Natural, para completar o curso de Estudos em Artes, com prom etem o-nos a tratá-lo n o m esm o estilo e maneira. Até breve.
61
AC E R C A D O S LIVROS D E IN T E R P R E T A T IO N E
Os livros Peribennenias são assim chamados com o se disséssemos •Acerca da Interpretação-. Nestes trata Aristóteles principalmente da ora ção e da proposição. Pára isto, foi necessário primeiro tratar das suas partes, que são o nome e o verbo. Depois, das suas propriedades, que são oposição, equivalência, contingência, possibilidade, e outras seme lhantes. Destas coisas tratamos nos livros das Súmulas; efectivamente, todas estas coisas se ordenam e pertencem aos A n a líticos Anteriores. Mas porque todas estas coisas são tratadas nestes livros por meio da interpretação e significação, e visto que o instrumento da lógica é o signo, de que constam todos os seus instrumentos; por isso, pareceu melhor agora, em vez da doutrina destes livros, apresentar aquelas coisas destinadas a expor a natureza e divisão dos signos, que nas Súmulas foram introduzidas, e para aqui, portanto, foram reservadas. Agora, porém, neste lugar com toda a razão se introduzem, depois do conhecimento havido acerca do ente da razão e categoria da relação, dos quais principalmente depende esta inquirição sobre a natureza e essência dos signos. Para que o assunto mais clara e frutuosamente seja tratado, achei por bem separadamente acerca disto fazer um tratado, em vez de reduzir e incluir a questão na categoria da relação, para que a discussão da relação não se tomasse redundante e enfadonha pela introdução deste tema exterior: e também para que a consideração d o signo não se tornasse mais confusa e breve. Portanto, acerca da própria natureza1 dos signos, ocorrem duas questões principais que devem ser discutidas. A p rim eira é acerca da
1 Ratio. no original.
63
natureza e divisão do signo em geral; a segunda é acerca da divisão deste e de qualquer um em particular. E no primeiro livro do Tra tado, versaremos esta primeira questão; da segunda trataremos no livro seguinte.
L iv r o Z er o
ACERCA D O ENTE DE R A Z Ã O E D A C ATE G O R IA DE RELAÇÃO
O R D E M D O PR E Â M B U LO
C om o com eçam os a tratar d o objecto ou matéria da Lógica, importa, pela própria ordem da doutrina, com eçar p e lo mais universal. E assim, ini ciamos a disputa p elo ente de razão, não enquanto precisamente se o p õ e ao ente real e é comum a todos os entes d e razão, pois assim, com efeito, pertence à metafísica, mas enquanto é comum apenas às segundas intenções, que pertencem à Lógica. Acerca disto ocorrem três considerações: P rim e iro , o que é este ente de razão; Segundo, quantos há; Terceiro, por qu e causa é formado. Contudo, antes destas considerações, para qu e se tenha, em geral, p elo menos algum im perfeito con h ecim en to do ente d e razão, são exam inadas algumas considerações acerca do próprio gênero do ente de razão.
67
C apítulo I
O QUE É EM GERAL UM ENTE DE RAZÃO E QUANTOS HÁ
O ente de razão, em toda a sua latitude, se atendermos à significação do nome, exprime isto, o que depende de algum m odo da razão. Contudo, pode depender ou como o efeito da causa, ou como o objecto depende do cognoscente. No primeiro modo, alguma coisa pode ser encontrada dependendo da razão de duas formas: ou porque é da própria razão, que é sua causa eficiente, assim como a obra de arte, a qual é inventada por obra da razão; ou porque está na própria razão com o num sujeito e causa material, assim como os actos e os hábitos estão no intelecto. Mas cada um destes modos pertence ao ente real, porque o ente assim dito tem existência real e verdadeira, embora dependente do intelecto. Mas o que depende do intelecto pelo segundo modo, ou seja, como objecto, é chamado propriamente ente de razão, pertencendo assim à questão presente, pois não tem nenhum ser fora da razão, mas apenas é dito estar na própria razão objectivamente, opondo-se desta forma ao ente reaL. Que exista um ser neste sentido tem sido negado por alguns, embora em geral seja afirmado pelo consenso de filósofos e teólogos, visto que todos distinguem o ente real do ente fictício ou de razão, porque aquele existe no mundo da natureza, e este não tem existência nas coisas, mas apenas é conhecido e construído. E até a própria experiência prova isto suficientemente, visto vermo-nos muitas vezes a imaginar e conhecer coisas que são de todo impossíveis, e tais são os entes construídos ou fictícios. São
69
um certo tipo de ente porque são conhecidos ao m odo do ente real, mas fictícios porque não lhes corresponde nenhum ser verdadeiro da parte da realidade. Destas considerações pode extrair-se uma d efin içã o ou explicação do ente de razão em geral, a saber, que é ■um ente que tem existência objectivamente na razão, ao qual nenhum ser corresponde nas coisas». Isto mesmo se retira de S. Tomás no livro A cerca do Ente e da Essência, cap. i, e M etafísica, V, lect. 9, e Sum a Teológica, I, q. 16, art. 6, resp. obj. 2, onde diz que o ente de razão é assim chamado porque embora nas coisas nada ponha, e em si não seja ente, todavia é formado ou recebido com o ente na razão. Este m odo de explicar é o mais conveniente porque como o ente é dito a partir do acto de ser e por ordem à existência, assim com o um ente real é definido pela ordem para a existência, que possui verdadeiramente e nas coisas; assim, o ente de razão, que se op õe àquele, deve ser explicado de m odo oposto, ou seja, como aquele que não tem existência nas coisas e tem existência objectivamente na cogniçâo. Mas o que alguns dizem, isto é, que o ente de razão consiste na denominação extrínseca, pela qual uma coisa é dita ser conhecida, como Durandus no C om entário às Sentenças de Pedro lom ba rd o, I, dist. 19, q. 5, n. 7, é duvidoso, em primeiro lugar porque entre os' autores há grande controvérsia sobre se uma denominação extrínseca é formalmente um ente de razão, como diremos. Depois, é falso, universalmente falando, que o ente de razão enquanto tal consista somente na denominação do conhecido. Com efeito, esta denominação ou é forma constituindo o ente de razão, ou é o que recebe a formação do ente de razão. A primeira hipótese não pode ser verdadeira, porque esta denominação também pode cair sobre os entes reais, que são denominados conhecidos; contudo não são formados por esta denominação entes de razão, porque não são tornados fictícios ou construídos. Se atentarmos na segunda hipótese, é verdade que a denominação extrínseca é apreendida com o ente de razão, porém não só a denominação extrínseca, mas também todas as outras que não são entes, como as negações, privações, etc. Se contudo inquirires o que é ter ser na cogniçâo, respondo que isto depende do que diremos sucintamente sobre a causa do ente razão e o acto pelo quai é formado. Entretanto, basta ouvir S. Tomás nos Com entários à M etafísica de Aristóteles, IV, lect. 1, onde diz: -Dizemos de alguma coisa que existe na razão, porque a razão enquanto afirma ou nega alguma coisa dela, lida com ela quase como se se tratasse de algum ente.» Isto não deve ser entendido com o se o ente de razão só fosse formado por uma proposição que
70
nega ou afirma, mas porque a formação da proposição acerca do objecto que não tem ser da parte da coisa, é signo, recebido pelo intelecto com o se fosse um ente, porque a ele é aplicada a cópula que significa «ser». Assim, o próprio acto do intelecto que atinge o objecto como se fosse um ente, embora este não exista fora do intelecto, tem dois aspectos: não só enquanto é uma cogniçâo toma alguma coisa conhecida, e assim no objecto só p õ e a denominação extrínseca do conhecido; mas também torna o objecto conhecido ã semelhança do ente, embora este na realidade não seja ente, e isto é dar existência de razão à sua existência fictícia. E assim S. Tomás, no Opúsculo 42, cap. i, diz que um ente de razão é produzido quando o intelecto se esforça por apreender o que não existe, e assim representa o que não existe com o se fosse um ente. E no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 2, q. 1, art. 3, diz que o ente de razão é consequência do m odo de inteleccionar as coisas que estão fora da alma, e que as intenções que o nosso intelecto introduz são deste tipo. Nessa passagem S. Tomás diz ser o mesmo para o ente de razão «ser efeito-, «ser introduzido», «ser apreendido» e «ser conse quência» do m odo de inteleccionar. E assim, como diremos mais adiante, o ente de razão não tem formalmente existência construída ou objectiva por isto, porque é tomado conhecido como «o que» é conhecido; com efeito, assim já é suposto ter ser ou alguma razão, sobre a qual cai a denominação de conhecido. Mas aquele acto que diz respeito ao não ente sob razão e ao modo do ente, é dito construir ou formar o ente de razão, e não somente denominar. E nisto consiste ter existência objectivamente no intelecto, isto é, do próprio m odo de conhecer é construído apreensivamente como ente o que não é ente. Dizes: logo, todo o objecto concebido pelo intelecto de m odo diferente da forma como existe no mundo é um ente de razão. A consequente é falsa, pois conhecemos muitos entes reais, como Deus e os anjos e outras coisas que não experienciamos, não como são em si próprios, mas à semelhança de outros entes reais. É negada pois a consequência porque tais entes são supostos serem verdadeiros entes reais no mundo. Donde não é d o m odo de conhecer que se atribui àqueles a razão do ente; mas porque não são atingidos de m odo próprio e especialmente seu, são ditos serem atingidos à semelhança de outro. Contudo, ser conhecido à semelhança de outro não basta para que sejam denominados entes formados absolutamente pelo intelecto na razão do ente, mas são denominados conhecidos por meio d e uma natureza estranha, não por meio do seu próprio ser, e então recebem no seu ser conhecido uma conotação relativa àquilo que se refere ao m odo pelo qual são conhecidos.
71
Havida noção 1 do ente de razão em geral, resta também breve mente determinar quantos tipos de entes de razão há. Acerca de tal divisão, que divide os entes de razão em toda a sua latitude, não é tarefa do lógico tratar, já que este só se ocupa do ente de razão lógico, um dos membros desta divisão. Contudo, para que seja conhecido a que membro da divisão pertence o ente de razão lógico, brevemente diremos que S. Tomás na q. 21 de D e Veritate, art. 1, adequadamente divide o ente de razão, entendido na sua forma mais geral, em dois membros, a saber, em negação e relação de razão. Isto, diz, que é de razão, não pode ser senão duas coisas, isto é, negação ou alguma relação; «com efeito, todo o uso absoluto de uma palavra significa o existente nas coisas da natureza». Sob a negação, contudo, também inclui a privação. Pois a privação é uma espécie de negação ou carência de forma no sujeito apto a receber a forma oposta, enquanto a negação é carência no sujeito que repugna a uma forma, assim com o a negação da possibilidade de uma pedra ver é negação, enquanto no homem é privação. A relação também tem esta particularidade em virtude do seu conceito, o qual é ser para outro, que é poder ser encontrada na apreensão isolada e não nas coisas, quando é relação para algo que não existe no mundo, com o S. Tomás mostra na Suma Teológica, I, q. 28 art. 1. Nem todos admitem a suficiência desta divisão, porque julgam ' que o ente de razão deve prim eiro ser divid id o n o que tem fundamento no real e no que não tem 1 2; e o primeiro é chamado ente de razão raciocinado, o segundo ente de razão raciocinante. Contudo somente o ente de razão raciocinado é, dizem, dividido em negação e relação, enquanto o ente de razão raciocinante é encontrado em todas as categorias. Veja-se Serna no C om entário ã Lógica de Aristóteles, cüsp. 1, sect. 4, q. 2, art. 3; e Cabero, A cerca dos Universais, disp. 1, dub. 3; e Merinero, disp. 3, q. 2. Outros julgam que não pode dar-se nenhuma espécie determinada de ente de razão, mas dizem que toda a oposição ou impossibilidade ou contradição é uma espécie de ente de razão, porque todas as coisas desse tipo são entes fictícios ou construídos. Assim pensa Martínez, disp. 2, n o prólogo à q. 1. Outros dividem outras espécies de ente de razão arbitrariamente, mas não é necessário curar destas posições. D eve contudo dizer-se que é óptima e adequada esta divisão do ente de razão em negações e relações, e a que mais directamente convém ao ente de razão em geral.
1 Notitia, no originai. 2 quocl habet Jundamentum in re et quod non habet, no original.
72
Com efeito, no ente de razão podemos considerar três coisas: a primeira é o sujeito ao qual é atribuído; a segunda é a própria razão que é concebida e atribuída ao outro; a terceira é aquilo a cuja semelhança o ente de razão é apreendido e concebido. Da parte do sujeito, ao qual o ente de razão é atribuído, por vezes encontra-se o fundamento para que tal ou tal m odo lhe seja atribuído, outras vezes não. E assim, a respeito disto tiramos aquela distinção de ente de razão com fundamento ou sem fundamento na realidade; pois esta distinção é aceite respectivamente ao sujeito ao qual é atribuído tal ente de razão. Similarmente, da parte daquele à semelhança do qual se concebe o ente de razão, não repugna que se encontre por todas as categorias, porque âs vezes pode ser construída e apreendida alguma coisa ã semelhança da substância, com o a quimera ou uma montanha dourada; às vezes, à semelhança da quantidade, com o o vácuo; outras vezes, à semelhança da qualidade, como, por exemplo, se a morte ou a cegueira forem concebidas como negritude ou uma espécie da forma obscura. Todavia se considerarmos o ente de razão d o ponto de vista da coisa concebida ou do ponto de vista do que é cognoscível ao m odo do ente real, embora no mundo não seja ente, o ente de razão é âdequadamente dividido naqueles dois membros, isto é, na negação e na relação como seus dois primeiros gêneros, sob os quais muitas negações e relações se subdividem. E porque isto é o elemento formal que é atingido no ente de razão, logo, esta divisão é directa e formal, embora outras divisões também possam ser admitidas, contudo baseadas nas condições para o ente de razão, não baseadas directamente no ente de razão. E porém adequada esta divisão porque, formalmente, a própria essência 3 d o ente de razão consiste na oposição ao ente real, isto é, que não seja capaz de existência. E isto que não é capaz de existência, este ente de razão, ou é alguma coisa d e positivo, ou de não positivo. Se não positivo, é negação, isto é, não pondo, mas retirando a forma. Se é positivo, só pode ser relação, porque todo o positivo absoluto 4, com o não é concebido relativamente a outro, mas em si, ou é uma substância em si, ou um acidente no outro.
3 Fatio, no original. 4 Absoluto é aquilo que é considerado isoladamente em .si, e não relacionado com outra coisa. E, pois, algo que não depende de nada extrínseco a si próprio na sua constituição e especificação. Opondo-se ao absoluto estão os relativos, entes que dependem de relações estabelecidas com outros para a sua constituição ou especificação.
73
Portanto não pode algum positivo absoluto ser tomado com o ente de razão, porque o próprio conceito de ser em si ou no outro importa alguma realidade. Na verdade, a relação isolada, porque exprime não só o conceito de -estar em-, mas também o conceito de -ser para» — precisamente em razão do que a relação não exprime a existência em si, mas o -atingimento» extrínseco do termo — não repugna que seja concebida sem realidade, e, logo, como ente de razão, concebendo aquele ente relacionai não com o num outro ou com o em si, mas como para outro com negação da existência em outro. M as podes objectar duas coisas: P rim eiro, para provar que as privações e as negações não são ditas serem entes de razão cor rectamente. Pois a privação e a negação exprimem a carência da forma e denominam o sujeito carente à parte quaisquer considerações do intelecto; logo, não são carências construídas pela mente nem entes de razão. É patente a consequente, porque o ente de razão depende da cognição para que exista e confira o seu efeito formal; logo, se antes da cognição a privação ou negação dá a sua denominação às coisas, a negação não é um ente de razão. E o mesmo argumento é posto a partir da denominação extrínseca, por exem plo ser visto ou ser conhecido. E que à parte qualquer consideração d o intelecto, e somente pelo facto de haver uma visão da parede no olho, a parede é denominada vista; e semelhantemente antes de o ente de razão ser produzido, a natureza pode ser denominada superior ou inferior, predicado ou sujeito, etc. ... E confirma-se porque a denominação extrínseca segue-se da forma real existente em algum sujeito; logo é forma real. A consequente é manifesta porque, assim como a denominação que se segue da forma substancial é substancial, e a que se segue da forma acidental é acidental, assim a denominação que se segue da forma real deve ser real. A resposta a isto é que a negação, como exprime a carência da forma, é dada da parte do ente real negativamente, porque a própria forma não está no re a l5. Contudo, não é por isto que é dito ente de razão, mas porque, como na coisa não é ente, mas carência de forma, é recebido pelo intelecto ao m odo d e um ente, e assim, antes da consideração do intelecto denomina o sujeito carente. Mas esta carência não é propriamente um efeito formal, nem retirar a forma é alguma forma, mas a carência é recebida pelo intelecto à maneira de um efeito formal, enquanto é recebida ao m odo da forma, e
5 In re, no original.
consequentemente ao m odo de um efeito formal; enquanto na coisa aquela carência não é efeito formal mas ablação daquele efeito. E semelhantemente dá-se uma denominação extrínseca da parte da coisa real quanto à forma denominante. Mas porque a sua aplicação à coisa denominada não está realmente na própria coisa denominada, assim, conceber aquela forma como adjacente e aplicada à própria coisa denominada é alguma coisa de razão. Mas ser predicado e sujeito, superior e inferior, encontra-se antes da cognição do intelecto apenas fundamentalmente, não formalmente sob o conceito da relação, com o com mais pormenor diremos ao tratar dos Universais. Para confirmação, responde-se que alguns defendem absolutamente que a denominação extrínseca é alguma coisa de razão, como Vázquez no seu Com entário à Suma Teológica, I, disp. 115, cap. 2, n. 2; e I-II, disp. 95, cap. 10. Outros defendem absolutamente que é alguma coisa real, contudo não por uma realidade intrínseca, a qual sem alguma coisa acrescentada pela razão produz o seu efeito, mas antes extrínseca. Assim pensa Suárez, na última das suas D isputas Metafísicas, sect. 2, e outros. Mas parece mais verdadeiro que nesta denominação concorram duas coisas, a saber, a própria forma como natureza denominante, e a adjacência ou aplicação daquela ao denominado como condição. E quanto à própria forma, é manifesto ser alguma coisa de real, assim como a visão, pela qual a parede é denominada vista, é uma forma real no olho; todavia a aplicação da forma enquanto toca o sujeito denominado não é alguma coisa de real, porque nada p õ e na própria parede. Tudo o que de não real é apreendido, é alguma coisa de razão, e assim, da parte da aplicação, uma denominação extrínseca é alguma coisa de razão na forma denominada. O sujeito denominado extrinsecamente é, todavia, dito ser denominado antes da operação do intelecto, não em razão do que o intelecto pòe no sujeito denominado, mas em razão do que o entendimento supõe para lá d o sujeito, porque nele próprio uma denominação extrínseca é uma forma real, mas não existe realmente naquilo que denomina. Donde, por razão da não existência é tomado como ente de razão, contudo, em razão da pré-existência em outro, a partir do qual diz respeito à coisa denominada, é dito denominar antes da operação do intelecto. E se for inquirido a que m embro desta divisão pertence a denominação extrínseca, quando é concebida com o ente de razão, responde-se pertencer à relação, porque não é concebida com o afectando pelo acto de negar e retirar a forma, mas pelo acto de ordenar e depender daquilo donde é extraída a denominação, ou naquilo para que é imposta e destinada pela cognição. Uma segunda objecção é dada para provar que esta divisão não é adequada. Com efeito, a unidade de razão que é atribuída ao
75
universal pelo intelecto é alguma coisa de razão, e não é relação nem negação. Não é relação porque a unidade é dita absolutamente, não respectivamente a outro. Não é negação, tanto porque a unidade exprime alguma coisa de positivo e não a pura negação, com o diz S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 11, art. 1; com o porque, se fosse negação, deveria ser concebida ao modo do ente de razão, e assim não seria dita unidade de razão, isto é, negação de razão, mas ente de razão absolutamente. E, de modo semelhante, a dualidade ou distinção de razão não é uma negação, uma vez que antes retira a negação da unidade; nem é uma relação, porque a relação é fundada sobre a distinção ou dualidade dos termos distinguidos; logo, é alguma coisa de outra espécie. Isto é confirm ado no caso das coisas que são puramente imaginadas, com o a quimera, o monte dourado, e outras semelhantes. Estas, com efeito, não são negações nem relações, mas várias subs tâncias sintetizadas pelo intelecto a partir de partes que entre si são opostas. E, semelhantemente, pode dar-se uma qualidade ou quan tidade de razão, por exemplo como se o vácuo fosse compreendido ao m odo da quantidade, ou as trevas ao m odo da qualidade. Logo, nem todos os entes de razão se reduzem a estes dois, negação e relação. Responde-se que alguns julgam que a unidade de razão apenas é extraída da unidade do conceito, e que a distinção de razão é tirada da pluralidade de conceitos, o que é certamente verdadeiro da parte da causa eficiente ou causante do ente de razão. Mas no presente não inquirimos disto, mas da causa objectiva ou fundamental. Donde respondemos que a unidade de razão da parte do objecto pertence formalmente à negação ou à privação, porque não é mais que o isolar daquilo em que está o acordo 6 de muitos fazendo a diferença. E para primeira impugnação respondo que segundo S. Tomás, na passagem citada, a unidade materialmente e entitativamente é alguma coisa de positivo, mas formalmente é negação da divisão. E para a segunda impugnação respondo que não é contraditório que esta
6 Ccmvenientia, no original. O verbo convenire, em geral, podería ser traduzido por convir a, adaptar-se, acomodar-se, pertencer, estar de acordo, apropriado, adaptado, justificado... Em S. Tomás de Aquino, o termo assume um caracter eminentemente técnico. Na teologia tomista, em sentido restrito, convenientia é aquilo que convém a um ser, que é o seu bem, para o qual tende; e num sentido mais abrangente, é o que, sem pertencer necessariamente a um ser, nem ser requerido pelo seu telos, aperfeiçoa-o e pode coadjuvar na prossecução do seu fim próprio. Sempre que convenlens, e non convenietis (ilógico, absurdo, incoerente) não forem traduzidos literalmente, optou-se pelo vocábulo mais apropriado ao contexto em apreço.
76
unidade de ra2 ão seja também ente de razão; uma vez que a própria negação ou separação da pluralidade e diferença é recebida no intelecto ao m odo de um ente. E para a questão acrescentada sobre a dualidade ou distinção de razão, respondo que a distinção de razão formalmente é uma relação d e razão, e é a própria relação dos termos distinguidos, cuja distinção é um tipo de relação pelo próprio facto de serem apenas distinguidos por m eio da razão, embora os extremos distinguidos sejam eles próprios às vezes concebidos ao modo das coisas absolutas, como, por exemplo, ao m odo de duas substâncias. Mas esta relação de distinção é fundada não noutra dis tinção aceite formalmente, mas fundamentalmente, isto é, é fundada numa pluralidade virtual que se obtém da parte do objecto enquanto sujeito a uma pluralidade de conceitos. Para confirmação responde-se que todas aquelas coisas imaginadas são entes de razão, que são negação; não na verdade que existe e é dada uma substância de razão ou quantidade de razão, porque não é substância ou quantidade aquilo que é formado pela razão a partir da semelhança com os entes reais, mas antes negações da substância ou da quantidade concebidas à semelhança de uma substância ou quantidade. Também não é dito ente de razão aquilo por cuja semelhança alguma coisa é concebida, mas sim o que é concebido à semelhança do ente, embora em si não seja ente. Sobre este assunto veja-se mais pormenorizadamente adiante o capítulo A cerca da Relação. E disto segue-se que no universal metafísico, que expressa apenas a natureza abstraída e concebida à maneira da unidade, com õ diremos na questão seguinte, já é encontrada alguma coisa de razão, a saber, o que em virtude da abstracção convém à natureza representada ou conhecida, isto é, a unidade, ou aptidão, ou não repugnância para estar em muitos. Com efeito, estas negações são alguma coisa de razão, mas não são formalmente segundas intenções, que consistem na relação fundada nas naturezas assim abstraídas. O universal assim abstraído é dito metafísico, não lógico, porque nem todo o ente de razão formalmente e directamente pertence à Lógica, mas à segunda intenção, com o segundo S. Tomás mostramos n o artigo 3 da questão precedente. Mas a segunda intenção é uma relação de razão, não negação com o o é a unidade, e contudo convém à coisa abstraída e una.
77
Capítulo XI
O QUE É A SEGUNDA INTENÇÃO, A RELAÇÃO DE RAZÃO LÓGICA, E QUANTAS EXISTEM
A segunda intenção é o ente de razão, do qual propriamente trata o lógico, enquanto tal relação considerada pelo lógico é trazida a' partir da ordenação dos conceitos. E assim S. Tomás, no Livro IV dos Comentários à Metafísica de Aristóteles, lect. 4, diz que «o ente de razão é dito propriamente daquelas intenções que o intelecto introduz nas coisas consideradas, tal como a intenção da forma, espécie e outras semelhantes», e deste modo o ente de razão assim entendido é propriamente o objecto da lógica. Supomos aqui o que dos termos da primeira e segunda intenções dissemos no primeiro livro das Súmulas. E, no presente capítulo, ■intenção» é tomada não como exprimindo um acto de vontade, que diz respeito a um fim enquanto se distingue da escolha, mas como representando um acto ou conceito do intelecto, que é dito ser uma intenção de modo geral, porque tende para outro, ou seja, o objecto. E assim como um conceito num modo é formal, no outro objectivo, ou seja, é a própria cognição ou coisa conhecida, assim a intenção formal é um modo, a objectiva outro. Diz-se intenção objectiva a própria relação de razãò que é atribuída ã coisa conhecida; a intenção formal é o próprio conceito pelo qual a intenção objectiva é formada. Por exemplo, quando concebemos -animal» enquanto superior aos seus inferiores, a própria universalidade que se tem da parte do animal concebido é dita intenção objectiva ou passiva; mas o próprio conceito pelo qual o animal assim é concebido é dito intenção formal. E assim uma relação é a intenção formal, enquanto se distingue por
78
oposição da objectiva; mas a formalidade da segunda intenção, porque se obtém da parte do objecto conhecido, é outra coisa; com efeito, esta é sempre alguma coisa de razão, enquanto é algo resultando da cognição; mas a intenção formal é um acto real. Esta formalidade da segunda intenção é chamada «segunda intenção» segundo a diferença de uma primeira intenção, quase como se expressássemos um segundo estado ou condição do objecto. Pode com efeito um objecto ser considerado em dois estados: Prim eiro, segundo o que é em si, seja quanto à existência seja quanto à essência. Segundo, tal como é na apreensão, e este estado de ser na cognição é segundo a respeito do estado de ser em si, que ê primeiro, porque assim como a cognoscibilidade se segue da entidade, assim, ser conhecido é posterior àquele ser que o objecto tem em si. Logo, aquelas afecções ou formalidades que convêm ã coisa segundo ela própria são chamadas primeiras intenções; as que convêm à coisa segundo o modo como é conhecida são chamadas segundas intenções. Porque pertence à Lógica ordenar as coisas conforme existem na apreensão, assim, por si, a lógica considera as segundas intenções, que convêm às coisas enquanto conhecidas. Do que se deduz, primeiro, que nem toda a relação de razão é uma segunda M enção, mas toda a segunda intenção form alm ente tomada, e não sófundam entalm ente, é relação de razão, e nãoform a real nem relação extrínseca, com o alguns erradamente julgam . A primeira parte da conclusão é manifesta porque embora toda a relação de razão resulte da cognição, contudo nem toda esta relação denomina a coisa apenas no estado de conhecida, que é um estado segundo, mas algumas também denominam no estado da existência fora da cognição, assim como a relação do Criador e do Senhor não denomina Deus em si conhecido, mas Deus existente, e semelhante mente, ser professor ou ser juiz, pois o homem existente, não o homem enquanto conhecido, é professor ou juiz, e assim aquelas relações denominam um estado da existência. Aqui distingue que, embora a cognição seja a causa da qual resulta a relação de razão Co que é comum a todo o ente de razão), e assim como a relação de razão convém e denomina algum sujeito, neces sariamente exige a cognição, contudo nem sempre toma o próprio objecto apto e congruente para ser susceptível de tal denominação, para que a denominação convenha àquele objecto apenas no ser conhecido, pois isto só ocorre nas segundas intenções. E assim a relação do Criador e do Senhor, do juiz e do professor, como de nominam o sujeito, requerem a cognição, que causa tal relação, mas não tomam o sujeito no ser conhecido apto a receber aquela de nominação. !\"a verdade, a existência do gênero ou espécie não supõe
79
só a cognição que causa tais relações, mas também supõe a cognição que dá o sujeito abstraído dos inferiores, e sobre a coisa assim abstraída cai aquela denominação. A segunda parte da conclusão é expressamente a posição de S. Tomás no Opúsculo 42, cap. xn, onde diz que as segundas intenções são propriedades que pertencem às coisas como resultado de que estão e têm ser no intelecto; e em D e Potentia, q. 7, art. 9, diz que «(as segundas intenções) seguem-se do m odo de inteleccionar»; e no C om entário à M etafísica de Aristóteles, lect. 4, diz que as segundas intenções convêm às coisas enquanto conhecidas pelo intelecto. Logo, não são formas reais, mas de razão. E é certo isto, tanto porque a natureza do gênero e da espécie e restantes universais consiste na relação do superior para os inferiores, que não podem ser relações reais, pois de outro m odo seria dado o universal formalmente na ordem das coisas existentes; com o porque estas intenções supõem por fundamento um ser conhecido, assim como o gênero supõe a coisa sendo abstraída das inferiores e pertence a essa coisa em razão da abstracção. Logo, a segunda intenção supõe a denominação extrínseca da coisa conhecida e abstraída, mas não é formalmente a denominação extrínseca ela própria, e muito menos são as segundas intenções formas reais, de outro modo, com efeito, descenderíam às próprias coisas singulares nas quais seriam encontradas existindo realmente, e não apenas no que é abstraído dos singulares. Mas o próprio acto do intelecto é um tipo de acto real, contudo não é a própria segunda intenção objectiva da qual agora tratamos, mas a intenção formal, da qual resulta esta segunda intenção objectiva. Em segundo lugar, segue-se que embora a primeira intenção tomada absolutamente deva ser alguma coisa real ou conveniente a alguma coisa em estado de realidade — de outro m odo não seria simplesmente primeira, pois o que é real sempre precede e é anterior ao que é de razão — contudo, tam bém não é con tra d itório que um a segunda intenção seja fu n d a d a noutra, e assim a segunda intenção fitn d a n te reveste-se quase da con d içã o de prim eira intenção a respeito da outra fundada, não porqu e seja simplesmente prim eira, mas porque é a n terior àquela que fu n d a . Com efeito, com o ò intelecto é reflexivo acerca dos seus actos, pode conhecer reflexivamente a própria segunda intenção e sobre esta segunda intenção conhecida fundar uma outra segunda intenção; assim como a intenção d o gênero atribuída ao animal, pode, enquanto conhecida, novamente fundar a segunda intenção da espécie, sendo a intenção do gênero um tipo de espécie predicável. E então esta segunda intenção fundada denomina a segunda intenção fundante
80
como anterior, em razão do que se diz que o gênero formalmente é gênero, e denominativamente é espécie. Ocorre com frequência nestas segundas intenções, que uma segundo ela própria formalmente seja de tal tipo, e enquanto denominativamente conhecida seja de outro tipo. E contudo todas estas são ditas segundas intenções, embora uma seja fundada sobre outra, e não são ditas terceiras ou quartas intenções, porque todas pertencem ao objecto enquanto conhecido, e ser conhecido é sempre um estado segundo da coisa. E porque uma segunda intenção, enquanto funda outra se reveste quase da condição de primeira a respeito daquela que funda, assim mesmo aquela intenção que é fundada sempre é dita segunda. Dizes: a segunda intenção diz respeito à primeira com o correlativo, porque a segunda é dita por respeito à primeira, logo, a segunda intenção não diz respeito à primeira como fundamento mas como termo. Novamente: a segunda intenção é predicada do seu funda mento, como -o homem é uma espécie»; mas a segunda intenção não é predicada da primeira, pois isto é falso: «A primeira intenção é uma segunda intenção»; logo, a segunda intenção não é fundada numa primeira intenção. Responde-se para o primeiro argumento que a segunda intenção não diz respeito à primeira como correlativo à maneira de um termo, mas à maneira de um sujeito, e é atribuída à primeira intenção, denominando-a ou fundando-se nela. E assim, em relação à primeira intenção funciona como um sujeito, não como um termo; da mesma forma que a relação se reporta ao absoluto com o sujeito ou fundamento, não como correlativo m i excepto se este absoluto tiver a natureza de um termo, e então será correlativo não com o sujeito, como diremos na questão acerca da categoria de relação. E seme lhantemente o correlativo formal da segunda intenção sempre é alguma segunda intenção, como o gênero para a espécie e vice-versa. Para o segundo argumento diz-se que a segunda intenção é predicada da primeira em concreto, assim como o branco é predicado do homem, mas não em abstracto; e assim é verdadeiro que o homem é uma espécie, e falso que a primeira intenção seja segunda intenção. Pois também as segundas intenções podem ser significadas por um nome abstracto, tanto em geral por este nome «segunda intenção-, como em particular com este nome -universalidade-, -generalidade- e semelhantes, que apenas implicam uma forma de razão em abstracto, contudo não significam directamente o sujeito ou coisa na qual são fundados, mas obliquamente; assim como a brancura em abstracto implica indirectamente um corpo, porque é uma qualidade de um corpo.
81
Se perguntas quantos tipos há de segunda intenção e de que m odo se dividem, respondo que todas as relações são divididas em razão do seu fundamento próximo ou razão fundante, com o diremos ao tratar da categoria de relação. Donde semelhantemente a relação de razão, que é formada à semelhança da relação real, é correctamente dividida através dos seus fundamentos. Mas com o o fundamento da segunda intenção é a coisa conhecida e enquanto sujeita ao estado de apreensão, a divisão da segunda intenção tira-se de acordo com as diversas ordens do conhecido, para cuja ordenação a segunda intenção é formada. Donde, porque a primeira operação d o intelecto é ordenada e dirigida de um modo, a segunda operação de outro, e a terceira ainda de outro, então as segundas intenções podem ser divididas de m odo diverso, de acordo com as diversas ordenações destas operações, e em cada operação haverá diferentes intenções segundo as diversas ordens de dirigibilidade. Assim com o na primeira operação uma coisa é intenção do termo, que é ordenado como parte da enunciação e do silogismo, ordem essa sob a qual as diversas intenções de uma parte estão contidas, por exemplo a razão do nome, a razão do verbo e de outros termos; e outra é a intenção de universalidade ao m odo de um predicável superior, que também é dividido em vários modos de universalidade, com o o gênero, espécie etc., ao qual corresponde a intenção de sujeitabilidade, tal com o é encontrada no individual e noutros predicados inferiores. Na segunda operação encontra-se a intenção da oração, a qual é dividida através dos vários modos da oração perfeita e imperfeita. Novamente a proposição, que é uma das orações perfeitas, é dividida em afirmativa e negativa e outras divisões que explicamos no segundo livro das Súmulas. E novamente a proposição funda outras segundas intenções, que são propriedades da proposição, tal como a oposição e a conversão, que pertencem a toda a proposição; e a suposição e a ampliação, o predicado e o sujeito e outras semelhantes, que são propriedades da parte da proposição, como foi explicado no mesmo livro. Finalmente na terceira operação está a intenção da consequência ou da argumentação, que é dividida em indução e silogismo; e a indução procede por ascensão dos singulares para os universais e descensão dos universais para os singulares; o silogismo através de vários modos e figuras, das quais já se falou no mesmo livro.
82
Capítulo 1 TI
POR QUE POTÊNCIA E ATRAVÉS DE QUE ACTOS É FEITO O ENTE DE RAZÃO
Não há dúvida de que as potências pelas quais é feito o ente de razão devem ser potências operantes imanentemente; pois as potências que operam transitivamente, é manifesto que produzem alguma còisa existente fora do intelecto. Mas, das potências imanentes, algumas são cognitivas, outras apetitivas. E acerca das apetitivas, alguns disse ram que o ente de razão resulta da vontade, com o Escoto, contra quem fala Caetano no seu Com entário ã Suma Teológica, q. 28, art. 21. Note-se contudo que Escoto, no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 26, q. 2, parece ter falado do ente de razão não estritamente, mas enquanto este nome ■razão" compreende o intelecto e a vontade. Alguns estendem esta capacidade de produzir entes de razão a toda e qualquer potência, da qual resulta num objecto uma denominação extrínseca, pois julgam que o ente de razão consiste na denominação extrínseca 7, questão de que falamos no artigo precedente. Acerca da potência cognitiva, contudo, pode duvidar-se se ao menos os sentidos internos, com o a imaginação ou a fantasia, não produzem entes de razão, porque os sentidos internos constroem e imaginam muitas coisas que são entes inteiramente construídos e fictícios.
7Denom inação extrínseca é o acto pelo qual se atribui um nome às coisas, nome esse que só exprime relações com outros objectos, distinguindo-se da denominação intrínseca, que é o acto pelo qual se atribui um nome às coisas quando exprime propriedades intrínsecas de um objecto.
83
Quanto ao acto que forma o ente de razão, dois pontos podem também ser dúbios: P rim eira se um ente de razão pode ser formado por um acto absoluto, que é uma operação simples, ou se essa produção requer um acto comparativo ou compositivo. Segunda se o ente de razão requer, para existir, um acto reflexivo pelo qual haja conhecimento acerca do próprio ente de razão com o formado de um objecto conhecido; ou se, na verdade, basta um acto directo pelo qual é conhecida alguma coisa que não é ente, mas que é apreendida à maneira do ente real. Acerca disto, digo em primeiro lugar: nem a vontade nem os sen tidos externos form a m entes de razão, pois nem em virtude de um acto da vontade, nem em virtude de um acto dos sentidos externos os entes de razão teriarn existência. A conclusão é certa e é provada por uma única razão, porque tanto a vontade com o os sentidos externos não formam o seu objecto, mas supõem-no formado fora de si. Logo, não constroem alguma coisa no interior de si, mas se apreendem um objecto fictício, supõem que é construído e formado por outra potência. A antecedente é patente na vontade, que supõe o objecto proposto pela cognição, seja verdadeiro seja aparente; logo, a própria vontade não faz o objecto, mas é conduzida ao objecto proposto. Mas os sentidos externos são conduzidos para os objectos postos fora de si, não no interior de si; e é evidente que o que quer que tenha ser e existência fora da potência cognoscente não é ente de razão. Nem obsta que os sentidos se enganem em muitos casos, e assim conheçam apenas ficticiamente. Com efeito, os sentidos externos não falham em si, mas diz-se serem enganados ocasionalmente, porque oferecem ao intelecto ocasião para que se engane, assim como a vista que vê o ouropel, não falha julgando que é ouro, pois este juízo pertence ao intelecto. A vista apenas apreende aquela aparência de cor dourada, na qual não há falsidade ou ficção. Digo em segundo lugar: os sentidos internos, form alm ente falando, não form a m entes de razão, embora m aterialmente possam representar a qu ilo p o r cuja proxim id a d e algum ente fic tíc io é form a d o, o que é, m aterialm ente, fo rm a r entes de razão. Dizemos que os sentidos internos, «formalmente falando», não formam entes de razão, isto é, não o fazem discernindo entre ente de razão e ente real, e concebendo o que não é ente à semelhança do ente real. Materialmente, contudo, conhecer o ente de razão é atingir a própria aparência do ente real, mas não discernir entre o que é de razão e o que é real. Por exemplo, a potência imaginativa pode formar um monte dourado, e, semelhantemente, um animal composto a partir da cabra, do leão e da serpente, que é uma quimera.
84
Mas nestas construções atinge apenas o que é sensível ou representável aos sentidos. Contudo, o sentido interno não atinge o facto de terem os objectos assim conhecidos uma condição relativa ao não ente, e que desta condição relativa sejam ditos entes fictícios ou de razão, o que será formalmente discernir entre ente e não ente. A razão parece manifesta, porque o sentido interno não pode referir-se a alguma coisa, excepto sob a razão do sensível; mas que isto que lhe é representado a si como sensível se oponha ao ente real não pertence ao sentido interno julgar, porque este não concebe o ente sob a razão do ente. Que, contudo, alguma coisa seja recebida enquanto ente construído ou fictício, formalmente consiste nisto, que seja conhecido nada de entitativo ter nas coisas do mundo, e todavia seja atingido à semelhança do ente; de outro modo, não se distingue entre ente real e fictício, mas apenas é atingido aquilo à semelhança do que é formado o ente de razão. Quando é alguma coisa sensível, não repugna que seja conhecido pelo sentido, mas o sentido apenas atinge o que é sensível num objecto, enquanto a condição relativa ao não ente em cujo lugar o objecto é sub-rogado e donde ficticiamente tem ser, não pertence ao sentido. E assim o sentido não distingue o ente construído sob a razão fonnal d o ente fictício, de um ente verdadeiro. Mas que o sentido materialmente possa conhecer o ente construído é manifesto. Não, na verdade, porque também o sentido externo ■pode conhecer uma cor fictícia ou aparência, porque esta cor, embora seja a cor de um objecto apenas aparentemente, contudo não é um ente fictício, mas verdadeiro e real, isto é, alguma coisa resultante da luz. Mas que O sentido interno atinge entes de razão é provado pelo facto de que compõe muitas coisas fora de si, que de nenhum m odo existem ou podem existir. Logo, o sentido conhece alguma coisa que é em si um ente construído ou fictício, embora não apreenda a própria ficção, mas apenas o que, no ente fictício, se oferece como sensível. Contudo a privação d o próprio objecto, com o as trevas, não é percebida pelo sentido construindo-a à maneira do ente, mas por não eliciar um acto de ver. Digo em terceiro lugar: o intelecto necessita de algum acto com p a ra tivo p a ra que fo rm e o ente de razão, e este seja d ito existir form alm ente, e não apenas fundam entalm ente. Esta conclusão é retirada de S. Tomás no comentário ao D e Intetpretatione, I, lect. 10, onde diz que «o intelecto forma intenções deste m odo [falava dos Universais], segundo compara estas com as coisas que estão fora da alma». E no D e Potentia, q. 17, art. 11, diz que as relações de razão que o intelecto encontra e atribui às coisas inteleccionadas são uma coisa, outra bem diferente são as relações
85
mentais que resultam do m odo de inteieccionar, embora o intelecto não tenha consciência daquele modo, o qual é consequência do m odo de inteieccionar. E, às primeiras relações deste tipo, a razão chega considerando a ordem do que está no intelecto para as coisas que estão fora dele, ou também considerando a ordem das coisas inteleccionadas mutuamente; mas as outras relações são consequência de que o intelecto intelecciona uma coisa em ordem para outra. Por isso, S. Tomás julga que todas as intenções de razão são formadas por algum acto de comparação. E a razão desta conclusão é que todo o ente de razão, ou é relação ou alguma negação. Se é relação, deve ser apreendido com parativamente para o termo. Se é negação, deve ser concebido po sitivamente à semelhança do ente, que é concebido comparativamente para outro. Se esta negação é concebida absolutamente, não é concebida positivamente, porque em si nada há de positivo. Logo, deve ser concebida ao m odo do ente, não só porque da parte do princípio de conhecer deve ser concebida pela espécie real, mas também porque da parte do termo conhecido, deve ser recebida à semelhança do ente. E isto exige alguma apercepção comparativa, assim como quando ao conceber Roma à semelhança de Toledo, concebo Roma comparativamente e não absolutamente, pois conce bo-a conotativa e respectivamente a outro. Assim, quando concebo' a negação à semelhança do ente, concebo-a não absolutamente, mas respectiva e comparativamente. Contudo, a relação de razão, porque de si é expressa positiva e não negativamente, exige uma cognição comparativa noutra base, porque a relação é um tipo de comparação para um termo, e novamente porque é concebida à semelhança da relação real, embora em si seja expressa positivamente. Pelo nome *acto comparativo», contudo, não só inteleccionamos a comparação compositiva ou predicativa, que pertence à segunda operação do intelecto, mas qualquer cognição que conceba o seu objecto com uma conotação e ordem para outro, o que também pode ocorrer fora da segunda operação do intelecto, com o quando apreendemos a relação pela ordem para um termo. O ente de razão pode também ser feito por comparação com positiva ou discursiva. Na verdade, porque o intelecto afirma existir alguma coisa como a cegueira, Aristóteles, no Livro V da M etafísica, e S. Tomás no seu comentário a esta obra, lect. 9, e em inúmeros outros lugares, provam que a cegueira é um ente de razão. Por aquela enunciação pela qual alguma coisa é afirmada do não ente, o não ente é concebido positivamente, com o se fora ente, pela conotação da forma verbal »é». E disse, na conclusão, que o entendimento requer um acto comparativo «para que o ente de razão seja dito existir formalmente
c nào apenas fundamentalmente». Com efeito, o fundamento da relação dc razão nào requer esta comparação, como é patente quando uma natureza é despojada das condições de individuação pela abstracção simples, e contudo em tal caso não existe acto de comparação, mas apenas uma precisão a partir do inferior. Mas então o universal não é um universal lógico formalmente, mas um universal metafísico, que é fundamento da intenção lógica, com o diremos na questão rv, A cerca da causa do conceito universal 8. Donde coliges que nas relações de razão é feita a denominação ainda antes que a própria relação seja conhecida em acto pela comparação, apenas por isto: que o fundamento é posto. Por exemplo, uma natureza é denominada universal pelo próprio facto de que é abstraída, mesmo antes de ser comparada em acto; e as letras no livro fechado são signos, mesmo se a relação do signo, que é de razão, não é considerada em acto; e Deus é denominado Senhor, mesmo se a relação do Senhor não é considerada em acto, mas por razão da potência denominativa. Nisto diferem as relações de razão das relações reais, porque as reais não denominam, excepto se existirem, assim como alguém não é dito pai a não ser que tenha em acto relação para o filho; nem uma coisa é dita semelhante a outra se não tiver semelhança com ela, embora possa ter fundamento. A razão desta diferença é que nas relações de razão, ser actual consiste em ser conhecido objectivamente, o que não provém do fundamento -nem do termo, mas do intelecto. Donde muitas coisas podem ser ditas de um sujeito por razão do fundamento, sem que daí resulte uma relação, porque esta não se segue do próprio fundamento e termo, mas da cognição. Mas nas relações reais, uma vez que a relação naturalmente resulta do fundamento e do termo, nada convém numa ordem para o termo em virtude do fundamento, excepto por meio da relação. Inteleccionamos, contudo, que esta denominação surge do fundamento próximo absolutamente falando, mas não de todo e qualquer modo, porque não sob aquela formalidade pela qual é denominado pela relação como conhecido e existente; com efeito, Deus é denominado Senhor, mas não relacionado antes da relação. Isto não ocorre nas relações reais, porque quando a relação não existe, o seu fundamento de nenhum m odo denomina em ordem para o termo. Digo por último: a cognição form a n d o o ente de razão não é reflexiva a respeito daquele ente enquanto coisa conhecida; mas aquela
8 Esta referência reporta-se a uma questão do Curso Filosófico que não está incluída na presente tradução.
87
cognição directa que denom ina o p róp rio não ente real, ou ente que não ê relativo realmente, conhecido à sem elhança do ente ou da relação real, é d ita form a r, ou dela resultar, o ente de razão. A razão disto é manifesta porque tal cognição que denomina o próprio ente de razão como conhecido reflexivamente e enquanto “Objecto que", supõe o ente de razão formado, uma vez que a cognição é feita sobre o próprio ente de razão, enquanto sobre o termo conhecido. Logo, tal cognição reflexiva não forma primeiro o próprio ente de razão, mas supõe que este tenha sido formado, e com o que examina o próprio ente de razão. Donde, da intenção assim re flexivamente conhecida não é feita a denominação no sujeito que conhece, como quando um anjo ou Deus inteleccionam que o homem forma silogismos ou proposições, não se diz por causa disso que Deus silogiza ou enuncia proposições, e contudo intelecciona quase como se em acto reflexivo e significado o próprio silogismo e a própria proposição e intenções lógicas. E sucede o mesmo quando alguém intelecciona estas intenções examinando a natureza delas; pois então as próprias intenções examinadas não são formadas, mas sobre elas outras são fundadas, enquanto são conhecidas no universal ou por riieio da predicação, etc. E assim, diz S. Tomás, Opúsculo 42, cap. m, que o ente de razão é produzido precísamente quando o intelecto tenta apreender alguma coisa que não existe, e assim constrói' aquele não ente como se fora um ente. E no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, 1, dist. 2, q. 1, art. 3, diz que as intenções são consequência -do m odo de inteleccionar as coisas que estão fora da alma>. Logo, o que formalmente e essencialmente primeiro forma o ente de razão não é a cognição reflexiva, pela qual precisamente o ente de razão é denominado conhecido como sendo de razão, mas a cognição pela qual o que não é (não existe), é denominado conhecido à semelhança do que é (o ente real).
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro, argumenta-se: muitas outras potências para além do intelecto versam acerca do não ente, atingindo e ordenando o não ente à semelhança do ente real; logo, estas outras potências também formarão entes de razão. A antecedente é provada na vontade e no sentido interno. Pois a vontade procura dirigir-se para um bem aparente que não é um bem de facto; também ordena um bem para outro, com o m eio para um fim, o que algumas vezes não é verdadeiramente m eio nem verda deiramente ordenado. Logo, compara um com outro, comparação essa que não existe de facto, e isso é formar um ente de razão.
88
Semelhantemente o sentido, em especial o interno, compara um objecto com outro, formando proposições e discursos acerca dos singulares, e das diversas espécies de coisas forma o ente fictício, assim como a partir do ouro e do monte forma o monte dourado, como ensina S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 12, art. 9, resp. obj. 2. Logo, o sentido conhece o ente construído ou fictício. E, geralmente, de todo o sentido, segue-se a denominação extrínseca do conhecido, que é o ente de razão. Responde-se: nego o antecedente. Para prova responde-se que a vontade, como é trazida ao objecto conhecido e apreendido, não conhece formalmente aquele objecto nem lhe dá ser através da razão, mas apenas isto que resulta do acto do apetite é alguma denominação extrínseca. que é ente de razão fundamentalmente; mas apenas quando é conhecido em acto à semelhança da forma ou relação real, existe em acto. Logo, a própria vontade não constrói o bem aparente, mas supõe um objecto conhecido e que lhe é proposto, e assim não forma o próprio objecto. Mas a ordenação do meio para um fim também é proposta à vontade pelo intelecto, pois a própria vontade, de facto, só pelo apetite ordena, não pelo conhecimento. Tal orde nação põe uma denominação extrínseca na coisa ordenadamente desejada, mas não torna formalmente o ente de razão conhecido. A o que é acrescentado acerca do sentido, responde-se que o sentido interno assim compara um objecto com outro formando a proposição e o discurso; que o sentido não conhece formalmente a própria ordenação do predicado e do sujeito e do antecedente e do consequente distinguindo uma relação construída de uma real. E semelhantemente o sentido conhece o monte dourado quanto ao que é sensível naquelas partes representadas do ouro e da montanha, não quanto à razão da ficção ou construção enquanto se distingue da realidade. O que é conhecer não formalmente aquilo que na razão de ente é construído, mas conhecer materialmente aquilo à semelhança de que é construído aquilo que em si não é. Contudo a denominação extrínseca que se segue da cognição do sentido, enquanto denominação extrínseca não é relação de razão formalmente, mas fundamentaímente; então é relação de razão formalmente quando é conhecida à semelhança da relação real. Segundo, argumenta-se: a apreensão simples do intelecto também não compara nem distingue a razão do ente construído da razão do ente verdadeiro, porque de outro m odo não seria apreensão simples, mas apreensão comparativa ou compositiva com outro. Logo, o intelecto, quando procede à apreensão simples, não forma o ente de razão, formalmente falando, assim como não o fazem os sentidos internos.
89
E é confirmado porque a apreensão simples não é ficção nem construída; com efeito, a construção está sujeita à falsidade, enquanto a apreensão simples é sempre verdadeira, precisamente porque representa a coisa como é em si ou como lhe é proposta. Logo, o objecto da apreensão simples não é um ente construído, e conse quentemente também não é um ente de razão. Responde-se que a apreensão simples não compara um objecto com outro afirmando ou negando, mas na verdade compara distinguindo um objecto do outro e atingindo a ordem de um para o outro, assim como conhece as coisas que são relativas e atinge a definição da coisa, a congruência dos termos e a distinção das categorias. Donde ao discutir as categorias, segundo o Filósofo, está-se a tratar da apreensão simples, como diz S. Tomás no seu comen tário ao D e Interpretatione, I, lect. 1. A apreensão simples tem, com efeito, suficiente comparação para formar o ente de razão. A o sentido interno não negamos a formação do ente de razão a partir da ausência da comparação, mas a partir da ausência de um conhecimento da universalidade, porque o sentido não conhece as razões mais universais distinguindo entre o ente verdadeiro e o construído, que é algo que a apreensão simples faz; com efeito, a apreensão simples distingue entre as coisas categoriais e as que não estão na categoria, do ente real. Para confirmação d igo que a apreensão simples não é uma construção ao m odo da enunciação afirmando ou negando, no que consiste a construção, que é engano ou falsidade; mas bem pode ser construção ao m odo da formação, apreendendo alguma coisa que não existe no mundo, ou uma coisa impossível, ao m odo do ente, e discernindo a própria coisa impossível do ente verdadeiro e real. Donde nem sempre a apreensão simples apreende a coisa com o é em si, no sentido de nunca apreender uma coisa à semelhança de outra, porque apreendemos muitas coisas não por conceitos próprios mas por conceitos conotativos; mas a apreensão simples apreende a coisa com o é em si, isto é, apreende-a sem a adição da composição, razão pela qual se diz também que a apreensão simples não é falsa, porque formalmente não julga nem enuncia, e é apenas nisto que consiste a verdade ou falsidade formal. Mas a apreensão simples pode bem apreender alguma coisa que não existe à semelhança do que existe, sem que afirme ou negue. Por último argumenta-se: o ente de razão pode existir sem o acto comparativo, logo, também pode ser formado sem o acto comparativo. A antecedente prova-se: em primeiro lugar, quando no próprio exercício é formada alguma proposição ou silogismo, resulta uma segunda intenção e a própria proposição é denominada «ser», e
90
contudo a relação não é então conhecida comparativamente para o seu termo ou à semelhança da relação real. D o mesmo modo, quando o próprio ente de razão é dito ser conhecido reflexivamente, tem existência por este conhecimento, porque na verdade objectivamente termina a cognição, o que é existir objectivamente. Nem existe alguma razão pela qual uma natureza real concebida e conhecida em geral seja dita existir objectivamente, mas que um ente de razão conhecido em geral não seja dito existir objectivamente. Contudo, um ente de razão é conhecido em geral quando reflexivam ente é tom ado conhecido em acto significado. Por último, Aristóteles, no Livro V da M etafísica, e S. Tomás no seu comentário a essa obra, lect. 9, dizem que a cegueira e qualquer ente de razão é dito existir pelo factõ de que a proposição pela qual dizemos: «a cegueira existe» é verdadeira. Mas quando esta proposição é formada, a privação não é considerada à semelhança do ente, nem é feito o acto comparativo, o acto de cognitivamente comparar o ente com o não ente; logo, o ente de razão existe formalmente sem tal acto. Responde-se: nego a antecedente. Para primeira prova digo que quando é formada a proposição, não existe ainda formalmente a segunda intenção da proposição, mas fundamentalmente proximamente; assim com o quando a natureza universal é abstraída dos singulares, não existe ainda uma intenção de universalidade, mas o seu fundamento. Contudo, a proposição e o silogismo são denomina dos d o próprio facto de que são formados em exercício, assim como alguma coisa é denominada universal metafísico p elo próprio facto de ser abstraída. Pois, como dissemos acima, a denominação da forma de razão também pode ser tida do próprio fundamento próximo, antes que formalmente a forma de razão seja conhecida e exista. Para segunda prova digo que o ente de razão, quando é conhecido reflexivamente, existe objectivamente como denominado extrinsecamente no ser daquilo que é conhecido, não com o formado pri meiramente. Mas terminar a cognição como se extrinsecamente e enquanto aquilo sob o que cai a cognição, não é ser formado na razão do ente, mas ser suposto formado, e assim pressuposto ser denominado por uma cognição reflexiva, que é com o se fosse segunda, não primeira, a respeito do ente de razão. Mas quando o ente de razão é conhecido em geral, não é dito ser formado, porque já é suposto formado; mas é formada a própria universalidade ou comunidade sob a qual é conhecido. Todavia, a natureza real, quando é conhecida no universal, não é aquilo que é formado, mas a sua universalidade, que então primeiramente à semelhança da relação é recebida, quando o objecto é conhecido relativamente aos inferiores. Para última prova diz-se que quando é formada aquela proposição «a cegueira existe», a proposição «a cegueira» é considerada com o
existente no próprio exercício de formar, e portanto à semelhança d o ente real, e assim formalmente é um ente d e razão, e é en tão conhecido comparativamente tanto a respeito d o seu predicado com o a respeito daquilo por cuja proximidade é concebido com o existente.
C apítu lo IV
SE DA PARTE DAS COISAS REAIS SE DÃO RELAÇÕES QUE SEJAM FORMAS INTRÍNSECAS
Falando da relação em toda a sua latitude, enquanto com preende a relação transcendental e a categorial, a relação segundo o ser dito e a relação segundo o ser 9, não encontro ninguém que absolutamente negue toda a relação. Com efeito, nem os antigos filósofos negavam as relações segundo o ser dito, com o consta do texto d o capítulo «Sobre a Relação», das Categorias, em bora no m esm o capítulo Aristóteles tenha estabelecido contra aqueles antigos a relação categorial, que difere totalmente de um ente absoluto. Falando portanto das relações neste sentido, enqu anto se distinguem de toda a entidade absoluta, que só pertence às relações segundo o ser, alguns julgaram que as relações nada mais são do
9 Secundam esse, e secundum dici, no orginal, e traduzido aqui p o r «relação segundo o ser-, ou ontológica: e «relação segundo o ser dito», ou transcendental, q u e c orresp o n d em à distinção elaborad a p e lo s m edievais secu n d u m res, secundum verba. A relação ontológica, tal com o foi primeiramente formulada por Aristóteles, é aquela na qual os relativos têm todo o seu ser para outro; a sua essência é referir-se, ser relação a alguma oucra coisa — secundum esse refere-se portanto não à existência das relações, mas a este seu m od o particular de existir. Já a relação transcendental é a ordem para um termo exterior quan do essa ordem está incluída numa realidade absoluta e concorre para a definir. A realidade absoluta é então referida a um objecto exterior a ela própria, existente o u não. Transcendental aplica-se aqui no sentido de que a relação perpassa e pod e ser encontrada em diversas categorias d o ser, visto tratar-se da pura gen eralidade q u e p o d e ser aplicada a uma vastíssima categoria d e entes.
93
que, ou a denominação extrínseca, ou alguma coisa de razão; visão que é habitualmente atribuída aos nominalistas e aos que não distinguem as relações reais de um fundamento. Mas estes últimos falam, de longe, num sentido muito diverso, com o veremos mais abaixo ao tratar desta dificuldade. Finalmente, alguns julgam que as relações não convêm às coisas excepto segundo o ser objectivo, e são apenas afecções intencionais pelas quais comparamos umas coisas com outras. Donde constituem as relações não -respectivamente a*, mas numa comparação; no mundo r e a l10, contudo, todas as relações são segundo o ser dito, porque o relacionado nada mais é que uma coisa absoluta, conhecida por comparação com outro. E querem que esta seja a opinião de Aristóteles no capítulo «Sobre a Relação» das Categorias, e Livro V da Metafísica, cap. 15. E outros citam S. Tomás, na Sum a Teológica, III, q. 7, art. 2, resp. obj. 1, onde ensina que alguma coisa é denominada relativa não só pelo que está nela, mas também pelo que lhe é adjacente extrinsecamente. Finalmente, com o iniciamos por este último ponto, de maneira nenhuma p od e esta opinião ser atribuída ao Filósofo, com o é manifesto no capítulo »Sobre a Relação», das Categorias, que rejeita esta definição dos antigos, porque só definiram o relativo segundo o ser dito, p elo que da sua definição se segue que também a substância, e qualquer ente que seja expresso por dependência e comparação para outro, é alguma coisa de relativo. Mas Aristóteles, definindo o relativo, diz que: «são aquelas coisas cuja totalidade do seu ser se orienta para outro». Todavia, na opinião dos que admitem apenas as relações segundo o ser dito, a totalidade do ser do relativo não se orienta para outro, uma vez que o ser que têm nas coisas reais é absoluto; na verdade, só dizem «respeito a» porque são conhecidos comparativamente em relação a outro. Logo, a tais relativos
Secundum dici trata-se então da forma com o as coisas, embora mantendo em si, de alguma forma, uma certa realidade absoluta, podem ser definidas pela sua referência a um termo exterior. É por esta razão que John Deely, um dos tradutores americanos de João de São Tomás, recusa situar as relações segundo o ser dito apenas no plano linguístico, preferindo, na sua tradução, dilatar a abrangência do termo traduzindo-o por «relation according to lhe w ay being m ustbe expressed in discourse- (itálico nosso). Defende, pois, que em oposição a situar o secundum dici no plano meramente linguístico, o termo exprime, antes de mais, a realização na ordem d o discurso de uma obrigação (must) imposta a essa ordem pela própria realidade. Já Yves Simon et aí. optaram pela fórmula -according to expression- e «acording to existence». Sendo secundum dici a forma com o os seres são expressos depois de submetidos ao processo de semiose, optou-se aqui p or traduzi-lo o mais literalmente possível, de acordo com os usos da época, como -segundo o ser dito*. 10 Jn re, no original.
94
nào convém a definição de Aristóteles de que todo o seu ser se orienta para outro. Donde frustradamente Aristóteles emendaria a definição dos antigos se só admitisse as relações segundo o ser dito; estas, com efeito, não as negavam os antigos, nem que são conhecidas comparativamente em relação a outro. E isto bem notava Caetano, no seu comentário a este capítulo «Sobre a Relação», que nesta definição o Filósofo definiu a relação segundo a natureza que tem, nào segundo o que é conhecido ou expresso, e assim diz «são para alguma coisa» e não «são expressos em relação a alguma coisa»; mas na definição dos antigos dizia-se «são expressos em relação a alguma coisa». Logo, o Filósofo estabelece que as relações reais são distintas das relações segundo o ser dito. Da opinião de S. Tomás não podemos duvidar, pois publicamente impugna os que dizem que a relação não é uma coisa da natureza, mas alguma coisa de razão. Veja-se a Sum a Teológica, I, q. 13, art. 7; q. 28, art. 2, e q. 39, arts. 1 e 2; e também a Suma contra os Gentios, II, cap. 12 e q. 7; e D e Potentia, arts. 8 e 9, e q. 8 art. 2, e em mil outros locais, mas principalmente nestes, claramente afirma que a relação é algum a coisa de real e um acidente inerente. O fundamento disto é que as relações segundo o ser dito têm um ser absoluto e não são totalmente para outro; enquanto âs relações de razão não existem excepto no intelecto que apreende, a partir do qual têm ser objectivamente; mas, à parte qualquer consideração do intelecto, também se encontram na realidade algumas coisas que não têm outro ser que o ser para outro. Logo, podem ser encontradas relações reais que não são segundo o ser dito, e assim podem constituir uma categoria à parte da categoria das coisas absolutas. A antecedente prova-se porque, à parte a consideração do intelecto, encontram-se na realidade algumas coisas às quais nenhum ser absoluto ou independente de qualquer relação pode ser atribuído. Pois, por exemplo, encontra-se a ordem no exército ou no universo ordenado; encontram-se a semelhança, a dependência, a paternidade e outras coisas semelhantes que nenhum ser absoluto pode explicar, e todo o ser delas se orienta para outro. O signo disto é que, quando o termo da relação se torna não existente, a semelhança ou a paternidade desaparecem. Mas se o ser destas coisas fosse alguma coisa absoluta, não desaparecería apenas por causa do desaparecimento do termo. Ora negar que estas coisas se dão nas coisas reais quando nenhum intelecto as forma e constrói, é negar o que até o mais rústico dos homens reconhece na natureza. Esta razão é muitas vezes usada por S. Tomás, e indica outra no Com entário às Sentenças de Annibaldo, I, dist. 26, q. 2, art. 1, retirada da crença na existência de relações divinas, que, enquanto se
95
distinguem entre si, se dão realmente da parte da realidade; de outro modo, as pessoas relativas não se distinguiriam realmente, â parte do intelecto que as considera, o que seria herético. Todavia as relações divinas não são distinguidas, a não ser enquanto são puras relações segundo o ser. Se, com efeito, de outro m odo que na pura relação fossem distinguidas, havería não apenas coisas relativas divididas em Deus, mas também coisas absolutas, o que é absurdo. Logo, existem em Deus relações reais, embora pela suma simplicidade divina sejam identificadas com a substância. Porque repugna então ao que é criado que se dêem tais relações reais, relações que não são substância nem infinitas? Finalmente, de que m odo o intelecto forma puros actos relativos, se nada mais tem que coisas absolutas ou relações segundo o ser dito, à semelhança das quais as forma? Relações formadas pelo intelecto serão então meras construções, porque não têm no real puras e verdadeiras relações, à semelhança das quais sejam formadas. Nem pode ser dito que estas relações se dão nas coisas reais, mas ao m odo da denominação extrínseca, não da forma intrínseca. Pois contra isto está o facto de que toda a denominação extrínseca provém de alguma forma real existente em outro sujeito, assim com o ser visto ou conhecido provém da cognição existente no sujeito cognoscente. Logo, se a relação é denominação extrínseca, provém de alguma forma existente em outro sujeito. Logo, aquela forma em si é ou relação, ou entidade absoluta. Se é relação, já é dada uma forma relativa intrínseca, pelo que, do mesmo m odo que é dada naquele sujeito, também podería ser dada noutro. Mas se é uma forma absoluta, e contudo extrínsecamente informando, de que modo pode provir daquela a denominação relativa? D e facto, a forma absoluta não é emanada do efeito formal relativo, nem intrínseca nem extrínsecamente; assim como ser visto não é a denominação de uma relação na parede, mas de terminação; e embora seja concebida por nós ao m odo dé uma relação, de facto nas coisas não é relação. Finalmente, os que sustentam tal opinião acham duríssimo explicar isto: de que m odo há três pessoas relativas na processão divina, constituídas e distintas na realidade, se as relações são denominações extrínsecas; e de que forma absoluta tais denominações provêm. Se, contudo, em Deus, as relações não são denominações extrínsecas, mas formas intrínsecas, embora substanciais e identificadas com a divina substância, porque diremos que tal gênero de ente relativo, embora não identificado com a substância, é impossível nas criaturas? Pelo contrário, as coisas criadas têm mais o fundamento de tal relação, porque são mais dependentes e ordenadas ou subordinadas para outro do que Deus. ,
96
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Objectas primeiro: a relação nada de real põe no sujeito, para além da denominação extrínseca de extremos coexistentes. Pois não é evidente como este modo, que é chamado relação, distinguindo-se das restantes formas absolutas, sobrevêm a uma coisa sem uma mutação intrínseca dela própria, se a relação é o seu modo intrínseco; nem é evidente de que m odo a relação seria causada novamente apenas pelo estabelecimento do termo a qualquer distância; como se, por exemplo, alguma coisa branca fosse produzida na índia, estando eu em Espanha, essa relação de semelhança resulta de tal termo distante, nem é produzida agora pelo agente que produziu a brancura aqui em Espanha, porque tal agente, muitas vezes, já deixou de existir na altura em que a relação resulta, logo, não pode então agir. Segundo, porque se vê aumentar ao infinito a multiplicidade de relações no mesmo sujeito, para todas as coisas que lhe são semelhantes, iguais, agentes, pacientes, etc. E, especialmente, porque também uma relação pode fundar outras, pois duas relações não são menos semelhantes do que duas coisas absolutas, e assim cresce ao infinito o número de relações. Finalmente, porque não se vê a necessidade de multiplicar estas entidades relativas, distinguindo-as das absolutas. Pois pelo próprio facto de que duas coisas brancas são postas, serão semelhantes sem que seja necessário estabelecer outra entidade ou modo; e, pelo próprio facto de que alguém gera, será pai, sem a adição de outra entidade. Logo, como nenhuma experiência é dada destas relações, e o outro discurso a favor da sua existência é suficientemente salvado pela posição de dois extremos, não se vê sólido fundamento de prova para que estas relações sejam formas intrínsecas. Donde S. T o más diz, na Suma a Toda a Lógica de Aristóteles, cap. m, que a rela ção não difere do fundamento, excepto por razão de um termo extrínseco. E na passagem da Suma Teológica acima citada, I-II, q. 7, art. 2, resp. obj. 1, ensina que uma coisa é denominada relativa não apenas pelo que está nela, mas também pelo que lhe advém extrínsecamente. À primeira objecção, responde-se que a relação se dá no sujeito sem nenhuma mutação que seja directa e imediatamente terminada à relação, mas não sem uma mutação que mediata e indirectamente seja terminada para aquela relação. Assim, tal com o a risibilidade resulta da mesma acção pela qual o homem é produzido, assim, da produção de uma coisa branca, é produzida a semelhança com outra coisa branca já existente. Mas se a outra coisa branca não existisse,
j
97
por virtude da geração da primeira coisa branca, essa semelhança e qualquer outra relação que resultaria de estabelecer os seus termos permanecería num estado virtual. Donde a distância nem induz nem obsta ao resultar da pura relação, porque estas relações não dependem de uma situação local; pois perto ou longe, um filho é da mesma maneira o filho de seu pai. Nem é a relação, no outro extremo, produzida pelo próprio termo através de alguma emissão de virtude, mas antes é a existência do termo que é condição para que, do fundamento antes posto, resulte a relação por virtude da primeira geração, pela qual esse fundamento é posto nas coisas da natureza como inclinando-se e respeitando qualquer termo de tal fundamento. Donde, embora a geração tenha agora cessado, permanece contudo no seu efeito ou força, enquanto deixa um fundamento suficiente para que uma relação resulte, assim como permanece no grave a virtude de ser movido para baixo quando um obstáculo é removido. E quando se insiste que Aristóteles ensina frequentemente que a relação não é termo de mutação, respondo não ser ela termo da mutação física por si e directamente; contudo, o Filósofo não nega que é o termo da mutação por acidente, isto é, por outro e secundário. Donde S. Tomás no seu comentário ao Livro V da Física, lect. 3, expressamente ensina que a mutação real é feita nas relações reais, nomeadamente alguma nova determinação segundo a qual é explicado em acto o que estava no fundamento. E no C om entário ã Metafísica, XI, lect. 12, diz que -em ser para alguma coisa não há movimento, excepto por acidente'. À segunda objecção respondo que não é inconveniente para estas relações serem multiplicadas todas as vezes que os fundamentos e os termos são multiplicados. Embora na posição que S. Tomás toma o número de relações seja muito menor, pois diz na Sum a Teoló gica, III, q. 35, art. 5, que uma relação numericamente una pode ser referida a termos numericamente diversos. Mas S. Tomás nega categori camente que uma relação seja fundada noutra relação, com o mais tarde largamente mostraremos. E sobre esta questão pode ver-se o D e Potentia, q. 7, art. 9, resp. obj. 2, e a Sum a Teológica, I, q. 42, art. 1, resp. obj. 4. A terceira objecção, digo que não é menor a necessidade de pôr este gênero de entidade relativa que o gênero de quantidade ou qualidade. Pois porque vemos os efeitos da quantidade e da qualidade e daí coligimos que são dadas tais formas; assim, do mesmo modo, porque vemos dar-se nas coisas da natureza o efeito de algumas coisas ordenadas e com relação para outras, como a semelhança, a paternidade, e a ordem; e porque vemos que nestas coisas este efeito de dizer «respeito a» não existe misturado com alguma razão absoluta,
98
mas todo o seu ser consiste em existirem «com respeito a»; é vendo isto que melhor coligimos a existência deste gênero de pura entidade relativa; assim como coligimos dos efeitos absolutos que existem entidades absolutas. Nem é necessário para isto maior experiência que no caso de outras formas acidentais, nas quais experienciamos os efeitos mas não a sua distinção da substância. Todavia, se Deus deixasse duas coisas brancas existirem sem que uma relação daí resultasse, permaneceríam semelhantes fundamentalmente, não formalmente. Quanto à interpretação dos textos de S. Tomás citados: para o primeiro, do Opúsculo 48, responde-se que o sentido da passagem reside no facto de a relação diferir do seu fundamento por razão do termo extrínseco, isto é, tomando a distinção do termo; mas a pas sagem não nega que a relação em si própria seja uma forma intrínseca, facto que S. Tomás afirma muitas vezes. E, especialmente, que é um acidente inerente ensina no D e Potentía, q. 7, art. 9, resp. obj. 7. Mas na segunda passagem da Suma Teológica, I-II, S. Tomás ensina apenas que a relação toma a denominação não só do que é intrínseco — isto é, enquanto é inerente — , mas também disto que lhe advêm extrinsecamente; isto é, do termo ou da ordem para aquele termo, que não tira, mas supõe que a relação seja inerente, o que é a exposição do próprio S. Tomás na passagem citada do D e Potentia e na Suma Teológica, I, q. 28, art. 2.
C apítulo V
O QUE É REQUERIDO PARA QUE ALGUMA RELAÇÃO SEJA CATEGORIAL
Para conhecer a relação categorial importa distingui-la da relação, de razão e da relação transcendental, que também costuma ser chamada relação segundo o ser dito. Para que esta distinção possa ser melhor percebida, supomos aqui a doutrina comum de que neste gênero de ente, que é chamado relação, três coisas devem concorrer, nomeadamente o sujeito, o fundamento e o termo. O sujeito, que é comum a todo o acidente, é aquilo que é formado e denominado pela relação. O fundamento é requerido enquanto razão e causa donde estas relações obtêm a sua entitatividade e existência. O termo é requerido com o aquilo para o que tende e em que subsiste este dizer respeito a. E embora seja requerida uma causa para toda a entidade e forma, contudo, diz-se que para a relação é requerido um fundamento num sentido especial, porque outras formas requerem a causa só para serem produzidas no ser para e existirem, enquanto a relação, devido ao seu carácter entitativo mínimo e porque, pelo seu próprio conceito, é ser para outro, requer um fundamento não só para que exista, mas também para que seja capaz de existir, isto é, para que seja uma entidade real. E assim diz S. Tomás, no C om entário às Sentenças pa ra A nnibaldo, I, dist. 30, q. 1, art. 1, que -a relação nada mais é que a referência de uma coisa a outra; donde, segundo a sua própria natureza, não tem que existir naquilo de que é predicada, embora algumas vezes o seja devido à causa da sua condição relativa». E a
100
mesma ideia é expressa no C om entário às Sentenças de Pedro Lombardo, % dist. 26, q, 2, art. 1, e na Suma Teológica, I, q. 28, art. 1, onde diz que «aquelas coisas que sâo ditas existir por relação com alguma coisa, Significam, segundo a sua própria natureza, apenas um dizer respeito a outro. Este dizer respeito, algumas vezes, está na natureza das coisas, como quando algumas coisas são ordenadas entre elas segundo a sua natureza». E a razão disto é que a relação, pelo seu carácter entitativo mínimo, não depende de um sujeito precisamente da mesma maneira que as outras formas absolutas, mas funciona como uma espécie de entidade terceira, consistindo em e resultando da coordenação de dois extremos; e assim, para que exista na natureza das coisas, a relação deve depender do fundamento que a coordena com o termo, e não apenas de um sujeito e de uma causa eficientes. A partir destas destrinças, não será difícil distinguir entre relações segundo o ser dito e segundo o ser, reais e de razão. Pois as coisas relativas segundo o ser e segundo o ser dito são distinguidas a partir do próprio exercício da relatividade, porque nas relativas segundo o ser toda a sua razão ou exercício é dizer respeito a, e assim são ditas respeitar o termo na razão do puro termo. Mas o exercício ou razão da relação segundo o ser dito não é puramente respeitar o termo, mas exercer alguma outra coisa donde se segue a relação; e por esta razão S. Tomás no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, II, üist.l, q. 1, art. 5, resp. obj. 8, estabeleceu em primeiro lugar que estes relativos segundo o ser dito envolvem um fundamento e uma relação, enquanto as coisas relativas segundo o ser expressam apenas a relação, porque bem se vê que as coisas relativas segundo o ser dito comportam-se para com o termo mais por fundarem a relação que por dizerem respeito em acto, e assim não dizem respeito ao termo em questão em razão do puro termo, nem segundo outra razão, por exemplo, a de uma causa ou efeito, ou de um objecto ou outras coisas semelhantes. Assim, a relação segundo o ser dito é constantemente distinguida nos escritos de S. Tomás, da relação segundo o ser, em que o principal significado da relação segundo o ser dito não é a relação, mas alguma outra coisa, da qual se segue a relação. Mas quando o principal significado de alguma expressão é a própria relação, e não alguma coisa absoluta, então é relação segundo o ser, como consta da Suma Teológica, I, q. 13, art. 7; e C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 30, q. 1, art. 2, e d o cap. 1 do Tratado sobre a Categoria de Relação, no Opúsculo 48, onde manifestamente ensina isto. O estabelecimento desta diferença também estabelece que numa expressão expressando uma relação transcendental — que não é
101
mais que a relação segundo o ser dito — a relação não é o seu principal significado, mas alguma coisa absoluta, da qual se segue ou pode seguir-se alguma relação. Com efeito, se não implica o absoluto, a relação não será transcendental, isto é, passando por diversas categorias, mas apontará apenas para uma categoria. Donde a relação transcendental não é uma pura forma acidental ao sujeito ou coisa absoluta; mas uma assimilada àquele, contudo conotando alguma coisa extrínseca da qual o sujeito depende ou acerca da qual versa, como, por exemplo, a matéria relativamente à forma, a cabeça relativamente ao encabeçado, a criatura relativamente a Deus; e assim a relação transcendental coincide com a relação segundo o ser dito. Alguns dividem erroneamente a relação segundo o ser entre transcendental e categorial. Esta é uma divisão errada, porque a relação transcendental está na própria entidade absoluta e não difere do seu ser subjectivo, e assim todo o seu ser não é para outro, o que é requerido para que uma relação seja ontológica, isto é, uma relação segundo o ser. Mas se a relação transcendental implica alguma imperfeição e dependência e por esta razão deva ser excluída de Deus, é questão para os metafísicos e teólogos. Todavia as relações reais e de razão, cuja divisão é encontrada só na relação segundo o ser, são diferentes, devido à carência d e algumas das condições requeridas para as relações reais. Para S. Tomás, no Opúsculo 48, Tratado sobre os Relativos, cap. 1, são requeridas cinco condições para as relações reais, duas da parte do sujeito da relação, duas da parte do termo, e uma da parte das coisas relacionadas. Da parte do sujeito, as duas condições são que o sujeito da relação seja um ente real, e que seja um fundamento, isto é, que o sujeito da relação tenha a razão de fundar realmente, independentemente de ser conhecida. D o lado do termo, as condições são que o termo da relação seja alguma coisa real e realmente exis tente, e, segundo, que seja distinto realmente do outro extremo, o sujeito da relação. Mas da parte dos relativos, a condição é que sejam da mesma ordem, à falta do que a relação de Deus para a criatura não é real, nem é real a relação da medida para o mensurado, se medida e mensurado são de ordem diversa. Esta doutrina concorda com o que S. Tomás ensina no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 26, q. 2, art. 1 e na Suma Teológica, I, q. 28, art. 1. Contudo, formalmente e principalmente, toda a diferença entre a relação real e de razão reduz-se a isto: a relação real tem fundamento real com coexistência do termo, enquanto a relação de razão carece de tal fundamento, como se retira de S. Tomás no Com entário às Sentenças pa ra A nnibaldo, I, dist. 30, q. 1, art. 1. Tom ando estas diferenças com o estabelecidas, digo à m aneira de resolução: Pa ra que algum a relação seja categorial, requer-se que
102
tenha aquelas condições pelas quais se distingue tanto da relação de razão com o da relação transcendental, isto é, da relação segundo o ser dito; e logo a relação categorial é definida com o fo rm a real, cuja totalidade do seu ser é ser pa ra outro. Pela primeira parte desta conclusão, a relação categorial distingue-se da relação de razão, que não é forma real; pela segunda parte da conclusão, a relação categorial distingue-se da relação transcendental e de qualquer coisa absoluta cuja totalidade do seu ser não é ser para outro, uma vez que em si é também alguma coisa absoluta. De facto as três condições da relação categorial estão implicadas nesta conclusão: p rim eiro, que seja relação segundo o ser; segundo, que seja real, onde incluímos todas as condições requeridas para a relação real; terceiro, que seja finita. Escoto acrescenta uma quarta condição, a saber, que a relação seja intrinsecamente acidental, isto é, que seja uma relação que surja imediatamente, sem nenhuma mutação, quando o fundamento e o termo estão postos; mas limita as relações extrinsecamente acidentais às seis últimas categorias, que não resultam imediatamente e como que intrinsecamente quando o fundamento e o termo são postos, mas necessitam de alguma mudança extrínseca para que resultem. Mas ao tratar das seis últimas categorias, na Questão 19, mostraremos que estes modos extrinsecamente acidentais não são relações. Pela primeira destas condições para uma relação categorial são excluídas todas as relações segundo o ser dito ou transcendentais; pela segunda são excluídas todas as relações de razão; pela terceira, todas as relações divinas, que caem fora da categoria uma vez que são actos puros. Mas podes inquirir acerca daquela condição da relação real e categorial, nomeadamente que os extremos sejam distintos realmente, quer seja requerido que sejam distintos da parte das coisas, isto é, dos extremos materialmente, quer seja requerido que sejam distintos não só materialmente mas também da parte da razão fundante, para que o fundamento próximo da relação seja também realmente distinto da relação. A resposta a esta questão é que neste ponto reside a diferença entre as escolas de S. Tomás e de Escoto. Com efeito, Escoto, no C om entário ãs Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 31, q. 1, requer apenas a distinção entre as coisas que são extremos, não entre razões fundantes. S. Tomás requer as duas, como é claro na Suma Teológica, I, q. 42, art. 1, onde, com base nisto, nega que entre as pessoas divinas se dê uma relação real de semelhança e igualdade, porque o fundamento destas relações é o mesmo em cada uma das pessoas, isto é, a divina essência, em razão da qual são semelhantes; seria o
103
mesmo se uma brancura existisse em duas pedras. A razão disto é tomada de Caetano e de outros intérpretes, porque nestes relativos, relações ontológicas que são recíprocas, os extremos materiais são referidos porque as próprias razões fundantes são referidas; pois é porque as brancuras são semelhantes que as coisas brancas são semelhantes. Donde se, pelo contrário, as brancuras não fossem semelhantes, porque existe apenas uma única brancura, as próprias coisas brancas não poderíam ser semelhantes na brancura, porque são o mesmo, uma vez que apenas existiría uma e a mesma brancura. Mas se são semelhantes, será em alguma outra coisa, não na própria razão formal d o branco. Mas é suficiente ter insinuado isto acerca desta dificuldade, pois é um problema que pertence mais aos teólogos e metafísicos.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMF.NTOS
Um problema surge primeiro da bem conhecida mas difícil passagem da Suma Teológica, I, q. 28, art. 1, onde S. Tomás diz que apenas nos relativos, nas coisas que são para alguma outra coisa, se encontram algumas segundo a realidade e algumas segundo a razão. Esta afirmação tem sido fonte de dificuldades para muitos. Pois S. Tomás fala, ou da relação categorial, ou da relação em geral, abstraindo se é real ou de razão. Se fala do primeiro modo, é falso que as relações de razão sejam encontradas entre as relações categoriais, ou então dissemos falsamente que para a relação categorial é requerido um exercício real de «ser para«. Se fala do segundo modo, é verdadeiro que na relação concebida à parte da diferença entre real e de razão ambos os termos da divisão são encontrados, mas é falso dizer que esta forma de considerar o ser é possível apenas se o ser considerado é ele próprio uma relação. Com efeito, também na substância pode conceber-se alguma coisa construída, que seria dita substância de razão, como a quimera, o bode-veado e outras criaturas semelhantes. E no caso da quantidade, um arranjo imaginário de partes pode ser concebido, e semelhantemente nas outras categorias. Logo, não é apenas no caso da relação que se encontra alguma coisa de razão. E a resposta de Caetano a esta dificuldade, no seu comentário à Suma Teológica, I, q. 28, art. 1, apenas serve para aumentar a dificuldade, pois diz que a relação tem esta peculiaridade, que existir na razão não é uma condição diminuente da sua natureza, porque a relação que é de razão é uma verdadeira relação. Isto aumenta a dificuldade, pois é certo que se uma relação mental fosse uma vefdadeira relação, faria um sujeito 104
referir-se verdadeiramente, não ficticiamente, e, iogo, não pela apreensão, mas realmente. Esta dificuldade ofereceu ocasião para muitos entenderem S. Tomás de forma distorcida, e para filosofarem erradamente acerca da relação. Pois alguns julgam que a relação real se divide em dois conceitos, nomeadamente no conceito de acidente, que chamam «estar em», e no conceito de dizer respeito a, que chamam «ser para», e que o primeiro é alguma coisa real, enquanto o segundo é, ou de razão, ou abstraindo do real e de razão. Outros julgam que S. Tomás apenas queria significar que alguma coisa pode ser fabricada pelo entendimento humano à semelhança da relação categorial. Finalmente outros julgam que fala da relação enquanto abstraída da diferença entre ser real ou de razão. Mas os primeiros excluem a verdadeira realidade da categoria da relação, se o que é próprio de tal categoria — isto é, o dizer respeito e a sua natureza essencial de ser para o outro — não é realizado. Os segundos não falam de alguma coisa peculiar à relação, como S. Tomás põe, porque alguns entes de razão podem também ser formados pela semelhança com outras categorias, por exem plo à semelhança da substância ou da quantidade. Por esta razão a terceira exposição é a mais verdadeira no que toca a um ponto, ou seja, que S. Tomás fala da relação em toda a sua latitude, enquanto abstraída da diferença entre relação real e relação de razão. Pois o Santo Doutor não disse que na categoria de «ser para alguma coisa» se encontram algumas coisas segundo a ordem do ente de razão, mas disse «no caso das coisas que são para alguma coisa», para indicar que não fala da relação enquanto categoria determinadamente real, mas absolutamente segundo ela própria, ao que devem atender alguns que menos solicitamente lêem o Santo Doutor. S. Tomás, nesta passagem, fala da relação sob o formalíssimo conceito de «ser para outro», e diz que daquela parte pela qual a relação é considerada para o termo, existe positivamente e não é determinadamente uma forma real, mas é indiferente que seja ente real ou de razão; embora o exercício categorial de «ser para» também seja fundado realmente. E assim não quis S. Tomás significar que relação seria real e que relação seria de razão, mas antes a razão devido à qual a relação pode ser real ou de razão, nomeadamente, a razão pela qual é para o termo; pois embora possa ter existência real aí, contudo não tem existência real a partir daí. S. Tomás nota-o expressam ente no seu C om en tá rio às Sentenças p a ra A nnibaldo, I, dist. 2 6 , q. 2, art. 1, dizendo que «a relação pode ser duplamente considerada, de um modo quanto ao termo, àquilo para o qual é dita ser, do qual tem a natureza da relação; e quanto a isto a relação que é não tem de pôr alguma coisa na realidade, embora
105
também por esta razão não tenha de ser alguma coisa; com efeito há alguns relativos que são alguma coisa na ordem das coisas reais, mas outros que não são nada na ordem das coisas reais. D e outro modo, a relação pode ser considerada quanto àquilo em que está, e assim quando tem existência num sujeito, está nesse sujeito de forma real.» Assim S. Tomás. Mas de que m odo isto é peculiar no caso da relação e não é encontrado nas outras categorias, dizemos que se deve ao facto de que nas outras categorias a sua própria e formalíssima razão não pode ser entendida positivamente, excepto se também for entendida entitativamente; pois o que é para si é uma entidade. Só a relação tem de ser simultaneamente ente e «para o ente», e é pela parte em que é «para o ente» que existe positivamente, e contudo não tem por esta razão entidade real. Mas uma existência real vem à relação de uma parte, nomeadamente do fundamento real; a razão positiva de «ser para» vem de outra, nomeadamente do termo, do qual a relação não tem de ser ente, mas «para o ente», embora aquele «para» seja verdadeiramente real quando é fundado. Logo, que alguma coisa possa ser considerada positivamente, mesmo se não é entitativamente real, é próprio da relação. E isto é tudo o que Caetano quis dizer no seu comentário à passagem em questão da Suma Teológica, quando disse que a relação de razão é a verdadeira relação, não pela verdade de uma entidade e de uma forma informante, mas pela verdade de uma objectiva e positiva tendência para o termo. Nem Caetano disse que, no caso da relação categorial, o próprio «para» é alguma coisa de razão; pois diz expressamente que é verdadeiramente realizado no real. Quando se insiste que também outros gêneros de ente podem deste m odo ser ditos alguma coisa de razão — assim com o uma substância de razão será uma quimera, uma quantidade de razão será um espaço imaginário, sucedendo o mesmo para as outras categorias: a resposta é que, como foi dito acima no capítulo i, aquilo à semelhança do que o ente de razão é formado não é dito ser ente de razão; com efeito, o ente de razão é formado à semelhança do ente real, mas é dito ente de razão aquilo que não é real e que é concebido à semelhança do ente real. Logo, não existe uma substância de razão, nem uma quantidade de razão, porque embora algum não-ente possa ser concebido à semelhança da substância, como por exemplo a quimera, e alguma coisa possa ser concebida à semelhança da quantidade, como por exemplo o espaço imaginário, contudo, nem a própria substância ou alguma razão da substância é concebida pelo entendimento e formada no ser à semelhança de outro ente real. E assim aquela negação ou não-ente quimérico, e
106
aquele não-ente do espaço imaginário, serão ditos serem entes de razão. Mas isto é o ente de razão que é chamado negação, contudo não será uma substância de razão, porque a própria substância não é concebida com o ente de razão à semelhança de algum ente real; antes as negações ou não-entes são concebidas à semelhança da substância ou quantidade. Mas, na verdade, no caso dos relativos, não só algum não-ente é concebido à semelhança da relação, mas também a própria relação concebida da parte de um «dizer respeito a-, enquanto não existe nas coisas, é concebida ou formada à semelhança da relação real, e assim o que é formado na existência, e não apenas aquilo à semelhança do que é formado, é uma relação, e por razão disto são dadas de facto, existem, relações de razão, mas não substâncias de razão. Segundo, argum enta-se: o supremo gênero desta categoria é a verdadeira relação real, e contudo este gênero não tem um termo distinto de si, a que diz respeito; logo dissemos erroneamente que isto é requerido para a relação categorial real. A premissa m enor é provada porque, ou aquele termo é alguma coisa de relativo, ou de absoluto. Não é absoluto porque, como diremos mais tarde, o termo formal da relação não é alguma coisa de absoluto, mas de relativo, Para além de que aquele absoluto não pode ser alguma coisa real existente no singular; com efeito, a relação em geral não pode dizer respeito a alguma coisa determinadamente singular, com o seu termo, pois assim todas as relações respeitariam essa coisa determinada. Se, contudo, é alguma coisa abstraída dos singulares, essa coisa não pode terminar uma relação real; porque não existe realmente da parte da coisa real. Mas se é alguma coisa de relativo, ou é igual àquele gênero supremo, que é a relação em geral, ou inferior. Se é igual, são dados dois gêneros de relações. Se é inferior, seria respeitado pela relação em geral com o aquilo de que a relação é predicada, não como aquilo para o que a relação é terminada essencialmente como relação, mas com o universal. A resposta é que a relação em geral não diz respeito ao termo em acto e em exercício, mas só é concebida como razão e essência da própria relação, e como grau superior pelo qual as relações individuais são constituídas para referir-se a um termo, não com o o que exercitivamente respeita, pois a relação obtém isto através dos seus inferiores; tal como a substância primeira, tomada vagamente e em geral, é aquilo pelo que os acidentes são suportados, não aquilo que exercitivam ente os suporta. E a razão disto é que a relação, genericamente tomada, não é o conceito de relação enquanto oposto, mas enquanto unindo por uma razão comum a natureza da relação. Donde naquele conceito de relação em geral tanto os relativos como
107
correlativos se juntam, e não estão portanto em oposição; mas a relação não é exercida para o termo sem ser sob uma oposição relativa. E assim, a relação, concebida sob o conceito genérico, é despojada do estado de oposição e apenas expressa o conceito no qual convêm todas as relações, mas não expressa o exercício de dizer respeito ao termo, embora seja a razão de respeitar aquele nos seus inferiores. E mesmo na opinião de que o termo da relação é alguma coisa absoluta, o termo em geral não pode ser entendido como algo de uno, porque segundo esta opinião o termo da relação é encontrado em qualquer categoria, nem pode um termo que é respeitado pela relação enquanto tal ser feito de todas as categorias; mas não diz respeito a um termo determinado, uma vez que é uma relação genérica. Argum enta-se em terceiro lugar: as relações transcendentais tam bém têm todo o seu ser para outro; assim como toda a essência da matéria é para a forma, e toda a essência do hábito e do acto é para o objecto; donde então têm toda a espécie. Mas a relação categorial, pelo contrário, não tem todo o seu ser para outro, porque é também um acidente inerente, e assim tem existência num sujeito, não para o sujeito da relação. Isto é confirmado porque a relação transcendental também depende do seu termo, tal como a relação segundo o ser. lo g o , não existe razão para que a relação transcendental possa ser terminada para alguma coisa não existente, mas tal não sucede na relação categorial. A resposta a isto é que a relação transcendental não é primeira mente e por si -para outro», ao contrário da categorial, porque embora a espécie e essência das relações transcendentais seja tomada de outro ou dependa de outro, contudo não é para outro, assim como a matéria depende da forma, e o acto do objecto, com o das causas das quais têm existência e especificação. E disto segue-se que respeitam aquele outro com o termo. Mas que primeiro e por si seja para outro como para um termo é próprio da relação categorial. E assim diz-se que a relação categorial respeita o termo com o puro termo, isto é apenas com o «para outro», não com o -de outro» ou «acerca de outro» ou por qualquer outro m odo de causalidade, como sucede na relação transcendental. Mas o facto de que a relação categorial seja dita existir no sujeito, não impede que todo o seu ser seja para outro — «todo», digo, isto é, o próprio e peculiar ao seu próprio ser, pelo que difere dos outros gêneros, que são absolutos; contudo, supondo a razão comum de um acidente, ou seja estar em alguma coisa, em razão do que um acidente não tem de ser para outro, mas essa possibilidade também pão é excluída.
108
Para confirmação responde-se que a relação transcendental não é primeiramente e por si para outro, como já foi dito, mas é antes de outro ou acerca de outro, como a dependência ou a causalidade ou alguma coisa semelhante; o que pode algumas vezes ser verificado não por isto que de facto é, mas por isto que pode ser, ou o que é requerido para que alguma coisa seja. Contudo a relação categorial, porque tem todo o seu ser para outro, não surge senão do estabe lecimento dos extremos. Donde se um dos extremos falta, a própria relação categorial deixa de existir.
109
L iv r o I DIVIDIDO EM SEIS CAPÍTULOS
D O SIG NO SEGUNDO A SUA NATU R E ZA
C apítulo I
SE O SIGNO ESTÁ N A ORDEM D A RELAÇÃO
Tom am os aqui com o pressuposta a definição d e signo que fo i transmitida no prim eiro livro das Súmulas, nom eadam ente, qu e o signo é «aquilo qu e representa alguma coisa diferente d e si à potência cognoscente». D em os assim esta definição geral para qu e abrangés semos todos os gêneros d e signos, quer formais, quer instrumen tais *. Pois a definição que circula habitualmente entre os teólogos, no início d o capítulo iv das Sentenças d e Agostinho, «Signo é o que, além d e apresentar uma espécie 1 2 aos sentidos, faz vir alguma coisa à cognição», só convém ao signo instrumental. Na nossa definição, duas coisas concorrem para a razão d o signo em geral: prim eiro, é razão d o m anifestativo ou representativo; segundo, é ordem para outro, ou seja, para a coisa qu e é representada,
1O s signos, pela relação q u e estabelecem c om o cognoscente, dividem -se em fo rm a is e instrum entais. O sig n o instrum ental é a q u e le q u e se o fe re c e a o cognoscente c o m o um objecto material e externo distinto d a coisa q u e significa. Objectifica-se, portanto, à potência, para lhe manifestar um outro. É um a realidade material e física. Já o sign o formal, representa igualm ente outro distinto d e si, mas não é exterior a o cognoscente nem lhe aparece co m o um objecto o u instrumento. Pertencem a esta categoria o s conceitos, qu e sã o interiores a o q u e con h e ce e representam a lg o distinto, m esm o qu e disso ele n ã o se c h e g u e a d ar conta. A o admitir q u e o s conceitos são um tipo particular d e signo, J oão d e São T om á s irá, evidentemente, identificar toda a vida psíquica com processos semióticos. 2 Espécie é a sem elhança o u im agem das qu alid ades sensíveis d e um ser q u e é imprimida nos sentidos para qu e o objecto possa ser percebido. N ã o há percepção n em experiência sem as espécies emitidas p elo objecto. A sua etim ologia vem de
8
113
a qual deve ser diversa do signo, pois nada é signo de si, nem se significa a si, e é também ordem para a potência, à qual manifesta e representa a coisa de si distinta. E na verdade o manifestativo enquanto tal não exprim e a relação, quer porque p od e dar-se numa ordem para si e sem relação a outro — com o quando a luz se manifesta a si própria, ou quando um objecto se representa a si mesmo para que seja visto — , quer porque alguma coisa p od e manifestar outra sem dependência dessa outra coisa, mas antes por dependência do outro que manifesta, assim com o os princípios manifestam as conclusões, a luz manifesta as cores, a visão de Deus manifesta as criaturas, com o os teólogos mais eruditos ensinam ao explicarem a Sum a Teológica, I, q. 12 e 14. Em tais casos, a ilustração e a manifestação de outra coisa fazem-se sem dependência nem subordinação à coisa manifestada. Mas o manifestativo d o signo encontra-se tanto com uma ordem para outro, porque nada se significa a si próprio, embora se possa representar, com o com dependência para o outro ao qual está ordenado, porque o signo é sempre menos do que o significado e dependente dele com o de uma medida. Perguntamos portanto se a essência formal d o signo 3 consiste primeira e essencialmente na relação segundo o ser, se na relação segundo o ser dito, ou seja, em algo absoluto que funde tal relação. * O que é a relação segundo o ser dito e segundo o ser, relação transcendental e categorial, foi explicado no Livro Zero. E falamos aqui de relação segundo o ser, não de relação categorial, porque falamos d o signo em geral, enquanto inclui tanto o signo natural com o o convencional, discussão que envolve este último, o signo convencional, que é ente de razão. E por este m otivo a natureza comum aos signos não pode ser a razão do ente categorial, nem uma relação categorial, embora possa ser uma relação segundo o ser, de acordo com a doutrina de S. Tomás, na Sum a Teológica, I, q. 28, art. 1, explicada a mesma no Livro Zero, porque só naquelas coisas que são para outro se encontra alguma relação real e alguma de razão, sendo manifesto que esta última não é categorial, mas é
forma, semelhança, imagem. Trata-se de formas sem matéria, isto é, aquilo que faz as vezes d o objecto tornando-o presente ao sujeito cognoscente. N a gnosiologia tomista species é a semelhança ou imagem das qualidades sensíveis d e uma coisa, imagem essa que é imprimida nos sentidos para que o objecto seja conhecido. Desta forma, o intelecto recebe as espécies inteligíveis, enquanto o s sentidos externos recebem as espécies sensíveis, emitidas p elos objectos. A partir d as espécies sensíveis, a razão forma, p or m eio d o intelecto agente, uma semelhança da coisa n o espírito, e é a partir desta, chamada p or extensão «espécie inteligível*, que o universal é abstraído d o singular. 3 Formalis ratio signi, no original.
114
,
chamada relação segundo o ser, porque é puramente relação e não contém nenhuma coisa absoluta. Em suma, alguns autores são de opinião que a razão do signo em geral não consiste numa relação segundo o ser com a coisa significada e com a potência, mas numa relação segundo o ser dito, nalguma coisa absoluta que funde aquela relação. E assinalam a favor da razão d o signo isto, que é o facto de ser condutor da cognição para outra coisa. Efectivamente, que isto seja o fundamento do signo parece deduzir-se da doutrina de S. Tomás no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 4, q. 1, art. 1, onde diz que a razão do signo, na sua especificidade, se funda em alguma coisa, porque o signo, além das espécies que apresenta aos sentidos, faz vir alguma outra coisa à cognição. Portanto o signo não consiste formalmente na relação, mas no fundamento da relação. E este condutor para conhecer outra coisa, nada mais é que a própria razão d o represen tativo ou manifestativo, não, na verdade, em toda a sua latitude, enquanto também se representa a si, mas enquanto se reduz a ser manifestativo de outra coisa. O que, na verdade, se relaciona à potência 4 da mesma forma que um objecto e na mesma ordem e linha que o objecto; mas o objecto não consiste numa relação cate gorial para a potência, nem numa dependência daquela. Seja portanto única conclusão: a ra zã o do sign o, form a lm en te fa la n d o, não consiste na relação segundo o ser d ito, mas na relação segundo o ser. Disse «formalmente falando» porque, materialmente e por pres suposto, o signo exprime a razão de alguma coisa manifest^tiva ou representativa de outra, o que sem dúvida não en volve apenas a relação segundo o ser, com o imediatamente mostraremos. Formal mente, porém, a razão do signo não exprim e somente a razão de alguma coisa representativa de outra, visto ser evidente que muitas coisas representam ou manifestam outras, e não ao m odo de um signo, assim com o Deus representa as criaturas, e toda a causa o efeito, os princípios manifestam as conclusões, e a luz manifesta as cores; sem que, todavia, tenham a razão do signo. Portanto, representar alguma coisa é requerido para o signo, mas ele não consiste só nisto; pois o signo acrescenta alguma coisa além de representar, e formalmente exprime o representar de outra coisa de uma forma menos perfeita ou dependentemente da própria coisa significada, com o que substituindo e fazendo as vezes daquela. E assim o signo diz respeito ao significado não com o algo puramente automanifestado e auto-iluminado, mas com o principal cognoscível e medida de si,*
* Respicit potentiam, no original.
115
colocando-se em lugar do significado e fazendo a vez dele ao conduzir à potência. Acrescentamos, na conclusão, consistir a razão do signo na relação segundo o ser, abstraindo agora se essa relação é real ou de razão, pois disto trataremos no capítulo seguinte. E assim usamos de um vocábulo comum para ambas as relações, e não tratamos apenas da relação real ou da relação de razão determinadamente. Assim explicada, a conclusão é tirada primeiramente da doutrina de S. Tomás. Gom efeito, S. Tomás expressamente afirma que o signo ê um gênero de relação fundada numa outra coisa. Mas a relação fundada em alguma outra coisa é relação segundo o ser e, se for real, é uma relação categorial. Logo, o signo consiste na relação segundo o ser. A consequência é legítima. E a premissa menor é retirada da doutrina de S. Tomás no Com entário às Sentenças p a ra A nnibaldo, IV, dist. 4, questão única, art. 1, onde diz que «a natureza da relação é que sempre se funde em algum outro gênero de ente». Logo, a relação fundada em alguma outra coisa distingue-se dos outros gêneros de entes nos quais pode fundar-se, e consequentemente distingue-se da relação transcendental e segundo o ser dito, porque estas relações não se distinguem dos outros gêneros de ente, como fo i mostrado na questão acerca da relação. Com efeito, as relações transcendentais não são puros actos de se relacionar mas entidades absolutas ordenadas ou dependentes acerca de outra coisa, como provamos mais desenvolvidamente no capítulo sobre a relação. Logo, a relação fundada em algum outro gênero de ente é sempre relação segundo o ser, e se for real será categorial. A premissa maior, na verdade, é provada ciaramente do próprio S. Tomás, tanto no exposto há pouco citado, com o no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 4, q. 1, art. 1, e na Suma Teológica, III, q. 63, art. 2, resp. obj. 3, onde, tendo apresentado a objecção de que o signo é um gênero de relação, logo o carácter sacramental é um gênero de relação, visto que um sacramento é signo, responde a esse argumento que o signo importa a relação fundada em alguma coisa, e com o a relação sígnica do carácter sacramental não pode fundar-sé imediatamente na essência da alma, deve ser fundada em alguma qualidade acrescentada, e o carácter sacramental consiste nesta qualidade antecedentemente à relação do signo. Reconhece então S. Tomás que a relação d o signo é relação fundada em algo outro. E se só fosse relação segundo o ser dito ou transcendental, não negaria S. Tomás que o carácter sacramental consiste em tal relação, porque a qualidade bem pode ser relação segundo o ser dito, como a ciência existe relativamente a um objecto,
116
e todo o acto ou hábito relativamente àquilo por que é especificado. Quando, ponanto, põe o carácter sacramental na qualidade e o rejeita da relação, rejeita-o definitivamente da relação categorial e segundo o ser, isto é, exclui o carácter sacramental da categoria de relação; pois colocando-o na categoria de qualidade não excluiu suficiente mente a sua identificação com a relação segundo o ser dito, uma vez que também na categoria de qualidade se encontra a relação segundo o ser dito, Mas S. Tomás põe a razão do signo naquela relação, da qual rejeita o carácter sacramental. Logo, é manifesto que S. Tomás constitui a razão do signo na relação segundo o ser ou categorial. E o fundamento desta conclusão é tomado da própria razão e essência do signo, porque a essência do signo não consiste somente nisto, que é manifestar ou representar outra coisa distinta dele próprio, mas naquele m odo específico de manifestar, que é representar outra coisa'enquanto modo inferior daquela, como menos principal para mais principal, como o mensurado para a sua medida, como o substi tuto e «fazendo as vezes» para aquilo em favor do que é substituído e cujas vezes faz. Mas a relação do mensurado para a medida e do substituinte para o seu principal é uma relação categorial. Logo, a relação do signo para o seu objecto é também uma relação categorial. A premissa menor é clara porque a relação do mensurado para a medida é uma relação do terceiro dos três tipos de gênero na categoria de relação, como acima, no capítulo dobre a relação, foi demonstrado. A premissa maior, porém, é manifesta porque a relação do signo enquanto signo directamente diz respeito ao objecto com o principal coisa a ser conhecida, para a qual o signo conduz a potência. Para isto, com efeito, serve o signo, pois a sua função é ser meio e substituinte em lugar do objecto, que ele procura manifestar à potência, pelo que a coisa ela mesma não é conhecida, mas é-o através de tal meio. Donde se a coisa em si própria é manifestada, cessam a razão e o papel do signo. Logo, o signo diz respeito ao objecto como seu substituto e fazendo as vezes dele próprio, e como alguma coisa subordinada e mensurada pelo objecto que significa; de forma que tanto melhor significa o signo quanto mais próxim o se tenha do objecto em si. Nem isto é suficientemente explicado numa relação transcendental, enquanto o signo exprime alguma conexão com o objecto e em razão dele próprio manifesta o objecto significado; com efeito, isto é requerido, mas não basta. Assim como o filho - “ ainda que seja efeito d o pai, e sob razão do efeito transcendentalmente diga respeito ao próprio pai, contudo na razão de filho, com o essa razão exprime semelhança a outro em razão da processão — não exprime uma relação transcendental, mas categorial e segundo o ser; assim, um signo «— ainda que na razão do manifestativo e re
117
presentativo diga respeito ao objecto transcendentalmente, contudo enquanto exprime a razão do mensurado e substituto em relação a esse objecto, e como que servindo ao próprio com o principal — diz respeito ao objecto por uma relação segundo o ser. E daqui se distingue a diferença entre a natureza do manifestativo e do significativo. O que é manifestativo diz respeito principalmente à potência como termo, para o qual ela tende ou que ele move, e semelhantemente, representar algo à potência só é alcançado por isto, que é tornar alguma coisa presente à potência de m odo cognoscível, o que segundo S. Tomás em D e Veritate, q. 7, art. 5, resp. obj. 2, não é outra coisa que a potência conter uma semelhança de outro. Porém, este conter de uma semelhança pode dar-se sem alguma relação que seja relação segundo o ser: quer porque tal acto de conter pode ser perfeição simplesmente e sem nenhuma dependência da coisa representada, assim como Deus representa as criaturas nas idéias; quer porque esse acto de conter é conservado e se exerce mesmo quando o termo representado não existe, e consequentemente até sem' relação categoria!, como é evidente na representação de uma coisa futura ou passada. Finalmente, porque essa representação pertence à razão de mover a potência, à qual se dá o objecto que' é tom ado presente por m eio da representação. Donde convém essencial e directamente ao próprio objecto ser representado, porém o objecto não consiste na relação segundo o ser para a potência; pelo contrário, essencialmente falando, um objecto não diz respeito à potência ou depende dela, sendo antes a potência que dele depende, pois a potência toma a especificação do objecto. Logo, representar e manifestar não consistem numa relação segundo o ser. Mas significar ou ser significativo toma-se directamente por uma ordem para o objecto, a favor do qual o signo substitui e cujas vezes faz à maneira de um meio pelo qual o objecto é levado à potência. Pois o signo substitui e serve o próprio objecto nisto, para conduzir aquele e apresentá-lo à potência com o seu principal conteúdo capaz de ser representado. Do mesmo modo, num subordinado e substituto de outro consideramos dois aspectos, isto é, a sujeição ao outro, cujas vezes faz como de um principal; e o efeito de que é incumbido pelo principal que serve e cujas vezes faz. Assim, portanto, o signo, embora ao representar diga respeito à potência para que lhe manifeste o objecto, porque para este efeito se destina e se toma, e nesta precisa consideração em relação à potência não é requerido que consista numa relação segundo o ser; contudo na subordinação ao objecto, enquanto diz respeito a esse objecto como principal e medida
118
de si, o signo deve necessariamente consistir na relação para com o próprio, assim como o servo exprime uma relação para com o senhor, e o criado ou instrumento para o seu principal. Dirás: o signo não diz respeito ao significável com o puro termo, mas com o objecto da sua significação; portanto não consiste numa pura relação, mas numa ordem transcendental, assim como uma potência e conhecimento dizem respeito a um objecto, e todavia o objecto mede o conhecimento e a potência. Mas contra isto está o facto de que o signo não diz respeito ao que significa como um objecto ou matéria, acerca da qual trata precisamente, assim como a potência e o conhecimento dizem respeito aos seus objectos, mas antes diz respeito ao que significa como substituto, fazendo as vezes do objecto e em seu lugar representando à potência. E porque directamente o signo contém esta substituição e sub-rogação para outro, por isso formalmente é alguma coisa relativa a isso que substitui. A potência e o conhecimento, todavia, não exigem esta relação para o objecto, mas exigem a razão de princípio e de virtude acerca de alguma coisa operante, que não pertence, formalmente falando, à relação; pois não pertence à relação operar, porém o ser sujeito e substituto faz parte da relação. E assim o conhecimento e a potência, os actos e os hábitos, dizem respeito ao objecto com o sua medida fundamentalmente, não relativamente formalmente como sucede com o signo, que formalmente é alguma coisa subordinada e inferior ao objecto, ou fazendo as vezes dele. E para confirmar isto temos a doutrina de S. Tomás, na Suma Teológica, í, q. 13, art. 7, resp. obj. 1, onde diz que «algumas-palavras relativas são impostas para significar o próprio hábito ou estado relativo, com o o senhor e o servo, o pai e o filho, e outras coisas semelhantes; e estas palavras dizem-se relativas segundo o ser. Algumas palavras relativas, porém, são impostas para significar coisas que são consequência de alguns hábitos, por exemplo, como as palavras 'movente’ e movido', a 'cabeça1 e o ‘encabeçado’, as quais são relativas segundo o ser dito.» Por isso, enquanto o conhecimento e a potência significam a própria coisa e o princípio de que se segue a relação para os objectos, o signo, porém, directamente significa a relação com a objecto, ao qual se subordina com o um vigário ao principal. E daqui aprenderás o fundamento para discernir entre a potência ou lúmen, que é a virtude da potência, e a espécie ou forma, porque ambas na verdade versam sobre o objecto, mas fazendo a espécie as vezes do objecto e contendo o próprio continente com o se fora seu substituto, tendendo a virtude da potência para o objecto e apreendendo-o. Donde entre a potência e O objecto hasta que exista
119
uma proporção de adquirir alguma coisa e de tender para o termo que é adquirido, o que é proporção do princípio de um movimento para o termo. Porém a espécie deve ter uma proporção para o objecto que substitui e do qual faz as vezes. E assim, se perfeita e ade quadamente faz as vezes do objecto, requer-se uma total proporção no ser representável, em razão da qual nem uma representação corporal pode ser a espécie de um objecto espiritual, nem uma representação criada pode ser a espécie de um objecto incriado. Se, porém, é posta uma representação incriada, também a entidade da espécie será incriada.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
O principal fundamento da opinião oposta a que o signo seja uma relação segundo o ser é que o signo pode significar formalmente a coisa não existente, com o quando o vestígio do boi significa o boi não existente, ou a imagem do imperador significa o imperador morto. Em tais çasos, existe o signo formalmente; com efeito, a inferência do acto para a potência é válida; «significa, logo é signo-, e contudo formalmente não é relação, porque para o termo não existente não é dada a relação categorial. Logo, o signo formalmente não consiste na relação. Confirma-se porque a razão formal do signo consiste nisto, que seja verdadeira e formalmente condutor da potência para o seu objecto. Mas conduzir a potência para o objecto não é feito por m eio da relação, mas por meio de proporção e conexão entre o signo e o objecto, que é fundamento da relação. Logo, o signo não consiste formalmente na relação, mas no fundamento da relação. A premissa maior segue-se da definição de signo como «aquilo que representa alguma coisa à potência cognoscente-, logo, é condutor da potência para o objecto. A premissa menor prova-se porque para que o signo tenha representação para mim, não é necessário que eu conheça a sua relação; por exemplo, o camponês conhece o animal a partir do vestígio, e não cogitando acerca da relação; e os animais irracionais fazem uso dos signos, como se dirá adiante, e não conhecem a relação, mas apenas o objecto, tal como é conhecido no signo. Logo, se a relação não é conhecida, a relação não conduz, e assim não pertence à razão formal do signo. Responde-se a isto, em primeiro lugar, que aquele argumento carece de força na opinião daqueles que consideram a relação do signo como sendo sempre de razão, mesmo nos signos naturais, porque consideram que a relação do signo se funda na apreensibili-
120
dade dele. Mas dado que a relação do signo natural ao obfecto é real, responde-se que. morto o imperador, a imagem dele não permanece signo formalmente, mas virtual e fundamentalmente. Porém, o signo move a potência por razão do seu fundamento, não por razão da sua relação, assim como o pai gera não por razão da relação, mas por razão da potência generativa, e todavia ser pai formalmente consiste numa relação. E para prova: «significa formalmente, isto é, significa em acto, logo formalmente é signo*. A consequência é negada claramente, porque basta ser signo virtualmente, para que signifique em acto. E isto apresenta-se manifestamente no seguinte exemplo: B em acto causa e produz um efeito, logo é realmente em acto uma causa; de facto, não existindo a própria causa em si, através de uma virtude deixada por si causa e causa formalmente, porque o efeito é então formalmente produzido. Assim, existindo no signo uma significação virtual, conduz formalmente a potência para o objecto, e todavia não ê um signo formalmente, mas virtual e fundamentalmente. Com efeito, visto que permanece a razão de mover a potência, o que é feito pelo signo enquanto é representativo, mesmo se não permanece a relação de substituição para o objecto, o signo pode exercer funções de substituinte sem a relação, assim como o servo ou o ministro podem exercer operações do seu ministério estando morto aquele para quem exprimem relação, e é nessa relação que formalmente consiste a razão do servo e do ministro. Para a confirmação responde-se que na natureza do condutor há a considerar duas coisas, ou seja, a força ou a razão de exercer a própria representação da coisa a conduzir, e a relação de sujeição ou substituição para aquilo em favor de que exerce essa representação, assim como no caso do senhor é considerado tanto o poder de governar ou de coagir os súbditos, com o a relação para aqueles, e no caso d o servo é considerado tanto o poder de obedecer, como a relação de sujeição. Quanto ao poder de conduzir representati vamente, concedemos que não é uma relação segundo o ser, mas o fundamento de tal relação; isto é, aquela proporção e conexão com o objecto; mas quanto à formalidade do signo, que não é qualquer proporção e representação, mas uma subserviente e substituta do objecto, consiste formaímente na relação do substituto representativo, tal como ser servo e ser senhor, formalmente, são relações, e todavia o direito de coagir e de obedecer não são relações segundo o ser. Argumenta-se em segundo lugar: o signo consiste formalmente nisto, que é ser alguma coisa capaz de conduzir a potência para o objecto; pois é por isto que alguma coisa tem significação, que é a forma do signo, e é por isto que lhe convém a definição de signo, 121
nomeadamente, o que é representativo de uma coisa diferente de si à potência cognoscente. Mas o signo tem esta capacidade, que é poder conduzir para o objecto mesmo enquanto meio e instrumento, através de uma relação transcendental; logo, é nessa relação que o signo consiste formalmente. A premissa menor prova-se: de facto o signo tem a capacidade de conduzir a potência ao objecto como meio, pelo que tem a ca pacidade de manifestar à potência o objecto. Porém tem esta ca pacidade manifestativa não em razão de uma relação categorial, mas transcendental, porque conhecida a relação transcendental da causa, ou do efeito, ou da imagem, ou de qualquer conexão das duas coisas, é atingido imediatamente o termo da relação. Logo, não se requer alguma relação categorial para que o signo conduza para o objecto, ou possa conduzir, visto que com a relação transcendental isto é suficientemente cumprido. Nem tem valor dizer que aquela relação transcendental é o fundamento da relação do signo, porque o que só é tal fundamentalmente, não pode dar o efeito formal, assim com o a potência generativa não pode formalmente constituir o pai, nem a qualidade a semelhança, ainda que sejam os fundamentos destas relações. Logo, se a relação transcendental só funda a relação do signo, formalmente não fornece o efeito formal do signo nem q seu exercício. E isto é confirmado porque é inconveniente dizer, nos signos convencionais, que não permanecem signos formalmente quando em acto não dizem respeito ao seu objecto, com o no caso do livro fechado, no qual não é conhecido o signo ou as letras aí escritas, e assim em acto não tem a relação, que como é de razão, depende da cognição actual. Logo, o signo não pode consistir formalmente na relação segundo o ser. A antecedente também é provada porque o signo no livro fechado conserva a sua imposição, e, logo, também conserva a sua significação, a qual pode ser restituída a acto abrindo o livro. Logo, é formalmente e em acto um signo, porque conserva a sua significação em acto. Responde-se que com este argumento nada mais é provado do que com o precedente, e por este motivo dizemos que a razão formal do signo consiste nisto, que é poder conduzir alguém ao conhecimento do objecto, não pela capacidade de conduzir de qualquer modo, mas por aquela que é sujeita e substituinte a favor do objecto, e inferior a ele na razão do signo. E por este motivo considera-se no signo a força que m ove a potência e a ordem de substituir relativamente àquilo a favor de que move. E a primeira é uma relação transcendental, a segunda categorial. E é na segunda que consiste o signo, não na primeira, porque a primeira, ou seja manifestar o outro, 122
também convém às coisas que não são signos, tal com o já dissemos, de a luz manifestar as cores, de o objecto se representar a si próprio, de Deus representar as criaturas. O facto de que, visto o efeito, seja conhecida a causa, ou vista a imagem seja conhecido o arquétipo, não constitui formalmente a razão do signo, salvo se acrescentarmos a peculiar relação do representativo, do substituinte, etc. ... que ex prime a relação segundo o ser. E para impugnação responde-se que o fundamento d o signo não constitui formalmente a razão do signo quanto àquilo que formalmente é sujeição e substituição, mas quanto àquilo que é próprio da virtude ou capacidade de mover, assim como a potência generativa constitui a virtude de gerar no pai, não a relação formal de pai, a qual consiste na íazão de um princípio assimilante e em ter autoridade em relação ao filho. Para confirmação do segundo argumento responde-se que alguns autores perceberam de modos bem diversos esta questão no que toca aos signos convencionais, pelo facto de naqueles signos a relação do signo, se é dada, segundo o consenso de todos não é real, mas de razão. E há quem pense que a relação de razão não só denomina, mas também existe pela existência do seu fundamento, pelo menos imperfeita e incoativamente, e assim denomina mesmo antes de ser apreendida em acto. Mas restam a esta resposta duas coisas difíceis de explicar. Primeiro, que tal existência não denominará o signo em questão com o signo perfeita e simplesmente, mas só incoativa e imperfeitamente; e assim um signo no livro fechado, ou proferido vocalmente, mas não apreendido em acto numa relação, não será um signo perfeitamente, mas incoativa e imperfeitamente, porém adquirirá verdadeiramente a perfeita razão do signo quando for apreendido em acto. Permanece portanto a mesma dificuldade que esta solução intentava resolver, ou seja, de que m odo o signo no livro fech ado ou vocalm ente proferido, mas não apreendido relativamente, pode perfeitamente significar e conduzir para o objecto. Pois a palavra «homem» não representa o seu significado menos perfeitamente, se a sua relação for apreendida, d o que se não o for, pois retém do mesmo modo a imposição e a perfeita significação. Logo, será um signo perfeita e consumadamente ainda antes de estabelecida a relação, e não só incoativamente, porque igualmente e de maneira perfeita significa e é signo antes de que ocorra a relação. A segunda dificuldade dá-se porque aquela imperfeita e incoativa existência é ou apenas fundamental e virtual a respeito do signo, ou também actual. Se é apenas fundamental, isto é dizer que só existe o fundamento do signo, não formalmente o próprio signo. Se actual,
123
é muito difícil ver como a existência real que é própria do fundamento pode, antes de uma apreensão actual, tornar actualmente existente o ente de razão e que só tem existência objectiva. Pois assim, não será puro ente de razão, visto que também é capaz de existência real, embora imperfeita e incoativa. Outros julgam que o signo convencional é formalmente signo mesmo antes da existência formal da relação do signo. Outros pensam que é signo apenas de m odo moral, porque a imposição é dita permanecer de m odo moral. Mas há dificuldades sobre se isto seria um signo em acto ou não. Pois dizer que um signo é em acto moralmente é em pregar uma partícula diminuente, com o se disséssemos que existe em acto fundamentalmente ou virtualmente; pois aquela moralidade da imposição que permanece é o fundamento de uma relação. Por isso deve simplesmente dizer-se que a imposição ou fixação de alguma coisa para que seja signo de tal ou tal coisa é apenas o fundamento da relação do signo, porque dá ao signo a conexão com a coisa e a sub-rogaçâo por aquela para significar, não naturalmente, mas segundo a convenção de quem impõe, assim como a abstracção da natureza é o fundamento da universalidade. Donde, assim como o signo natural em razão do seu fundamento exerce a significação, ainda que não tenha relação em acto com o objecto, porque tal objecto em particular pode não existir — com o a imagem do imperador estando ele morto; assim a palavra enunciada ou escrita, ainda que a relação não seja concebida em acto, e consequentemente não exista mediante um conceito, mesmo assim significa e representa em razão da imposição outrora feita, a qual não produz formalmente o signo, mas fundamental e proximamente, com o diremos no ca pítulo v. E não há nenhum inconveniente no caso destes relativos de razão, que cessando a cognição actual de alguma forma, cesse a existência formal dessa forma e a denominação formal proveniente de tal existência, e de novo surja quando é posta outra cognição actual, enquanto a denominação fundamental permanece constante, denominação que permanece no universal quando é removida da comparação e da relação, e posta sozinha na abstracção; com efeito, continua a ser alguma coisa universal metafisicamente, não logicamente. Assim, o signo convencional, sem a relação conhecida, permanece signo moralmente e fundamentalmente e com o que metafisicamente, isto é, permanece numa ordem para o efeito de representar; mas não permanece signo formalmente e como que logicamente ou quanto à intenção da relação. Insistes: aquela imposição passiva do signo não deixa nele nada de real, logo, não pode m over,a potência nem conduzi-la para o
124
objecto, porque a potência não pode ser movida por aquilo que nada é; pois o objecto movente actua e aperfeiçoa a potência, o que aquela imposição não pode fazer. Logo, não permanece funda mentalmente signo, pois este consiste na força ou poder que move e representa. Responde-se que tudo isto também sucede no próprio signo convencional existente em acto e completo; pois este signo sempre é alguma coisa de razão. E por este motivo dizemos que o signo convencional m ove por razão da imposição, não como cognoscível imediatamente e por razão de si, mas mediatamente e por outro, tal como sucede com os restantes entes não reais, e assim suposto que a sua cognoscibilidade seja obtida por empréstimo, o signo con vencional reveste-se da razão do movente e representante, assim como se reveste da razão de alguma coisa cognoscível. Terceiro argumento: o gênero do signo é razão do representativo e razão de um objecto cognoscível, conhecido não em último, como o objecto, mas mediatamente. Mas a razão do representativo e a razão de um objecto não exprimem a razão de uma relação segundo o ser, mas de uma relação transcendental; e até a formalidade de alguma coisa cognoscível como tal não é ente formalmente, mas pressupostamente, uma vez que é uma propriedade do ente e, assim, não o determinado tipo de ente que a relação é; logo, também o signo não é o tipo de ente que a relação é. A consequência deste argumento está à vista, porque se o gênero não está na razão do relativo, de que modo a espécie pode pertencer à relação? A premissa menor é admitida por nós. A maior segue-se da definição do signo como aquilo que representa algo à potência cognitiva; logo, ser representativo, ser um objecto ou coisa cognoscível, são dois aspectos que pertencem essencialmente ao signo. Com efeito, uma coisa não pode conduzir ao conhecimento do objecto, a não ser objectificando-se e representando-se à potência; o representativo porém não pode ser dito do signo essencialmente como espécie ou diferença, uma vez que também convém a outras coisas, logo, deve ser dito como gênero. Confirma-se: o signo em geral não pode consistir na relação, logo, o signo absolutamente não é relação. Prova-se a antecedente, tanto porque a condição de ser signo é comum ao signo formal e instrumental: o formal, porém, não é uma relação, mas uma qualidade, uma vez que é uma apercepção ou conceito, com o se dirá abaixo; como porque a condição de ser signo é comum ao signo convencional e natural; contudo, não existe nenhuma relação comum aos dois, a não ser a relação que abstrai do que é real e do que é de razão, na opinião dos que dizem que a relação do signo natural é real. Porém,
125
a relação do signo é mais determinada e contraída do que aquela que abstrai do real e de razão. Logo, o signo em geral não exprime a relação segundo o ser, pois teria de ser posto determinadamente em algum membro da relação, ou real, ou de razão. Responde-se a este terceiro argumento que o representativo não é o gênero do signo mas o fundamento, assim com o o generativo não é o gênero da paternidade, mas o fundamento; nem o fundamento do signo é somente o representativo, com efeito, o representativo só remotamente se orienta para o signo a fundar, mas um tipo definido de representativo, isto é, substituinte a favor do objecto e subordinado a ele na representação e condução para a potência. E representar é posto na definição do signo, assim, como fundamento que per tence à relação; pois o signo com o instância da relação depende essencialmente de um fundamento. E se a relação for de alguma causa ou efeito ou exercício, todo o exercício ele próprio é feito através de fundamento, pois a relação, na verdade, não tem outro exercício que dizer respeito a, se for relação segundo o ser; assim com o o pai gera em razão do fundamento, o senhor impera em razão do fundamento, o ministro substitui e opera em razão do fundamento, o signo representa em razão do fundamento. E é assim porque a razão do objecto ou da coisa representável está num signo, primeiramente a respeito de si; pois objectifica-se à potência, e enquanto objecto diz directamente respeito à potência com o medida dela mesma. Tudo isto não é o gênero do signo; pois o signo diz principalmente respeito ao objecto, ao qual subordina a própria razão de representar. D onde o signo começa a consistir na relação substitutiva para o objecto; porém o representativo, enquanto conectando-se substitutivamente com o objecto, funda aquela relação, e aquela conexão é fundamentalmente substituição. Para confirmação, responde-se que a apercepção e o conceito têm a razão de uma qualidade, enquanto são um acto ou imagem de um objecto sobre a qual é fundada a relação do signo formal, relação essa na qual o signo essencialmente consiste, enquanto é através disso que a apercepção e o conceito substituem em favor de um objecto. Assim como o caracter sacramental é dito, segundo S. Tomás, na passagem supracitada, ser um signo fundamentalmente, visto que em si é uma qualidade, todavia fundando a relação do signo, assim o conceito e a apercepção são qualidades inform ativam ente significantes, não objectivam ente, fundando porém a relação constitutiva do signo formal, isto é, a relação do signo cuja representação e exercício de significar são feitos informando. E para confirmação da outra parte do argumento, responde-se que o signo em geral exprime uma relação mais determinada que a
126
relação em geral, seja transcendental seja relação segundo o ser. De lacto, aquele argumento é corrente em todas as opiniões con sideradas. isto é, como pode o signo em geral, que é ente deter minado e inferior ao ente enquanto tal, dividir-se em real e de razão: na verdade, se o signo está numa relação transcendental, no caso do signo natural essa relação será real, e no caso do signo convencional será de razão. Logo, não se levanta aqui especial dificuldade contra a nossa asserção acerca da relação do signo, defendendo que esta deve ser relação segundo o ser. Por isso deve dizer-se que não há nenhum inconveniente em que as coisas inferiores se revistam de um conceito análogo e se dividam de um modo analógico, assim como as superiores, ainda que mais restritamente que as coisas superiores. E como os análogos de uma analogia mais restrita são referidos a um conceito análogo mais universal, não são postos sob um determinado e unívoco membro de uma divisão da analogia mais universal, mas relacionam-se analogamente, tanto entre eles próprios na analogia mais restrita, com o com os membros da analogia mais universal. Exemplo vulgar disto está neste nome: -sabedoria». É na verdade um conceito mais determinado que ente, e todavia nem é determinadamente criado nem incriado, mas pode ser dividido em cada um deles, porque p od e ser tom ado analogicamente. Mas se «sabedoria» for tomado univocamente, assim será determinadamente criado ou determinadamente incriado. Do mesmo modo, o nome «homem», se tomado igualmente enquanto abstraindo de homem verdadeiro e homem pintado, vivo e morto, é alguma coisa inferior e menos universal que o ente, mas não em determinado membro de alguma divisão do ente, porque é tomado analogicamente, e portanto não com o determinadamente um, nem determinadamente em um membro. Assim, um signo enquanto comum ao natural e ao convencional é análogo, tal como se fosse comum a um signo verdadeiro e pintado, real e de razão, posto que o signo enquanto tal não está numa determinada divisão do ente ou da relação, mas cada um dos seus inferiores estará em determinado gênero, segundo o seu tipo.
127
Capítulo n
SE NO SIGNO NATURAL A RELAÇÃO É REAL OU DE RAZÃO
Para que seja atingido o ponto da dificuldade, importa discernir as várias relações que podem concorrer no signo. E de algumas, no. signo natural, não há dúvida de que possam ser reais, todavia não são elas a formal e essencial relação do signo. Sendo a definição de signo «aquilo que representa alguma coisa à potência cognoscente», se for um signo exterior à potência, é necessário, para que represente outro, que tenha a razão do objecto cognoscível em si, para que conhecido este a potência chegue ao outro; mas se for signo formal e interior à potência, para que represente outro deve ser uma representação intencional real, o que na realidade é um certo tipo de qualidade, todavia uma qualidade com relação de semelhança para aquilo de que é representação com uma ordem para a potência. Da mesma forma, para que se diga representar antes isto do que aquilo, tem de ser encontrada no signo alguma conveniência ou proporção e conexão com um certo significado. Esta proporção ou conveniência é variável. Algumas vezes é a de um efeito para a causa, ou da causa para o efeito, assim como o fumo significa o fogo como efeito, e a nuvem ou o vento significam a chuva com o causa. Outras vezes é de semelhança, ou de imagem, ou de qualquer outra proporção; mas nos signos convencionais é a imposição e o destino pela comunidade. Numa palavra: visto que o signo se orienta relativamente ao objecto e à potência, as relações ou razões que o habilitam para a potência ou para o objecto podem preceder a construção da razão do signo. Mas não é nisto que consiste a formal
128
e essencial natureza do signo, nem tão-pouco a relação deste para a coisa significada, embora pensem o contrário os Conimbricenses no seu comentário ao D e Interpretatione, q. 1, art. 2, visto que podem separar-se e encontrar-se fora da essência do signo. Com efeito, encontra-se a natureza de um objecto sem a natureza de um signo; e a natureza de um efeito, ou causa, ou imagem, pode também ser encontrada sem a natureza de signo 5. E novamente, porque a relação para alguma coisa exprime diversos fundamentos e razões formais, como por exem plo a relação para um efeito ou para uma causa, que se funda numa acção; ou a relação de uma imagem, que se funda numa semelhança de imitação sem ordem à potência; ou a relação do signo, que se funda no mensurado relativamente à medida, ao modo de um substituinte em favor de outro em relação à potência, algo que as outras relações não respeitam. Perguntamos portanto se aquela formal e propriíssima relação do signo, que se encontra ou surge de todas as coisas envolvidas na acomodação do signo ao objecto ou à potência, é uma relação real no caso dos signos reais ou naturais. E confessamos que a relação do objecto â potência, que precede a relação do signo no signo instrumental, seja por meio de mover, seja por m eio de terminar, não é uma relação real, porque o objecto não diz respeito à potência por uma relação real segundo o ser, mas antes a potência diz respeito ao objecto, depende dele e é especificada por ele. E supondo que a" relação do objecto para a potência fosse real, e que o objecto mutuamente respeitasse a potência, do mesmo modo que a potência respeita o objecto, (o que que é manifestamente falso visto" que o objecto é a medida e a potência o mensurado), todavia esta relação não seria nem relação nem razão do signo, porque a razão de um objecto formal e directamente diz respeito ou é respèitada pela potência, de tal m odo que o dizer respeito entre os dois é imediato; porém a razão do signo diz respeito ao objecto directamente, e à potência obliquamente, porque diz respeito ao objecto com o aquilo que deve ser manifestado à potência. Logo, diversa é a linha e a ordem de respeitar no objecto enquanto objecto, e no signo enquanto signo, embora para que seja signo deva supor-se um objecto. Respondo portanto, e digo: a relação do signo natural com o seu objecto, pela qual é constituído no ser do signo, é real e não de razão, enquanto é considerada a partir de si e por virtude do seu fundamento e supondo a existência do termo e das restantes condições da relação real.
5 Novamente, neste trecho, natureza equivale ao latino ratío.
129
Esta parece ser a perspectiva mais conforme ao pensamento de S. Tomás. Primeiro, porque ele ensina que a relação do signo no carãcter do sacramento é fundada numa qualidade acrescentada ã alma, qualidade essa que é um fundamento real, com o está exposto na Suma Teológica, III, q. 63, art. 2, resp. obj. 3; e no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, dist. 4, q. 1, art. 1. E fala de fundamento próximo, porque impugna aqueles que disseram ser essa relação fundada imediatamente sobre a alma, e ensina que outra coisa deve mediar, sobre a qual se funde a relação do signo do carácter sacramental, isto é, a qualidade do carácter; logo, fala do fundamento próximo. E na Suma Teológica, I, q. 16, art. 6, diz que embora a saúde não resida na urina e na medicina, «há todavia alguma coisa em ambos pela qual a medicina produz e a urina significa saúde». Logo, a relação do signo natural é fundada em alguma coisa real, alguma qualidade do tipo da que funda a relação da urina para a saúde, nomeadamente em algo que tem em si, para que signifique, assim como a medicina tem em si alguma coisa para que produza saúde. E o fundamento da conclusão é deduzido da própria natureza e essência do signo, a qual consiste nisto, que seja alguma coisa mais conhecida pela qual se represente e se manifeste o mais desconhecido,, como bem nota S. Tomás em D e Verilale, q. 9, art. 4, resp. obj. 5, e no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 1, resp. obj. 5, quaestiunc. 2. Mas para que alguma coisa seja mais conhecida do que outra e torne essa outra cognoscível e representãvel, requer-se que a cognoscibilidade da primeira .seja mais capaz do que a da outra para mover a potência, e determinada ou afectada por tal objecto, que mova a potência para conhecer antes um determinado objecto do que outro, quer essa moção e essa representação se façam formalmente, quer se façam objectivamente. Mas para que alguma coisa em si própria seja cognoscível, não pode ser simples produto da razão; e que seja mais cognoscível relativamente a outra coisa, tomando-a representada, é também alguma coisa real no caso dos signos naturais. Logo, a relação do signo, nos signos naturais, é real. A premissa menor tem duas partes, a saber, que a coisa em si própria seja cognoscível realmente, e também que relativamente a outra torne essa outra representada e cognoscível realmente. E q u a n t o à p rim e ira p arte d a p re m iss a m e n o r, é p r o v a d a p o r q u e a c o is a é c o g n o s c ív e l a n te s d e to d a a o p e r a ç ã o d o in telecto. Se, c o m efeito , fo s s e to rn a d a c o g n o s c ív e l p e la o p e r a ç ã o d o in telecto, seria c o g n o s c ív e l p o r s e r c o n h e c id a , e a ssim n ã o se ria c o g n o s c ív e l a n tes d a c o g n iç â o , o q u e é a b s u rd o , p o r q u e e m n ó s a c o g n iç ã o é tirada
130
do cognoscível; mas se o cognoscível é tornado cognoscível pela razão ou pelo conhecimento, então o conhecimento é anterior à cognoscibilidade, e então o conhecimento não é tirado da cognosdbilidade como de um objecto. Nada obsta a que o cognoscível ou objecto diga respeito à potência não por uma relação real, mas por uma relação de razão, porque a própria realidade da cognoscibilidade é provada mais firmemente a partir deste facto. Pois é porque a potência depende do objecto, e não o objecto da potência, que o objecto diz respeito à potência por uma relação de razão; e o objecto funciona como medida, enquanto a potência funciona com o mensurado, que pertence às relações de terceira ordem , nas quais o mensurado é dependente, e por conseguinte diz respeito realmente; todavia a medida não depende do mensurado, e assim só por uma relação de razão diz respeito àquele. Ora, apesar de tudo, isto mesmo prova uma maior realidade na própria razão da medida, enquanto é menos dependente e por isso, de menor realidade na sua relação ao mensurado, assim como Deus ser senhor relativamente é alguma coisa de razão, mas segundo o poder é alguma coisa real. E de modo semelhante o acto livre é realmente livre em Deus e de muito maior realidade, porque só por razão é referido ao objecto livre, enquanto realmente dele não depende. Assim, o cognoscível no objecto real é absolutamente e em si alguma coisa real, mas relativamente à potência é alguma coisa de razão. Mas o facto de a cognoscibilidade numa coisa ser maior ou mais clara do que em outra não se retira da relação de razão para a potência, que em todo o objecto ocorre, mas da maior força e eficácia de m over e manifestar, que em si é alguma coisa real. A segunda parte da premissa menor mostra-se porque embora o cognoscível, na sua ordem e relação à potência, seja alguma coisa de razão, todavia em si é alguma coisa realmente cognoscível. Logo, para que um signo natural não seja só cognoscível em si e a respeito de si, mas também a respeito de outro, de que faz as vezes e a favor do qual se substitui na cognoscibilidade e na apresentação, a relação deve intervir realmente. A consequência é manifesta, porque a relação substitutiva nos signos naturais se funda na cognoscibilidade real e na conexão real do signo com determinado significado, para que o signo represente o significado não em conexão com a potência. Logo, o signo natural será um substituto daquela determinada coisa e dir-Ihe-á respeito com o objecto por uma relação real, embora tal cognoscibilidade não diga respeito à potência realmente. Pois o facto de que o fumo represente antes o fogo do que a água, e o vestígio do boi antes o boi que o homem, e o conceito de cavalo represente antes o cavalo que a pedra, funda-se em alguma proporção real e
132
intrínseca desses signos com aqueles objectos; ora, de uma proporção e conexão reais com alguma coisa nasce a relação real. Donde acontece que alguns autores estão fortemente enganados a respeito disto, pois sem discussão, ao verem que a cognoscibilidade ou apreensibilidade do signo funda a relação do signo, e que esta apreensibilidade é uma relação de razão para a potência, julgam que a própria razão do signo é simplesmente uma relação de razão. Além disso, nisto fortemente se enganam, porque a relação de cognoscibilidade para a potência precede e é pressuposta para a razão do signo: pois pertence à razão comum do objecto ou cognoscível. Mas requer-se ainda para a razão do signo que a sua cognoscibilidade seja ligada e coordenada com outro, isto é, com o objecto, de tal maneira que o substituto p or esse outro seja subordinado e sirva para o remeter à potência. E assim a relação desta cognoscibilidade do signo com aquela do objecto será também essencialmente uma relação real, porque se funda na proporção e maior conexão que esta cognoscibilidade tem para aquela, mais do que para outra, de tal maneira que o signo pode substituir e fazer as vezes da'quela cognoscibilidade, e isto é dado da parte da realidade, sendo o exercício de representar à potência igualmente dado da parte da realidade, embora a ordem e a relação para a potência não" seja real; pois uma coisa é saber se a relação do objecto com a potência é real, outra bem diferente é saber se a representação é real. Segundo S. Tomás, em D e Veritate, q. 3, art. 1, resp. obj. 2, «para a espécie, que é um meio, requerem-se duas coisas, ou seja a representação da coisa conhecida, que pertence à espécie segundo a proximidade ao cognoscível, e a existência espiritual, que lhe pertence segundo o ser que tem no sujeito cognoscente». Onde pondero aquelas palavras: «a representação que pertence à espécie segundo a proximidade etc.». Logo, a representação, no signo natural, funda-se na proximidade do signo com o objecto cognoscível, a favor do qual substitui e a respeito do qual é meio. Esta proximidade será uma relação real no caso das coisas que são proporcionadas e ligadas realmente, porque tem um fundamento real. Do que foi dito concluirás que mesmo nos signos convencionais a razão do signo deve ser explicada pela relação ao objecto significado. Mas essa relação é de razão, e contudo o signo não consiste apenas na denominação extrínseca, pela qual é imposto ou determinado pela comunidade para significar, como alguns autores mais recentes pensam, a partir do facto de que sem aquela ficção do intelecto, somente pela própria imposição o §igno é denominado.
132
Porém, esta imposição é requerida, na verdade, como fundamento da razão e relação do signo, porque é através desta imposição que alguma coisa se habilita e é destinada para que seja signo convencional; assim como é através do facto de algum signo natural ser proporcionado e ligado com um dado objecto que é fundada a relação do signo com esse objecto. E assim, daquela denominação extrinseca, da destinação e da imposição, surge uma dupla relação de razão.- a p rim eira é comum a toda a denominação extrinseca, enquanto a denominação extrinseca é concebida pela inteligência ao m odo de uma forma e relação denominante, como, por exemplo, o ser visto é concebido relati vamente ao que vê, o ser amado relativamente ao amador; a segunda é a relação particular pela qual uma denominação se distingue de outra. Com efeito, a destinação e a imposição da comunidade para várias funções não se distinguem a não ser pela relação a essas funções para o exercício das quais são destinadas, assim como alguém é destinado ou instituído para qualquer função, para que seja juiz, presidente, médico, e algumas outras coisas são destinadas para que sejam signos ou insígnia dessas funções, e semelhantemente são destinadas as palavras, a fim de servirem à conversação dos humanos. Estas funções provêm da escolha da opinião pública, que é uma denominação extrinseca. Além disso, distinguem-se porque o juiz é ordenado para julgar uns certos súbditos, o presidente para reger, o professor para ensinar: estas distinções são tomadas através de uma ordem para os seus ofícios, ou objectos acerca dos quais se exercem, e não são explicadas de nenhum outro m odo a não ser pelas relações; logo, são distinguidas pelas relações com as suas funções e objectos. O mesmo se deve dizer acerca dos signos convencionais, embora estes sejam fundados pela denominação extrinseca da imposição. E cessando a relação, estes signos são ditos permanecer fundamentalmente, enquanto aquela destinação da comunidade é dita permanecer moral ou virtualmente.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Argumentos para provar que o signo natural é um relativo de razão podem ser postos de duas perspectivas: ou do ponto de vista em que o signo se relaciona à potência, ou do ponto de vista em que se relaciona ao objecto. D a parte que d iz respeito ã potência, o argumento é comum mas difícil de resolver: com efeito, o signo diz respeito à potência por uma relação de razão. Mas esta relação é intrínseca e essencial ao
233
signo, e até mais principal. Logo, o signo natural não consiste precisamente na relação real. A premissa maior é certa porque entre o signo e a potência encontra-se uma ordem da mesma linha e razão que a existente entre o objecto e a potência. O signo, com efeito, é um tipo de objecto ou substituto de um objecto, e, assim, nesta qualidade move a potência objectivamente, não efectivamente, e portanto diz respeito à potência na mesma ordem que o objecto. É evidente, por outro lado, que o objecto se relaciona à potência por uma relação de razão, porque não existe uma relação mútua e recíproca entre a potência e o objecto. Logo, do ponto de vista do outro extremo, do objecto, não há uma relação real; mas o mesmo não sucede do ponto de vista da potência, porque esta diz respeito ao objecto realmente, logo, a relação entre potência e objecto será de razão do ponto de vista d o objecto. Contudo, especialm ente o signo instrumental, não pode manifestar alguma coisa à potência a não ser enquanto conhecido; mas ser conhecido é alguma coisa de razão. Logo, o signo instrumental conduz para o objecto mediante alguma coisa de. razão, isto é, mediante ser conhecido. A premissa menor, na verdade, prova-se: quer porque o signo é um instrumento, do qual se serve a potência para chegar ao objecto;. quer porque o fim, para o qual o signo é ordenado, é a manifestação do objecto à própria potência. Logo, a própria potência, ou antes, a sua cognição, para a qual o signo conduz, é o fim principalmente intentado pelo signo, e portanto uma ordem para a potência é intrínseca e essencial ao signo. E confirma-se o que foi dito porque os signos formal e instrumental diferem na razão do signo, como diremos na questão seguinte, e contudo não diferem por causa da diversa ordem para o objecto, mas para a potência. Pois o fumo como signo instrumental e o conceito com o signo formal de fogo dizem respeito ao mesmo objecto, ou seja, o fogo; mas o fumo diz-lhe respeito instrumentalmente, e o conceito formalmente. Logo, diferem pelas diversas ordens para a potência, e assim, esta ordem é essencial ao signo, enquanto o signo formal diz respeito à potência com o forma da cognição, e o instrumental com o movente extrínseco. Responde-se que, quer a ordem para o objecto e para a potência no signo seja somente uma, quer seja dupla (assunto que será tratado na questão seguinte), todavia, como é signo estando sob tal for malidade, não diz respeito à potência directa e principalmente, nem como medida dela, mas comovia de acesso a ... e condutor da potência para aquilo, que é o seu objecto e lhe é manifestável, ou seja, o referente. Sendo assim, tanto a potência como o signo dizem respeito
ao referente com o objecto manifestável, pelo qual são especificados e medidos, a potência como virtude cognoscente e tendendo para o objecto, o signo como via e meio pelo qual a potência tende para o objecto. Mas que o signo seja também objecto e conhecido primeiro, para que por ele a potência tenda para o referente, não é o que essencialmente constitui o signo enquanto signo; pois o signo formal, sem ser objecto conhecido pela potência, mas forma tornando a potência cognoscente, manifesta o objecto à potência. Logo, o que pertence essencialmente à razão do signo é a sua qualidade de substituinte a favor de um objecto na representação desse objecto à potência, substituição essa que exprime uma subordinação real e uma relação para o referente com o para um objecto principal, e esta é a relação essencial e formalmente constitutiva do signo, embora obliquamente o signo também atinja a potência, enquanto diz respeito ao objecto como manifestável à potência. Por isso, responde-se em forma ao argumento: distingo que o signo diga respeito à potência por uma relação de razão: que fòrmalmente, enquanto signo, diga respeito à potência por uma relação directa e da medida para o mensurado, nego; que o signo diga respeito à potência pressupostamente e como certo objecto que é, concedo. E para prova diz-se: nego que o signo esteja em linha e ordem de um objecto principalmente e essencialmente, e que enquanto ■objecto seja uma medida; concedo que o signo esteja na linha e na ordem de um objecto como substituinte e fazendo as vezes do objecto. Donde o signo não diz respeito à potência da mesma maneira que um objecto, mas respeita o objecto manifestável directamente, e a potência obliquamente, assim como um hábito, que está nas potências, respeita o objecto pelo qual é especificado directamente, embora para adjuvar a potência a respeito desse objecto. Nem o signo instrumental se funda em ser conhecido quanto à razão do signo, mas ser conhecido requer-se para o próprio exercício de significar, não para que o signo instrumental seja constituído no ser d o signo relativamente a um objecto com o seu substituto; pois isto já o signo possui antes de ser conhecido, porque o signo não consiste na representação actual, mas no poder de representar. E para primeira prova da premissa menor responde-se que o signo é dito ser um instrumento da potência, do mesmo m odo que é dito ser um instrumento do objecto e substituto dele para se manifestar a si à potência. Com efeito, o signo não é instrumento da potência do ponto de vista da eliciação do acto cognitivo, quase como se a potência eliciasse o seu acto por meio do signo, mas do ponto de vista da representação de um objecto, enquanto o objecto
135
é manifestado por meio do signo, e assim um signo é mais principalmente subordinado ao objecto enquanto é aquilo a favor de que substitui na representação à potência. Para segunda prova da menor responde-se que o fim do signo é manifestar um objecto à potência, manifestação essa a partir de uma subordinação ao próprio objecto como a um principal, a favor do qual o signo sub-roga e substitui ao representar. Contudo, o que a partir da subordinação e substituição por outra coisa diz respeito a algum fim, diz respeito àquilo a favor de que substitui mais principalmente do que àquilo a que, ou fim ao qual tende, porque diz respeito a este último como fim-efeito, enquanto diz respeito àquilo pelo que é substituído como fim-por-causa-do-qual; pois é pela subordinação a este último que diz respeito ao primeiro como seu efeito. Para confirmação responde-se que se a divisão do signo em formal e instrumental é essencial, não se toma da ordem para a potência, mas das diversas ordens para o objecto. Com efeito, os diversos modos de afectar a potência, como objecto primeiro conhecido ou como conceito intrinsecamente informante, redundam nas diversas razões de manifestar e representar o objecto, porque a própria manifestação e representação é um tipo de movimento. E assim o. modo de afectar a potência, que faz variar o movimento, redunda na variedade das representações. Contudo, as diversas representações dizem respeito ao objecto sob diversas formalidades ou razões formais do representável, porque a representação e o representável devem ser proporcionais, e variando um, varia também o outro, e assim os signos se tomam formalmente diversificados por razão do objecto e do representável, embora materialmente possam ser signos do mesmo objecto. Um segundo argumento, para defender que o signo natural é alguma coisa relativa de razão, pode ser provado porque mesmo da parte do signo enquanto diz respeito ao objecto e na ordem para aquele objecto não existe uma relação real. Em primeiro lugar, quando o objecto não existe, apesar disso o signo não é formalmente menos signo a respeito desse objecto, porque o representa em acto à própria potência, e então a relação para o objecto não existente não é real. Segundo, quando o signo representa algum ente de razão, como o conceito de quimera, ou a efígie e imagem exterior daquela. Terceiro, a relação do signo natural com o seu objecto não é real, porque a relação do signo difere da relação de imagem só por isto — que o signo toca o objecto como o que é representado à potência, a imagem, porém, representa o exemplar como devendo ser imitado por si. Mas no objecto ser representável à potência não é alguma coisa real,
136
mas de razão, porque o objecto nào se ordena à potência cognoscente por uma ordenação e relação real, mas como manifestável, e assim é como outros objectos, que não dizem respeito à potência por uma relação mútua. Logo, o signo é atingido pelo objecto sob uma certa formalidade de razão, e portanto não por uma relação real. Finalmente, entre os signos naturais, a relação do signo com o objecto não é real, porque o próprio exercício de representar ou significar não põe nada de real no objecto. Com efeito, não se produz uma mudança no objecto pelo facto de ser representado pelo signo; produz-se porém uma mudança real na potência quando é movida de novo pelo signo. Logo, a respeito do objecto, a relação de signo não é real, porque nào pode ser mais real o poder de significar do que o seu acto ou exercício. Para a primeira prova responde-se que o signo, não existindo o objecto, não permanece signo formalmente, mas fundamentalmente, porque cessa a razão formal e actual de substituição, não existindo o objecto pelo qual substitui. Mas a possibilidade de se manifestar a si próprio, assim como o objecto ausente, permanece, porque permanece a proporção ou conexão para esse objecto, a qual pode fundar a relação de signo; e em virtude desta proporção ou conexão é feita a representação, não em virtude da relação pela qual o signo é formalmente constituído na razão do substituído. Para a segunda prova diz-se que o conceito de ente de razão, ou imagem da coisa quimérica, representa a coisa impossível ao modo das coisas possíveis, assim como a quimera é representada pelas suas partes, as quais são alguma coisa real, como a cabeça do leão, o corpo da cabra e a cauda da serpente, embora tal conjunção não exista na realidade. E para isto mesmo, que em tal objecto é pura quimera e ente de razão, não é dada a relação real do signo natural, mas pode ser dado um elemento manifestativo e representativo real, ou seja, a espécie representando o ente de razão à semelhança do ente real, mas este manifestativo não requer uma relação real, nem exprime a formalidade do signo, mas a razão transcendental do representativo. Para a terceira prova responde-se que o referente, enquanto objecto manifestável à potência, é em si alguma coisa de real, embora não seja referido por uma relação mútua nem à potência, à qual é representável, nem ao signo, pelo qual é representável. Na verdade, porque o objecto na sua ordem está menos dependente da potência que a potência dele próprio, não tem como objecto uma relação recíproca para a potência. Donde, assim como o conhecimento e a potência dizem respeito ao objecto por uma relação real do terceiro gênero, embora o objecto não tenha uma relação real com a potência,
137
porque é suficiente para este tipo de relação a realidade do termo no ser da coisa, e não na formalidade do termo; assim, a relação do signo com o mesmo objecto com o significável à potência é real, porque na ordem do ser real esse objecto é real, embora a relação do objecto com a potência ou com o próprio signo não seja real. Para última prova responde-se que o exercício do signo não põe coisa alguma no objecto, visto que o signo antes respeita e depende do objecto, enquanto substituinte a favor desse objecto. Mas se o signo alterasse o objecto realmente, este diria respeito ao signo, pelo qual seria mudado, realmente. Donde do facto de que o signo não altere o objecto realmente, não se segue que o signo não diga respeito ao objecto realmente, mas que o objecto não se relacione ao signo realmente, o que sem objecções concedemos. Mas importava provar que o signo não é alterado ou dependente realmente do objecto que substitui. Em relação à potência, contudo, o signo move-a realmente objectivamente, não agindo eficientemente, como abaixo se diz. Mas tal moção pertence ao signo não enquanto signo formalmente, mas como objecto; logo, mover substituindo a favor de outro é próprio do acto do signo, ou significar; mas assim o signo importa a relação de um substituto para o objecto, e então enquanto é signo, não diz respeito directamente à potência movida, mas ao objecto, a favor do. qual substitui para mover a potência. Terceiro argumento: o signo natural e o convencional coincidem univocamente na razão do signo. Logo, não pode um ser real, e o outro de razão, porque nada é unívoco para relações reais e de razão, nem são ambos, signo natural e convencional, alguma coisa de real, visto que é sabido que o signo convencional é alguma coisa de razão; logo, ambos são alguma coisa de razão. Prova-se a antecedente: a razão de um objecto ou cognoscível é unívoca no ente real e no de razão, porque pertence a tipos unívocos de conhecimento e à mesma potência cognitiva. Com efeito, a Lógica, que trata do ente de razão, e a Metafísica, que trata do ente real, são ciências unívocas. Logo, os objectos das mesmas são univocamente objectos e coisas cognoscíveis. Do mesmo m odo o signo natural e o convencional são signos univocamente, visto que a razão do signo e do significável é da ordem do objecto e do cognoscível, a favor do qual o signo substitui. Isto confirma-se por aquele vulgar argumento de que, pelo facto de aquilo que é comum ao signo ser de determinada espécie de ente ou relação, o signo deve ser posto em determinada categoria ou gênero, mas não pode ser abstraído do real e de razão. Portanto na própria categoria de relação não é claro em qual dos três tipos essenciais o signo deve ser posto. .Na verdade, nem sempre é posto
138
na ordem da medida e do mensurado, visto que algumas vezes o signo não é aperfeiçoado pelo objecto, mas o contrário, como sucede quando uma causa é signo do causado, como a nuvem é signo da chuva; nem também facilmente se mostra entre os signos que são efeito, por exem plo de que m odo o fumo é medido pelo fogo, ou também de que m odo na imagem se distinguem as duas relações de medida, uma na razão da imagem, outra na razão do signo, se na verdade estas razões são diversas. Responde-se ser verdade que a razão do cognoscível e do objecto no ente real e de razão pode ser unívoca; com efeito, uma coisa são as divisões do ente na ordem das coisas reais, outra bem diferente são as divisões na ordem do cognoscível, como bem ensina Caetano no Com entário à Suma Teológica, I, q. 1, art. 3. E assim a razão do cognoscível não é a razão do ente formalmente, mas só é ente pressupostamente; pois o verdadeiro é uma afecção do ente, e assim formalmente não é ente, mas consequente para o ente e pressu postamente ente; mas o verdadeiro é o mesmo que o cognoscível. Donde pode muito bem ser que algum ente incapaz de existência real seja capaz de verdade, não como sujeito, mas com o objecto, enquanto não tem em si a entitatividade que enquanto sujeito funda a verdade e a cognoscibilidade, mas tem o que enquanto objecto pode ser conhecido à semelhança do ente real, e assim estar objectivamente no intelecto enquanto verdadeiro. Donde, embora entitativamente, o ente real e o ente de razão sejam, todavia, análogos objectivamente, visto que um à semelhança de outro é representado, mesmo entes que não são unívocos entitativamente podem coincidir na razão unívoca do objecto; como Deus e a criatura, substância e acidente na razão de um cognoscível metafísico, ou de alguma coisa inteligível pelo intelecto. A razão do signo, porque não consiste absolutamente na razão do objecto, mas na substituição relativamente a outro, que é suposto ser objecto ou referente, para que seja representado à potência não pertence à ordem do cognoscível absolutamente, mas relativa e ministerialmente; e para este papel, a razão do signo reveste-se de alguma coisa da ordem entitativa, ou seja, como é relação e como traz a ordem do cognoscível para a ordem d o relativo, e por este papel a relação do signo natural, que é real, não coincide univocamente com a relação do signo convencional, que é de razão. A resposta à questão vem confirmada no capítulo precedente, próximo do fim. À dificuldade acrescentada acerca da espécie, na qual se põe o signo na categoria de relação, responde-se que pertence ao gênero da medida e do mensurado. Pois o objecto funciona sempre como principal coisa a ser representada, e o signo como servindo e
139
ministrando nesta ordem, e assim o signo diz respeito ao seu principal como medida extrínseca na ordem do representável, e por aproximação àquela medida, o signo é tão mais perfeito quanto melhor representa. E assim, o fumo respeita ao fogo como medida na razão do representável, não na ordem do ente. E a imagem como imagem respeita ao exemplar como medida na imitação e derivação dele próprio como de um princípio, mas na razão do signo uma imagem representa o exemplar enquanto medida na ordem do representável e manifestável â potência, relações essas que são diversas. Embora relações de causa ou efeito sejam encontradas nos signos — sejam eficientes ou formais relativamente ao seu objecto — tais relações não são formalmente a própria relação do signo, mas alguma coisa pressuposta ou concomitante, tornando este signo proporcionado a um objecto, de preferência a outro, mas a relação do signo propriamente dita é para um objecto como coisa representável à potência, não como efeito ou causa.
Capítulo m
SE É A MESMA A RELAÇÃO DO SIGNO COM O OBJECTO E COM A POTÊNCIA
É certo que nos signos externos, e que primeiramente se conhecem para que conduzam ao objecto, se encontra uma ordem para a potência, tal como sucede com alguns objectos conhecidos e terminando a cognição, uma vez que cíaramente se vê que tais signos são conhecidos como objectos, assim como o fumo primeiramente se vê como objecto, e depois pelo conhecimento de si conduz ao referente. Donde a relação ou ordem do signo para a potência, na razão de um objecto, deve ser distinta da ordem ou relação na razão do signo, visto que, nesta razão de um objecto, o signo coincide com outros objectos que não são signos, e respeita objectivamente à potência do mesmo modo que aqueles outros objectos. Logo, para que um signo externo não só puramente objectivamente mas também significativamente respeite à potência, resta inquirir se aquela mesma relação pela qual o signo diz respeito ao objecto, e em ordem para o qual se reveste da razão do signo, é a mesma relação pela qual o signo também diz respeito à potência, à qual o objecto deve ser manifestado pelo signo; ou se um signo externo tem uma relação para o objecto já purificada e desligada da relação à potência, potência que o signo, na razão de um objecto, respeita por uma segunda relação, concorrendo uma e outra relação para constituir a razão do signo; ou até se na própria razão do signo, além da razão do objecto, pode encontrar-se uma dupla relação, uma para a potência e outra para o objecto. E a razão da dificuldade surge porque, por um lado o signo não diz respeito ao objecto apenas em si, mas numa ordem para a potência,
141
já que na definição de signo se inclui uma ordem para essa potência, ou seja, que o signo é manifestativo à potência. Se, portanto, a razão do signo exprime essa relação para a potência; ou o signo diz respeito ao objecto significado por uma única e mesma relação, e surgem as dificuldades que abaixo devem ser tratadas, porque o objecto e a potência são termos totalmente diversos, visto que em relação à potência só existe uma relação de razão: em relação ao objecto existe a ordem do mensurado para a medida, em relação à potência, pelo contrário, a potência é mensurável pelo próprio signo externo como por um objecto conhecido; ou são diversas as relações do signo para a potência e para o objecto, e assim o signo não estará na categoria de relação, porque na razão do signo não existe uma única relação, mas uma pluralidade de relações. Seja todavia a conclusão: se a p otência e o objecto são considerados com o termos directam ente atingidos p ela relação, necessariamente exigem um a dupla relação no signo, mas deste modo um signo externo d iz respeito à p otên cia directam ente com o objecto, não form alm ente com o signo. Se porém se considera a p otência com o term o tocado em oblíquo, çntão o objecto e a p otência são atingidos pela ú n ica relação do signo, e esta relação é a p róp ria e fo rm a l razão do signo. Assim, uma relação existente, una e a mesma, pode ser terminada. para dois termos, um directamente, outro obliquamente, o que é simplesmente ter apenas um termo na razão formal do termo. Não coincidem nesta conclusão muitos dos autores mais recentes. Alguns, com efeito, julgam consistir o signo em duas relações concorrendo igualmente, uma para o objecto, outra para a potência. Outros consideram no signo, enquanto distinto do objecto, duas relações, ao objecto e à potência, que embora não constituindo igualmente a razão do signo, são contudo intrínseca e essencialmente requeridas para aquele. Mas de que modo uma destas relações se relaciona com a outra, se como gênero, ou como diferença, ou como propriedade, ou como modo, torna-se-lhes dificílimo explicar. Outros fundem a potência e o objecto, como se fossem partes materiais, num termo formal integral e único. Outros autores negam que o signo com o signo diga respeito à potência, e há ainda outros que negam que diga respeito ao objecto, sustentando que toda a essência do signo consiste numa certa apreensibilidade pela potência, como meio para conhecer o outro. Embora estas últimas opiniões sejam geralmente rejeitadas, porque a definição de signo postula o objecto, que é manifestado, e a potência, à qual é representado; contudo alguns concedem pertencer à intrínseca razão do signo apenas ser .capaz de terminar a potência como meio pelo qual Ou no qual é conhecido o objecto, mas que não pertence à natureza intrínseca do
142
signo ser referido à potência, nem por ordem real ou transcendental, nem por uma relação de razão, embora do ponto de vista do nosso modo de conceber o signo não seja apreendido sem tal ordem. Todavia, a conclusão posta é provada. £ quanto à primeira parte, que a potência e o objecto como termo directamente atingido postulam uma dupla relação, assim é, porque a potência não é respeitada directamente excepto pelo seu próprio objecto, seja movente ou terminante; com efeito a potência diz directamente respeito ao objecto com o objecto, contudo o signo não exprime directamente a razão de um objecto, mas do substituinte a favor do objecto e do meio entre o objecto e a potência, logo, o signo diz directamente respeito ao objecto a favor do qual se substitui, enquanto é signo. Logo, como directamente diz respeito à potência, é necessário que seja tomado na razão do objecto, e não na razão do signo; e assim atinge directamente a potência por uma outra relação que não a relação do signo, que é ser várias relações. Em suma: uma relação directa de um objecto à potência e orientando-se directamente para a potência, e a relação de um objecto com o signo procedem de modos opostos, porque a potência é movível pelo signo — pois é movida como por um representante do objecto — , mas o próprio objecto não é movível pelo signo, mas manifestável, ou é aquilo a favor de que o signo faz as vezes na representação. Logo, se estas relações são tomadas directamente, dizem respeito a termos distintos mesmo formalmente na razão do termo. E não pode ser dito que o signo é relativo ao objecto -e não à potência, mas apenas termina a potência. Com efeito, repugna inteleccionar que o signo se refira ao objecto, se é desligado da potência e concebido sem nenhuma ordem para ela, porque o signo enquanto diz respeito ao objecto, traz e apresenta aquele à potência. Logo, esta relação com o objecto com o possibilidade de manifestar é contraditória com estar desligado da potência. Se contudo o signo não existe absolutamente em relação à potência, mas dependente e ordenadamente para ela, tem, por consequência, uma relação para com essa potência. Isto é confirmado porque embora um objecto a respeito da potência não seja constituído essencialmente numa relação para aquela, antes a potência dependendo do objecto, contudo o signo, que faz as vezes do objecto representando e exibindo-se à potência, necessaria mente inclui esta relação; tanto porque a substituição a favor de outro sempre está numa ordem para alguma coisa, e com o o signo substitui e faz as vezes do objecto numa ordem para a função de representar à potência, o signo deve necessariamente exprimir uma
ordem para a potência; tanto porque representar é fazer um objecto presente à potência, logo se o signo é meio e substituto do objecto na representação, necessariamente envolve uma ordem para aquilo que representa ou faz presente, e isso é a potência. A segunda parte da conclusão é assim provada: a relação do signo com o objecto é uma relação ao modo da representação ou da sua aplicação à potência, logo, o signo deve dizer respeito ao objecto como termo directo e «que» de si respeite, respeito que também atinja a potência em oblíquo e como termo -para o qual». Repugna, com efeito, nestas relações, as quais existem por modo de substituir e representar, que digam respeito àquilo cujas vezes fazem, e não àquilo em ordem para que se substituem, porque é ao substituir-se ou fazer as vezes de alguma coisa segundo alguma determinada razão e em ordem a algum determinado fim, que uma coisa faz as vezes de outra; de outro modo aquela substituição não seria determinada, porque é determinada pelo fim para o qual é feita. Logo, se a relação de representar e de fazer as vezes de alguma pessoa é determinada, importa que diga respeito àquela pessoa, e que também atinja isto, por causa do que e em ordem ao que se substitui; com efeito, é a partir desse momento que é uma substituição determinada. E assim, como o signo faz as vezes e representa o ' objecto substituindo-se a favor daquele determinadamente (para que tome presente o objecto à potência), necessariamente nas próprias entranhas e íntima razão de tais substituições e representações do objecto, como é uma substituição e representação determinada, é envolvida alguma relação para a potência, porque é para isto que o signo se substitui, para que represente à potência. Qualquer que seja o modo como a mesma relação é dita atingir directamente o objecto e obliquamente a potência, omissas muitas e variadas explicações, a resposta mais adequada parece ser que o signo diz respeito à potência obliquamente enquanto o ser manifestável à potência é incluído no próprio objecto. E assim, como o objecto não é aquilo a que se diz respeito como sendo alguma coisa de absolutamente em si ou segundo alguma ordem, mas como manifestável à potência, necessariamente a própria potência é tocada obliquamente por aquela relação, a qual atinge o objecto não por subsistir nele precisamente como é em si, mas enquanto é manifestável à potência; e assim de alguma maneira a relação do signo atinge a potência na razão de alguma coisa manifestável a outro, não por separadamente atingir a potência, mas por atingir aquilo que é .manifestável à potência, assim como, por exemplo, a virtude da religião diz respeito, pelo seu objecto formgl, ao culto como algo para ser
144
oferecido a Deus, não que diga respeito a Deus directamente, pois então seria uma virtude teológica, antes dizendo respeito ao culto directamente e a Deus indirectamente, enquanto Deus está contido no culto como termo para o qual o culto é oferecido, e a religião diz respeito ao culto como estando sob aquele termo, e não absolutamente ou sob alguma outra consideração. O mesmo se passa com a ordem para o bem, que desejo ao amigo na amizade; pois essa ordem não é terminada para o bem querido absolutamente, mas para um bem querido como atribuível ao amigo, e o amigo como termo daquele bem querido para alguém termina a mesma relação, embora não como objecto directo, mas como incluído no objecto directo, pelo facto de esse objecto directo, o bem desejado, ser respeitado enquanto relativo a esta pessoa e não absolutamente. É verdade que para que o signo diga respeito ao objecto deste modo, isto é, como manifestável à potência, é essencialmente pressuposto que o próprio signo diga respeito à potência por uma outra relação, ou enquanto objecto apreensível — se for signo instrumental — ou enquanto forma constituinte da apreensão — se for signo formal — , assim servindo para chegar ao conhecimento de outro como signo formal ou instrumental. Contudo esta relação do signo para a potência, como dissemos no início do capítulo, não é signo enquanto signo formalmente, mas enquanto objecto ou forma; pressupostamente todavia, esta relação do signo para a potência é requerida, porque um signo externo também é um objecto que move a potência, e a não ser que a mova como objecto, não se manifestará como signo, mas formalmente uma relação é distinguida da outra. E embora por virtude da relação para o objecto, na qual é incluída obliquamente a potência à qual esse objecto é manifestável, um signo não exercesse representação, a não ser que a moção da potência fosse conjugada com o signo enquanto objecto movente, contudo é devido àquele dizer respeito ao objecto que esse movimento de estimulação é significativo, isto é, representando e substituindo-se a favor do outro que significa, e não principalmente a favor de si. Disto deduz-se que a apreensibilidade do signo não é a própria razão fundante da relação do signo imediata e formalmente, porque ser apreensível ou cognoscível é a razão do objecto enquanto objecto, a qual só pressupostamente é requerida para a razão do signo; mas que o fundamento da relação do signo é a própria razão do meio que o signo tem para o significado como manifestável à potência, substituindo-se por aquele significado na razão de mover e representar. Muito menos é o conhecido ou apreendido no signo, que alguns chamam apreensibilidade próxima, que funda ou completa a razão 10
145
do signo, porque ser conhecido não pertence à razão do signo, mas ao seu exercício (com efeito, quando em acto representa, em acto é conhecido), não enquanto é representativo.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Prim eiro, é argum entado: a relação do signo com o objecto no signo natural é real, mas com a potência, entre os mesmos signos, é de razão, logo não pode haver uma única relação entre signo, objecto e potência cognoscente. A antecedente, para a primeira parte do problema, consta do capítulo precedente. A antecedente para a segunda prova-se porque a relação com a potência é a relação do signo, enquanto tal signo é apreensível pela potência. Mas a relação de algo apreensível ou cognoscível com a potência cognoscente é uma relação de razão, mesmo se esse algo é apreensível como signo, porque ser apreensível ou apreendido, seja no signo seja no objecto, nada de real põe no próprio; com efeito, a cognição ou apreensão só existe realmente na potência, mas na coisa apreendida, qualquer que ela seja, não põe nada de real. O mesmo argumento é feito a partir do diverso m odo e espécie' da relação do signo com a potência e da relação do signo com o objecto: pois a relação do signo com o objecto é do mensurado para a medida, porque o objecto é o principal, pelo qual o signo substitui e faz as vezes, como frequentemente já foi dito. Mas a relação do signo com a potência é uma relação de medida para 0 mensurado. Com efeito, o signo diz respeito à potência por uma relação não mútua, porque o signo tem-se da parte do objecto representado, e não funciona com o mensurado pela potência, logo como medindo a potência; pois a potência não mede a coisa apreendida, mas é medida por aquela, porque é aperfeiçoada por essa coisa apreendida. A resposta a estes argumentos, e outros semelhantes, que são multiplicados do mesmo modo, é que provam isto que a princípio dissemos, a saber, que a relação com a potência da parte do signo como objecto da potência, e a relação com o objecto como para os termos directos, não é uma relação única, mas múltipla. Contudo, nenhuma das duas é a relação do signo formalmente, mas a relação que directamente diz respeito à potência é a relação do objecto sob a razão e a formalidade de um objecto, enquanto a relação que directamente diz respeito à coisa significada está na razão da causa, ou do efeito, ou de outra razão semelhante; donde a coisa que é signo é determinada para que seja alguma coisa do objecto significado, e assim representa aquele objecto preferencialmente a outro.
146
Além disso, a própria relação do signo, formalissimamente falando, enquanto é signo, respeita à potência obliquamente, não enquanto o signo é apreensível pela potência e objecto daquela, mas enquanto o próprio objecto é manifestável à potência e atingindo o objecto ou substituindo-se a favor dele não absolutamente, mas como manifestável à potência deste modo, está envolvida uma potência cognitiva, virtual e indirectamente. Donde, embora a relação do objecto, ou apreensível, com a potência, tomada directamente e ao m odo de um objecto, seja de razão, contudo, essa relação com o objecto, ainda que como manifestável à potência, pode ser real, porque, no objecto, ser significável e representável à potência é alguma coisa de real, embora ele não diga respeito à potência realmente; pois o m odo como um objecto respeita à potência é uma coisa, outra bem diferente é o que, num objecto, é ser manifestável à potência. Ser manifestável e objectificável é alguma coisa de real, sendo aquilo de que depende a potência e pelo que é especificada; por outro lado, é pelo facto de um objecto ser assim real que não depende da potência por uma relação real. Donde, como o signo, sob a formalidade do signo, não diz respeito à potência directamente —- pois isto é a formalidade do objecto — mas diz respeito à coisa significável ou manifestável à potência, pelo que a potência, enquanto indirectamente inclusa naquele objecto manifestável, é atingida por uma relação de signo real, porque a potência não é respeitada separadamente, mas enquanto incluída no que é real no objecto como algo manifestável à potência; onde o todo que è atingido em acto e formalmente é real, e a potência entra aí apenas como algo conotado e indirectamente. Por exemplo, uma ciência que trata das cores enquanto objecto da visão, diz respeito às cores de forma real enquanto especificativas dela própria, embora as próprias cores incluam virtualmente uma ordem para a potência para a qual são objectos, ordem essa que é de razão nas próprias cores; todavia, a ordem da ciência para tais objectos não é de razão. Mas aquela relação pela qual um signo diz directa mente respeito à potência cognitiva, movendo-a e estimulando-a para conhecer o próprio signo, assim como o objecto cujas vezes faz, é uma relação de razão, mas distinta da relação do signo, pela qual o signo diz respeito ao objecto, porque é a relação de um objecto, não formalmente a relação de um signo enquanto signo. E assim é patente que a resposta ao segundo argumento é que procede da relação pela qual o signo directa e formalmente diz respeito à potência, que é a relação de medida ou de objecto mensurante, não da relação pela qual o signo diz respeito ao objecto enquanto esse referente é um objecto manifestável à potência, onde a potência é atingida apenas obliqua e virtualmente, não por um respeito de 147
razão. E assim o signo não é uma medida da potência, mas um instrumento do objecto para a potência. Segundo, é argum entado: estes termos, o objecto e a potência, são distintos mesmo na formalidade do termo, porque um ê termo enquanto algo que é atingido directamente, enquanto o outro é termo como alguma coisa «para a qual», logo distinguem-se mais do que materialmente. Com efeito, quando o signo tem vários objectos inadequados, então é relacionado com eles com o com vários termos materialmente diversos, e logo potência e objecto são distinguidos na razão dos termos mais do que materialmente. Isto é confirmado porque é da ordem para a potência que os signos são distinguidos especificamente, como claramente se vê nos signos formal e instrumental, que são de diversa espécie no gênero do signo, e não se distinguem do ponto de vista do significado; pois o conceito de fogo, por exemplo, pode representar a mesma coisa que o fumo, que é signo de fogo, mas os conceitos de fogo e fumo são distinguidos no seu m odo de funcionamento relativamente à potência, o conceito informando e o fumo objectificando. Logo, a ordem para a potência existe directa e não indirectamente no signo, uma vez que essa ordem especifica e distingue diferentes tipos de signo. Este argumento pode também ser feito de outra maneira, porque os signos podem ser divididos em diversas espécies ou tipos segundo a ordem para o objecto, quando a ordem para a potência permanece invariável; logo isto é signo de que existem relações distintas, uma para a potência, outra para o objecto, pois de outro modo, variando uma, variaria a outra. A antecedente é de facto verdadeira, pois diversos conceitos são variados pelos diversos objectos representados, enquanto a relação à potência cognitiva permanece da mesma razão em todos. Confirma-se em segundo lugar: a natureza do signo e a natureza da imagem diferem nisto, que uma imagem não diz respeito à potência, à qual representaria, mas ao exemplar ou ideia do qual é imitação. Pois, mesmo se uma imagem representa à potência, isso é acidental à imagem. O signo, contudo, diz respeito essencialmente à potência como aquilo a que representa. Logo, a relação com a potência é intrínseca ao signo e constitutiva dele, pois essa relação distingue essencialmente o signo da imagem. Finalmente, uma terceira confirmação surge porque a relação com a potência permanece no signo, mesmo depois de destruída a relação para o objecto, como é claro quando o objecto não existe, e contudo o signo conduz a potência para a apercepção daquele tal como antes. Logo, o signo diz respeito à potência na razão de conduzir e
148
de significar tal como antes, quando o objecto ainda existia, e assim a relação com a potência permanece. A resposta ao argumento principal é que o objecto, que é representado, e a potência, à qual é feita a representação, não são dois termos adequados e distintos na razão do termo, mas integram um termo estabelecido de algo directo e de algo indirecto. Assim como, por exemplo, na religião, o culto, que é oferecido, e Deus, ao qual é oferecido, não são dois termos adequados, mas um termo íntegro e completo da religião. E acreditar em Deus e Deus não são dois termos, mas um termo da fé, enquanto assim é atingido um termo, que termina não absolutamente e segundo ele próprio, mas como modificado e respectiva ou conotativamente se orientando para algum outro, assim como o objecto é atingido com o representável à potência. Para primeira confirmação responde-se que a divisão do signo em formal e instrumental é uma divisão por diversas espécies, as quais são directamente tomadas, não apenas a partir das diversas relações com a potência, mas também das diversas relações com o objecto, como representável à potência de modos diversos. Com efeito, qualquer objecto é representável por um duplo m eio repre sentativo, ou seja, um meio «no qual- e un\ meio «pelo qual». E, de m odo semelhante, o primeiro funda a representação formal actuando informativamente no interior da potência, o segundo funda a 'representação instrumental movendo a potência a partir d o exterior. Donde no próprio objecto representável se encontram diversas razões ou fundamentos para as relações que terminam a partir destas diversas representações ou modos de representar nos signos, embora a coisa representada possa materialmente ser a mesma. E, de m odo seme lhante, esta divisão dos signos em instrumental e formal, pressupõe nos próprios signos diversos modos de mover e de representar à potência, isto é , como objectos externos ou como formas internas; contudo isto é relacionado pressupostamente à razão do signo, enquanto a formalíssima razão do signo consiste em ser algo de substituto a favor do objecto enquanto representável de tal ou tal modo. E disto é claro, para a outra parte da primeira confirmação, que a ordem para a potência, embora seja da mesma razão em diversos objectos, contudo não requer que a potência seja envolvida por uma relação distinta, porque pode bem ser que as relações do signo sejam variadas especificamente pela diversidade dos objectos representáveis, embora convenham ou não difiram do ponto de vista dá conotação indirectamente inclusa, assim como, por exemplo, a fé e a opinião convêm na obscuridade, não na razão formal especificante.
149
Para segunda confirmação, responde-se que porque o signo diz respeito ao objecto precisamente como representável à potência, porque faz as suas vezes, sendo-lhe consequentemente inferior, enquanto a imagem diz respeito ao seu exemplar como imitável e como princípio do qual é originada e expressa, não podendo, assim, ser muito diferente desse exemplar, por esta razão, do ponto de vista do próprio termo com o qual directamente se relacionam, signo e imagem têm distintas formalidades ou razões formais de terminar, embora uma, o signo, siga indirectamente uma ordem para a potência no próprio objecto, que toca, e a outra, a imagem, não. E assim a razão formal distinguindo num caso é a razão do objecto com o tal, e no outro caso é a razão de um exemplar com o tal, e não, em ambos os casos, a própria potência à qual é feita a representação. Para terceira confirmação responde-se que, destruída a ordem para o objecto, é destruída a ordem para a potência, que no próprio objecto oblíqua e conotativamente se incluía. Contudo, porque esta ordem para o objecto não existente permanece no signo fundamental e virtualmente, aquela ordem para a potência, que vai com o objecto, permanece também fundamentalmente. De m odo formal, todavia, o signo pode reter em si a razão do objecto movente ou da forma representante, cuja razão ê outra relação diferente da relação do. signo, como foi dito.
C apítulo IV
DE QUE MODO SÃO OS OBJECTOS DIVIDIDOS EM MOTIVOS E TERMINATIVOS
Sejam supostas neste capítulo as definições destes objectos, moti vos e terminativos, que no primeiro livro das Súmulas transmitimos. E aquelas supostas... Seja a primeira conclusão: o objecto em geral, enquanto abstraído 'd e ser m otivo e term inativo, consiste nisto, que seja algum a coisa extrínseca, da qu a l é retirada e depende a razão intrínseca e a espécie de algum a potên cia ou acto; e isto é reduzido à categoria de um a causa fo rm a l extrínseca não causando existência, mas especificação. Para que esta conclusão seja entendida, advertimos de Caetano, no seu Com entário à Suma Teológica, I, q. 77, art. 3, que algumas coisas são inteiramente absolutas, não dependendo de nada extrínseco a elas na sua constituição e especificação, tal com o a substância, a quantidade, etc. Outras são inteiramente relativas, aquelas que têm todo o seu ser para outro e daquele dependem com o de um puro termo. Outras são médias entre estas, as que em si têm alguma essência absoluta, para que tenham alguma outra coisa a que respeitar e serem referidas: contudo na sua constituição e especificação dependem de alguma coisa extrínseca, não para se referir, mas para agir ou causar ou alcançar alguma coisa. E é deste m odo médio que as potências e os actos e os hábitos funcionam a respeito das coisas que atingem, e são ditos terem uma ordem transcendental para aquelas. E nota bem que, uma coisa é alguma coisa ser absoluta ou independente de alguma coisa extrínseca na sua especificação, mas
151
outra bem diferente é ser assim na sua existência. Com efeito, existindo, nenhuma coisa é absoluta ou independente de algo extrínseco, excepto somente Deus, que é de si, enquanto todas as restantes coisas são de Deus. Mas na presente questão falamos da dependência de uma coisa, na sua especificação, de algo extrínseco, e é deste m odo que um objecto funciona relativamente à potência. Pois um objecto não existe relativamente à potência ou acto como produzindo ou influenciando a existência; com efeito, isto não pertence ao objecto, mas a alguma coisa que é producente. Contudo d o objecto depende a especificação do acto ou da potência segundo ela própria, mesmo abstraindo da existência do objecto. Finalmente, um objecto, embora seja uma causa formal extrínseca, difere da ideia ou causa exemplar, tanto porque a ideia é aquilo à semelhança do que o objecto ideado é feito, sendo que o objecto, contudo, não é alguma coisa em cuja semelhança a potência ou o seu acto existe; como porque uma ideia é dita causa exemplar ao modo de origem, o objecto, contudo, não sendo princípio de origem a respeito da potência ou d o seu acto; e ainda, finalmente, porque a ideia é causa exemplar eficaz, e por esta parte também causa a existência, com efeito, influindo para formar a coisa singular em acto, e estando, enquanto tal, a ideia no intelecto prático, que se estende à obra e à existência de um efeito; o objecto, contudo, não m ove a potência ou acto no que toca ao exercício ou eficiência, mas só no que toca ao que é formal e à especificação. Assim, a conclusão posta é retirada de S. Tomás na Sum a Teoló gica, I-II, q. 9, art. 1, onde diz que -um acto é especificado segundo a razão do objecto», e que «um objecto m ove a potência determinan do-a ao m odo de um princípio formal, através do qual uma acção é especificada na ordem das coisas naturais». E em I, q. 77, art. 3, S. Tomás diz que -um objecto é relacionado com a potência passiva com o causa e princípio movente», «mas com o acto ou potência activa é relacionado com o termo ou fim». «Destas duas», diz, «uma acção recebe a sua espécie, nomeadamente de um princípio, ou de um fim e termo.» Logo, julga S. Tomás que os objectos das potências activa e passiva coincidem nisto, que é especificarem um acto. E finalmente, no seu comentário ao Livro II do tratado de Aristóteles D e A nim a, lect. 6, próximo do fim: «É manifesto», diz, «que todo o objecto é relacionado com uma operação da alma, ou com o activo ou com o fim; mas a operação é especificada de ambos.» Onde a palavra «todo» expressa aqui a razão universal do objecto. E a razão disto é que embora as potências activa e passiva sejam fundadas em razões tão diversas como diversos são o acto e a potência, porque uma é para agir e outra para receber, com o optimamente
152
ensina S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 25, art. 1, contudo os objectos de ambas coincidem nisto, que é determinar ou aperfeiçoar extrinsecamente a potência ou o acto dela. Pois a respeito da potência passiva, é evidente que o objecto funciona aperfeiçoando-a extrinseca mente, pois reduz aquela de potência a acto funcionando para ela como princípio do seu acto, que pertence à actualidade e perfeição; contudo, para a potência activa, um objecto é relacionado como termo e fim. Mas embora o que é puramente termo não aperfeiçoe, tal com o sucede no caso dos relativos, porque a relação não tende agindo, mas puramente dizendo respeito a, e do mesmo modo, o que é puramente efeito, não aperfeiçoa, mas é apenas aperfeiçoado, tal como sucede com as criaturas a respeito de Deus, que são pro duzidas por Deus de tal m odo que a sua acção não depende em si da sua terminação; contudo, nos actos criados a terminação dá perfeição aos actos, porque se não fossem terminados, não seriam perfeitos nem completos, mas com o se estivessem em transição e tendência; logo, são aperfeiçoados pela própria determinação para a qual tendem. E assim S. Tomás diz em D e Potentia, q. 7, art. 10, que no próprio efeito ou afecção é percebida uma espécie de bem e de perfeição do movente, como no caso dos agentes unívocos, que pelos seus efeitos perpetuam uma espécie de ser, e no caso de outros agentes, que movem, agem ou causam apenas enquanto são movidos; «pois do seu próprio movimento, pelo qual são afectados, são ordenados para produzir efeitos. E semelhantemente em todos os casos onde qualquer bem provém da causa para o efeito». Assim S. Tomás. Desta doutrina é evidente de que m odo o -o b je c to terminativo pode ser perfectibilizador da potência ou acção. Segunda conclusão: no objecto m otivo, enquanto se distingue do term inativo, salva-se a verdadeira razão do objecto. Esta conclusão está contra alguns que julgam que a razão do objecto é preservada apenas no objecto terminativo, mas que excluem o objecto motivo da razão do objecto, porque exprime a produção; o que pertence ao objecto enquanto objecto, contudo, não é produzir mas especificar. Mas um magno equívoco é cometido no uso do termo «motivo», aplicando-o apenas à causa eficiente, porque deve ser aplicado também a outro tipo de causas, assim com o um fim, por exemplo, ê dito mover, ou um objecto proposto pela vontade m ove a vontade, e o exemplar move para a sua imitação. Logo, seguindo este raciocínio, distinguimos entre o que é motivo pelo m odo do exercício, e o que o é pelo modo da especificação. E aquele primeiro m odo pertence à causa eficiente, o segundo ao objecto formal. E isto é evidente nas passagens de S. Tomás citadas sobre a conclusão precedente. Pois aí
153
S. Tomás ensina daramente que o objecto motivo especifica a potência passiva e se relaciona com ela como princípio movente, e assim é anterior à sua especificação no processo de definir. Logo, na razão do motivo existe a verdadeira razão do objecto, e não da produção eficiente; com efeito, o eficiente enquanto eficiente diz respeito ao ser da coisa que produz, não à especificação nem aos princípios de definição, enquanto S. Tomás apesar de tudo diz, especialmente na passagem já citada do seu comentário ao D e A n im a aristotélico, lect. 6, que o s objectos são anteriores às operações da alma no processo de definir», e falava tanto dos objectos terminativos com o dos activos ou motivos. Logo, a razão do motivo não exprime a eficiência no objecto, mas está contida dentro dos limites de uma forma objectiva, isto é, especificativa. A conclusão é confirmada, finalmente, porque a potência passiva enquanto tal é especificável por alguma coisa extrínseca, uma vez que a potência passiva ê ordenada com base no tipo de coisa que é para aquele especificativo externo, e, logo, o seu carácter específico, o tipo de coisa que é, não está inteira e absolutamente em si, e independente de todo o factor extrínseco. Mas o que quer que não esteja inteira e absolutamente em si, mas seja ordenável para outro como consequência do que é, é especificável por esse outro. Todavia, a potência passiva enquanto tal não é relacionada com um especificativo extrínseco como com um termo, mas como com algo movente, porque a potência passiva está na potência para que seja movida, não para que a sua actualidade seja terminada; uma vez que é uma potência passiva, e não activa. Logo, isto que é motivo dela é verdadeiramente um objecto especificativo. Dizes: pelo menos, o objecto motivo deve concorrer eficientemente com a potência para produzir o acto; logo, a razão do motivo no objecto pertence à ordem da eficiência. A resposta a isto é, em primeiro lugar, que a conclusão não é válida a respeito de toda a potência, mas apenas para o caso da potência cognitiva, na qual é mais provável que a espécie concorra com a potência para a produção do acto. Mas esta produção não é a formal e essencial razão da espécie, que essencialmente só precisa de ser representativa ou substitutiva do objecto do qual o acto cognitivo depende na sua especificação. Mas, que o acto possa tam bém depender do objecto efectivamente no que toca à existência, não pertence ao objecto enquanto objecto, nem à espécie enquanto precisamente é representativa e faz as vezes do objecto, mas porque a espécie intrinsecamente determina e age na potência, a qual, assim actuada e determinada, flui vitalmente e efectivamente num acto. Por esta razão, assim como a virtude da potência efectivamente influi,
154
também a actualidade e a determinação intrínseca do objecto influi ao eiiciar o acto na sua especificação, que depende do objecto. Se, contudo, inquires de que m odo é inteleccionada a razão do motivo na causa objectiva, sendo suposta uma causa objectiva que não é movente ao m odo da causa eficiente, responde-se, d o que foi dito, que é movente no que toca à especificação, não no que toca ao exercício. Isto é explicado por S. Tomás na Sum a Teológica, I-II, q. 9, art. 1, quando diz que «a potência ou força da alma pode estar na potência de duas formas, de um modo quanto ao agir ou não agir, de outro quanto ao agir de uma forma ou de outra; assim como a potência da vista às vezes vê, às vezes não vê, e às vezes vê isto, digamos, uma coisa branca, e às vezes aquilo, por exemplo, uma coisa preta. Logo, a potência necessita de algo movente e determinante quanto a estas duas formas». E o determinante ou movente para agir ou não agir é dito mover da parte do sujeito ou do exercício, mas mover para agir desta ou daquela forma é dito do movimento e determinação da parte do objecto. E assim S. Tomás acrescenta que ■um objecto m ove determinando um acto ao m odo de um princípio formal». Logo, mover à maneira de um agente ou da parte do sujeito e exercício, que pertence à ordem da causa eficiente, distingue-se da moção ao m odo do objecto motivo, que se reduz à ordem da causa formal extrínseca, a qual não é mais que o facto de que alguma potência, para eiiciar um acto de tal ou tal espécie, precisa de ser movida ou ordenada para um objecto extrínseco, não só na terminação do acto, mas também na eliciação e princípio daquele, porque, mesmo para eliciá-lo, a potência não é suficientemente determinada para uma espécie de acto, até ser determinada ou movida e completada pelo objecto. E disto segue-se que embora algumas vezes no objecto motivo, para que de facto mova, deva intervir a produção de alguma coisa, que pertence à ordem da causa eficiente, contudo a razão formal do objecto motivo não consiste essencialmente nesta produção, mas esta ocorre acidental ou concomitantemente. Há uma máxima razão para isto suceder entre as potências cognitivas, que não podem ser movidas pelos objectos, excepto se esses objectos são impressos nelas, e as espécies são efectivamente produzidas; contudo, a produção efectiva das espécies não é causalidade objectiva na razão formal do objecto motivo. Pois produzir efectivamente especificadores não pertence à razão do objecto, como é patente no caso do nosso intelecto e no dos anjos. Pois no nosso intelecto é o seu agir que eficientemente produz as espécies, não o objecto, e no caso dos anjos, Deus infunde as espécies, o que é produzi-las eficientemente; mas os objectos não agem efectivamente no intelecto dos anjos,
155
segundo a opinião de S. Tomás. E em todas as opiniões é manifesto que, no caso do conhecimento infundido, Deus produz ou infunde eficientemente as espécies, não são elas produzidas pelos próprios objectos. Logo, a razão formal do objecto motivo especificante não consiste na produção eficiente das espécies. Segue-se, em segundo lugar, que um objecto somente motivo não é formalmente o mesmo que um signo instrumental, nem o objecto apenas terminativo o mesmo que um objecto secundário, embora muitas vezes estes coincidam materialmente. A razão pela qual o objecto motivo não pode ser identificado com o signo instrumental reside no facto de a natureza de um objecto apenas motivo, embora movendo outro para além de si, contudo não dizer respeito directamente ao objecto, que representaria e cujas vezes faria, mas dizer respeito directamente à potência com o algo a ser m ovido por si. Donde tem-se na linha de um objecto coordenado com a potência, não na linha de uma representação ou substituição a favor de outro e coordenada com a coisa representada. São, com efeito, formalidades diversas a razão de um objecto motivo e a de um signo instrumental, porque directamente respeitam termos diversos: um objecto enquanto signo exprime a razão do m eio condutor para outro, e um objecto enquanto motivo exprime a razão do princípio de m over a potência. Donde o objecto motivo não exprime alguma coisa que seja inferior e mais imperfeita que aquilo relativamente ao que move, como, por exemplo, quando alguém é movido por um ente real para conhecer um ente de razão, ou quando alguém é movido por Deus para conhecer as criaturas, ou é m ovido pela essência de um anjo para conhecer os seus acidentes. Contudo, o signo enquanto signo é sempre alguma coisa mais imperfeita que a coisa significada, uma vez que faz as vezes dela e substitui-se em seu lugar na ordem do cognoscível. E assim é que a razão do signo é uma relação categorial, como dissemos, mas a razão do objecto motivo não é uma relação categorial, porque o objecto não diz res peito à potência, mas é antes aquela que a ele diz respeito, tal com o sucede com a relação da medida e do mensurado, que não é mútua. A razão por que um objecto terminativo não pode ser identificado com um objecto secundário explica-se pelo facto de, pela imagem, conhecer o protótipo, ou o boi pelo vestígio da pegada. Com efeito, o protótipo e o boi são objectos apenas terminativos, enquanto conhecidos pela espécie de outro objecto, e contudo não são objectos secundários, mas principais, enquanto primeiramente e por si mostram, sendo que a imagem e o vestígio são conhecidos com o conduzindo para aqueles objectos principais. 156
Última conclusão: o objecto term inativo tem também, a respeito da p otência cognitiva e apetitiva, a razão da causa fo rm a l extrínseca. Esta conclusão está contra alguns autores mais recentes os quais julgam que o objecto terminativo tem a razão do puro termo, assim como o termo a tem a respeito da relação categorial. Mas a conclusão exposta é retirada de S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 18, art. 2, resp. obj. 2, onde diz que «o objecto não é matéria a partir da qual, mas acerca da qual, e tem de certo m odo a razão de uma forma, enquanto dá a espécie», onde claramente o Santo Doutor fala do objecto terminativo: pois a «acerca da qual» não é o princípio de um acto movendo a potência para eliciar um acto, mas um princípio terminando um acto, porque o acto versa acerca daquela matéria. Logo, o objecto terminativo especifica extrinsecamente; pois um movimento toma a sua espécie do termo, como é dito no Livro V da Física. Isto retira-se também de S. Tomás, no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist.l, q. 2, art. 1, resp. obj. 2, onde diz que «o objecto de uma operação termina e aperfeiçoa essa operação e é o fim dela». Mas tudo o que aperfeiçoa tem-se formal mente a respeito do aperfeiçoável, pelo menos extrinsecamente, e com o não é alguma coisa aperfeiçoando por produzir, mas por terminar, dizemos que funcionam formalmente extrinsecamente. Finalmente, a conclusão é provada porque o objecto terminativo não funciona como puro termo, como sucede com o termo a respeito da relação categorial; pois o objecto terminativo especifica a potência activa, potência essa que não é uma relação categorial, mas diz respeito ao objecto por uma ordem transcendental. Logo, o objecto não é puro termo, pois de outro m odo só terminaria a relação categorial, não a transcendental. Que na verdade um objecto terminativo não termine e especifique em nenhum outro gênero de causa, excepto no gênero da causa formal, deduz-se disto: não funciona com o uma causa eficiente, porque não é um princípio de acção, mas um termo; nem é uma causa material, porque não é sujeito respeitando ou causa disponente; nem é um fim, porque o fim ou é flm-efeito ou fim-causa, ou seja, um fim por causa do qual. Um flm-efeito não especifica, porque com o efeito não aperfeiçoa o acto ou potência activa, mas é aperfeiçoado ou feito pela potência activa, nem, enquanto efeito, causa a própria potência activa, mas é causado por ela, Mas o fim como causa não especifica o acto terminativamente, mas move a causa eficiente metaforicamente, e assim não diz respeito à especificação de uma acção ou ao seu predicado essencial, mas à sua existência, pois para aquela, com efeito, move; logo, com o fim, é numerado entre as circunstâncias; mas com o objecto pode especificar, com o consta na Suma Teológica, I-II, q. 1, art. 2, onde 157
a especificação do acto moral é tirada do fim, enquanto o flm é bom e objecto da vontade. E na q. 18, art. 6, e q. 19, art. 2, o fim é dito especificar enquanto objecto do acto interior ou imperante; contudo, é uma circunstância do acto imperado, acto esse que é por causa do fim. Logo, se um fim com o fim especifica, reveste-se da razão do objecto, pois uma coisa é a razão do objecto especificante, outra bem diferente é a razão do fim de mover. E assim, a especificação pertence à ordem de uma causa formal extrínseca, a moção do fim pertence à finalização movente para produzir a coisa na existência, mas m over relativamente ao ser e à existência está fora da ordem da especificação. A partir daqui distingues outras divisões do objecto, com o em primário e secundário, formal e material. Com efeito, isto, que por si, ou primeiro, ou formalmente especifica, ou seja, o objecto que é forma e razão de especificar, é chamado essencialmente objecto ou razão do objecto; os restantes são ditos objectos secundariamente ou através de outro e materialmente. E a própria razão de especificar, tomada segundo ela própria, é também habitualmente dita «razão sob a qual» ou «objecto pelo qual». Mas considerada com o em alguma coisa e afectando-a, a coisa assim afectada é dita «razão que», enquanto o objecto material é dito «objecto que». Um exem plo fácil encontra-, -se no caso da parede colorida e iluminada, a respeito da visão.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
O primeiro argumento é contra a primeira conclusão. Com efeito, o intelecto divino e a sua potência, verdadeira e propriamente, têm objectos; pois eles versam sobre alguma coisa primeira e essen cialmente, o intelecto sobre a divina essência, a omnipotência sobre as criaturas. E contudo não são especificados pelos próprios objectos; pois a potência divina não é especificada pelas criaturas, de outro m odo teria actualidade e perfeição a partir das criaturas, assim como teria espécie. Nem, semelhantemente, a essência divina especifica o intelecto divino; pois em Deus não podem ser distinguidos o especificativo e o especificado extrínseco, nem o aperfeiçoante e o aperfeiçoável, o actuante e o actuável. Logo, a razão d o objecto não consiste nisto que é especificar extrinsecamente. Responde-se a este argumento que na inteligência divina é encontrada a razão d o objecto livre de imperfeições, isto é, a dependência de outro enquanto seu especificante extrínseco e formalmente causante. Pois não é dada em Deus nenhuma espécie ou coisa especificada, que seja causaçla, e consequentemente também
158
não é dada a razão do objecto, que cause com o causa formal extrínseca. Mas nestes actos divinos, que são inteleccionar e querer, dá-se a razão do objecto quanto ao que é da perfeição e da actualidade, nisto, em que se dá o termo e especifícativo da cognição, uma vez que a cognição e a volição devem atingir alguma coisa, embora o especifícativo não seja distinguido d o especificado, nem tenha relativamente ao especificado a razão da causa, mas sendo o especificativo e o especificado um e o mesmo, devido à sua suma eminência, como se tem de S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 14, art. 2 e 4. Mas a respeito da potência executiva relativamente às criaturas, isto é, da omnipotência, é dada a razão do objecto, enquanto as criaturas são aquilo acerca de que versa aquela potência executiva de Deus como seu puro efeito, não como perfectibilizador da potência, que de si tem toda a perfeição. O segundo argumento é contra a razão do objecto motivo, que já explicamos. Pois falando do objecto motivo formalmente enquanto motivo, a qualificação «motivo» exprime a razão, ou da moção eficiente, ou da moção formal. N o primeiro caso, não é própria e simplesmente um objecto, como mostramos acima, porque a moção eficiente não dá a especificação mas a existência. N o segundo caso, não é distinguida a razão do objecto motivo da razão do objecto terminativo, porque cada uma tem o mesmo modo de causalidade, nomeadamente o m odo formal, e assim o objecto motivo e o objecto terminativo especificam do mesmo modo. Que, com efeito, o objecto motivo tenha a razão do princípio não o muda na razão da causa formal extrínseca, e, logo, o objecto motivo não tem a razão de um- objecto enquanto motivo, mas enquanto coincide com o terminativo na razão de especificar extrinsecamente, não enquanto tem a razão do princípio movente. Isto é confirmado, porque se o objecto motivo enquanto motivo exprime a própria razão de um objecto, segue-se que não é dada alguma razão do objecto em geral, na qual convenham o terminativo e o motivo. Nem pode ser dada alguma razão comum ao motivo e ao terminativo, excepto a de respeitar a potência enquanto alguma coisa exterior àquela. Mas esta razão pertence ao mero acto da potência, que é alguma coisa distinta da potência e lhe diz respeito especificando, não sendo, contudo, o objecto da potência. Logo, a razão de um objecto enquanto tal não consiste nisto, que é dizer respeito à potência com o alguma coisa extrínseca especificante. Responde-se a este argumento que na expressão «objecto motivo» o qualificativo «motivo» é inteleccionado de uma moção formal ao modo de um princípio a respeito da potência passiva, com o foi dito acima, para que a especificação de um acto, e não apenas o exercício
159
ou existência desse acto, dependa de tal objecto, não da parte da terminação, mas da parte da eliciação e d o princípio. E quando se insiste que, nisto, o objecto m otivo coincide com o terminativo, responde-se que coincidem na ordem de causar a especificação, mas não no m odo nem na espécie d o acto causado, assim com o diversos actos e hábitos são especificados pelo mesmo m odo geral de especificação, mas não pelo mesmo m odo específico, porque são de espécies diversas. Mas os diversos modos de especificar e a diversidade de especificações são tirados, com o foi dito, disto, que um objecto pode funcionar ao m odo de um princípio ou de um termo, isto é, um objecto p od e ser aquilo de que depende a especificação do acto, ou na sua eliciação, ou na sua terminação, porque, como frequentemente diz S. Tomás na Sum a Teológica, I-II, q. 1 e q. 18, e noutros locais, a razão do acto retira-se do seu princípio e do seu fim ou terminação. E funcionando o objecto ao m odo de um princípio, induz um m odo de especificar que é diverso d o de um objecto funcionando ao m odo do teimo, porque um objecto especifica uma potência activa ou passiva, potências que são sempre potências diversas, e têm diversos actos. Para confirmação, responde-se que assim com o a apercepção de potência em geral abstrai das potências activa e passiva e junta as duas na razão do princípio ou acto, da mesma forma a apercepção de objecto em geral abstrai do motivo e terminativo e exprime o especificativo extrínseco da potência da parte do princípio ou termo. O acto, contudo, ou não é inteiramente extrínseco à potência, uma vez que procede daquela, ou, antes, deve ser dito que num acto, a respeito da potência, são consideradas duas coisas, nomeadamente a razão do produzido ou efeito, e assim considerado o acto não diz respeito à potência especificando-a, mas recebendo a sua existência, espécie e natureza da potência; ou é considerada a razão de algo perfectibilizante da potência no agir, enquanto como acto ultimamente consuma a acção da potência, e, assim considerado, o acto não especifica, excepto enquanto se mantém da parte do termo no qual é consumada a actualidade da potência, e por esta razão reveste-se da razão de um objecto terminante, assim como sucede com outros efeitos a respeito dos seus agentes, enquanto aperfeiçoam e consumam aqueles agentes em acto. Argumenta-se em terceiro lugar: um objecto é objecto motivo pelo m odo no qual a potência dizendo respeito a esse objecto é passiva; pois um objecto como motivo corresponde à potência passiva como passiva. Mas a potência cognitiva é passiva enquanto recebe uma espécie, recepção essa em que o objecto não influi com o objecto mas como eficiente e imprimente. Logo, a razão do m otivo não
160
pertence ao objecto como objecto, mas à razão de alguma coisa eficiente ou imprimente da espécie, uma vez que a potência passiva se tem com o passiva enquanto é afectada e recebe a espécie antecedentemente ao acto. Mas naquela condição ou estado anterior no qual a potência recebe a forma especificante e é movida, o objecto não está ainda objectificado, porque não é ainda atingido pela potência como objecto quando as espécies são imprimidas. Isto confirma-se, porque o objecto com o m otivo não pode especificar o acto nem a potência, logo, não especifica nada. A antecedente prova-se: o objecto motivo não especifica o acto, porque apenas aquilo que é m ovível p elo objecto p o d e ser especificado por esse objecto. Logo, um acto não é especificàvel pelo objecto motivo, porque o motivo enquanto motivo só especifica o movível com o movível. Nem a potência pode ser especificada pelo objecto motivo, porque o objecto não especifica a potência, excepto mediante um acto, com o ensina S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 77, art. 3- Logo, se o objecto motivo não especifica o acto cognitivo, também não especifica a potência. Responde-se que a potência é passiva tanto a respeito do agente ou coisa que imprime a espécie, com o a respeito da forma impressa. Mas a forma especificante impressa tem dois aspectos, nomeadamente: informar entitativa ou fisicamente, e isto pertence à espécie mate rialmente com o aquilo que tem em comum com todos os outros ácidentes; e informar intencionalmente, isto é enquanto a forma é representativamente uma com o objecto, e deste m odo o objecto informa intencionalmente na mesma ordem que a espécie, isto é, formalmente, embora o objecto esteja fora e a espécie no interior da potência. Mas a própria impressão eficiente das espécies não vem do objecto com o objectivamente movente, mas do que produz as espécies, cuja força produtiva nem sempre pertence à própria coisa que é objecto, mas pertence às vezes a outro agente, assim como, por exemplo, Deus infundindo as espécies nos anjos. Donde a razão do m otivo num objecto não é a razão de imprimir ou de produzir as espécies, mas a razão de objectivamente actuar e determinar a potência por meio de uma espécie intencionalmente, não apenas entitativamente, informando. E, por esta razão, o objecto m otivo é preservado a respeito do intelecto do anjo, não porque o objecto mova impri mindo a espécie, mas porque o objecto determina e age sobre a própria potência formalmente, não enquanto o objecto existe em si entitativamente, mas intencionalmente, enquanto representado na espécie, embora seja Deus quem efectivamente infunde aquela forma. Para confirmação, responde-se que o objecto m otivo especifica o acto cognitivo determinando ou actuando a potência passiva, que é ii
161
m ovível pelo próprio objecto, e principiando ou causando o acto quanto à especificação. Pois o objecto motivo, que especifica o acto, não diz respeito ao acto como sujeito movível pelo próprio objecto motivo, mas com o algo principiado; mas diz respeito à potência, que determina, com o sujeito movível. Donde negamos que o objecto motivo especifique a potência com o sujeito movível, mas especifica o acto, do qual é princípio, como principiado por si. Com efeito, a acção, com o diz S. Tomás, é especificada pelo princípio e pelo fim ou termo; mas porque inicia o acto por mover e determinar a potência para eliciar tal tipo de acto cognitivo, diz-se que o objecto é motivo. Um quarto argumento é contra a razão d o objecto terminativo. Pois de acordo com o que vimos dizendo, a razão do objecto é ser uma espécie formal extrínseca; mas o termo como termo não especifica o acto ou a potência; logo, um objecto terminativo, enquanto terminativo, não é um objecto. A premissa menor é provada, primeiro, porque de outro m odo o termo da relação categorial seria o seu objecto, porque especifica terminando. Segundo, porque o especificativo do acto e da potência real deve ser alguma coisa real, porque a espécie dada por essa coisa especificativa é real e dependente do especificativo com o de algo aperfeiçoante e actuante. Mas é certo que o objecto terminativo nem sempre é alguma coisa real; com efeito, são encontradas razões do objecto mesmo nos entes de razão, tal com o dissemos na questão introdutória sobre o objecto da Lógica. Terceiro, porque todo o especificativo é uma causa formal, pelo menos extrinsecamente. Mas toda a causa formal é um princípio dando ser, pois é a forma .que determina a existência da coisa. Logo, todo o objecto é princípio, enquanto é objecto e não termo, porque é causa formal especificante; e assim, todo o objecto será objecto motivo, que especifica ao m odo de um princípio. Isto é confirmado, porque o objecto m otivo e o terminativo participam na razão do objecto analogicamente, logo, um é objecto simplesmente, o outro, segundo uma forma qualificada, e a razão do objecto não pertence a ambos simplesmente. A antecedente prova-se porque ambos, tanto o objecto real como o de razão, são objectos motivos e terminativos; e porque as potências activa e passiva funcionam analogicamente na ordem da potência, como é dito por S. Tomás no Com entário à M etafísica de Aristóteles, IX, lect. 1. Logo, os objectos motivos e terminativos correspondentes àquelas potências são análogos. Donde o objecto motivo é aquele que simplesmente actua e informa, e assim, analogicamente, é dito que ambos, o motivo e o terminativo, especificam ou têm a razão da forma especificante.
162
Responde-se ao principal argumento negando a premissa menor. Para a primeira prova, responde-se que o termo da relação não especifica enquanto precisamente é termo, mas enquanto é sujeito de um fundamento, sem o qual a espécie das relações não é entendida, como dissemos no capitulo sobre a relação, e consta de S. Tomás, no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 26, q. 2, art. 3, mas o objecto especifica essencialmente enquanto é objecto. Para a segunda prova, responde-se que o especificativo intrínseco dando a espécie real a um acto deve necessariamente ser alguma coisa real, mas o especificativo extrínseco não, porque especifica não por informar e ser inerente, mas terminando a tendência de outro ou determinando extrinsecamente a eliciaçâo do acto. E assim, basta a um especificativo extrínseco que determine a própria potência a agir por meio de uma espécie real, forma essa que intrinsecamente informa realmente, mesmo se o próprio objecto em si não é real ou não existe realmente. Para a terceira prova, responde-se que o termo tem a razão da causa ou do efeito segundo diversas considerações, assim como as causas são causas umas para as outras. E enquanto precisamente termina ao m odo da execução ou do efeito, não especifica, mas recebe espécie e existência. Mas enquanto este termo é considerado como aperfeiçoando e consumando em facto existencial um acto da potência, dá a espécie terminando e aperfeiçoando, e assim é considerado com o princípio e causa extrínseca dando existência consumativa e finalmente, não motivamente e inicialmente; com efeito é a razão da perfeição no acto enquanto consumado, não enquanto iniciado. E assim, diz S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 33, art. 4, resp. obj. 2, que «a operação causa deleite como causa eficiente, mas o deleite aperfeiçoa a operação com o fim». D onde, o objecto terminativo não coincide com o objecto motivo; também precede na intenção, embora na execução, como efeito, se siga ou receba, e não dê especificação. Para confirmação, nega-se a antecedente. Para primeira prova, responde-se que o objecto ser real ou de razão só faz diferença na razão do ente, não na razão do objecto e do cognoscíveí. E está bem que alguma coisa seja simplesmente objecto, e não seja ente simplesmente. Pois um facto são as diferenças das coisas no ser da coisa è do ente, outro bem diferente são as diferenças na razão do objecto e do cognoscíveí, com ó bem adverte Caetano no seu Com entário à Suma Teológica, í, q. 1, art. 3. E assim, muitas coisas podem coincidir especificamente na razão do cognoscíveí, e não na razão do ente, ou vice-versa, como mais plenamente é dito na última questão do meu comentário aos A n a líticos Posteriores. Pois para a
163
presente questão, basta pôr alguns exemplos na Lógica, que é ciência univocamente com as outras ciências que tratam do ente real, embora a própria Lógica trate do ente de razão; e univocamente coincidem Deus e a criatura na razão de um objecto cognoscível ou metafísico, não na razão d o ente; e a quantidade e a substância univocamente são cognoscíveis pela Matemática e pela Física, assim com o estas ciências elas próprias são univocamente ciências, mas a quantidade e a substância não são unívocas na razão do ente. Com efeito, a razão do cognoscível só exprime a conexão necessária da verdade, conexão que coincide univocamente com qualquer outra conexão necessária na razão do verdadeiro, mesmo se não coincidem na razão do ente. E quando é dito que o objecto aperfeiçoa a potência, responde-se que mesmo o ente de razão a aperfeiçoa, não por razão de si formalmente, mas por razão do seu fundamento e do ente real por cuja proximidade é concebido. E se dissesses: esta razão d o cognoscível é transcendente relativamente a esta ou àquela razão de cognoscível, logo, não é unívoca; respondería que o cognoscível em geral, assim como o verdadeiro e o bom, propriedades do ente, é análogo a este ou àquele cognoscível, à maneira de qualquer essência predicável por uma predicabilidade do segundo predicável ou do primeiro predicável; isto é, é predicável transcendentalmente em todas as categorias unívocas. Mais ainda, dizemos que este ou aquele cognoscível determinado pode ser unívoco a respeito dos sujeitos ou entes a que pertence denominativamente à maneira do quarto predicável ou do quinto predicável, embora aqueles entes não sejam unívocos entitativamente, porque o cognoscível determinado em questão não é consequência do ente tomado em si absolutamente, mas com parativamente à potência cognoscente, e pode haver um mesmo modo de relacionar nas coisas não univocamente coincidentes segundo elas próprias e entitativamente. Para segunda prova, diz-se que S. Tomás, no texto em questão, fala da potência na razão do princípio para agir; pois deste m odo as potências activa e passiva não coincidem univocamente, porque a passiva não principia o acto, excepto enquanto dependente da activa, porque, de si, a potência passiva não está em acto. Mas na razão de alguma coisa especifícável por um princípio extrínseco, as potências activa e passiva são relacionadas univocamente, uma vez que ambas têm a significação da coisa assim dependente. À proposição acrescentada que o objecto motivo actua simplesmente, mas não o terminativo, responde-se que, ao especificar extrinsecamente ambos actuam simplesmente, enquanto de ambos depende na sua acção e perfeição a potência ou o acto. Pois, embora o objecto pelo qual a
164
potência passiva é movida para eliciar um acto se aproxime mais no m odo de m over à actuação da forma intrínseca, contudo a especificação depende simplesmente de ambos.
165
Capítulo V
SE SIGNIFICAR É FORMALMENTE CAUSAR ALGUMA COISA NA ORDEM DA CAUSALIDADE EFICIENTE
Para que o ponto da dificuldade seja claramente inteleccionado, supomos que não falamos, na presente questão, d o signo e da significação nos termos da própria relação na qual formalmente con siste o signo, com o mostramos acima, no capítulo i; pois a relação de nenhum m odo é eficiente, mas puramente respectiva ao termo, e dizer respeito não é produzir efeitos. Logo, falamos do fundamento do signo e da significação, enquanto representa à potência cognitiva alguma coisa, a favor da qual o signo substitui e cujas vezes faz ao representar essa coisa à própria potência. E inquirimos se esta condução ou exibição e representação do seu significado à potência é alguma causalidade eficiente, ou em que ordem de causa deve ser colocada. N o próprio acto de representar ou significar podemos distinguir três coisas que parecem pertencer ao acto de fazer presença de um objecto na potência; com efeito, representar não é outra coisa senão fazer o objecto presente ou unido à potência. O primeiro é emissão ou produção de espécies, que a partir do objecto e signo extrínseco vêm à potência. O segundo é a excitação da potência para que atenda, que se distingue da própria impressão da espécie; pois mesmo antes de recebidas as espécies é necessária alguma excitação para a atenção. O terceiro é o concurso do signo com a potência para eliciar a ideia da coisa significada. Para eliciar este acto, um signo externo 7 66
concorre por m eio da espécie intrinsecamente recebida, pela qual não só contribui para que seja formada uma apercepçâo de si, mas também do objecto, para o qual conduz. Mas este concurso com a potência não é significar, porque este concurso pertence à eliciação da cognição. Ora, eliciar a cogniçâo não é significar, mas se a cognição é do objecto, é o termo e fim de significar; com efeito, para isto m ove o signo, para que seja recebida a ideia do objecto significado. Por outro lado, se a cognição é do próprio signo, é pressuposta para significar, porque é do facto de que algo é conhecido que o signo conduz para outro ou significa. Nem duvidamos que esta representação do objecto e condução da potência para o atingir, para que seja algo de novo nas coisas da natureza, deva ter alguma causa eficiente. Mas inquirimos se isto, precisamente enquanto depende do signo, depende na ordem de uma causa eficiente, de tal modo que o signo produza a significação e que significar em segundo acto seja produção ou efeito; ou se isto provém eficientemente de outra causa, mas do signo apenas vice-objectivamente. Seja única a conclusão: S ign ifica r ou representar de nenhum modo é eficientem ente prod u zid o p elo signo, nem sign ifica r, form a lm en te fa la n d o, é p ro d u z ir um efeito. Portanto esta proposição: -O signo produz» nunca está no quarto m odo de predicaçâo essencial. Esta conclusão, que é muito comum • entre os tomistas mais recentes, que estão habituados a tratar dela •nas disputas quotidianas, pode ser retirada originalmente de S. Tomás, De Verítate, q. 11, art. 1, resp. obj. 4, onde diz que «a causa eficiente próxima do conhecimento não são os signos, mas a razão discorrendo dos princípios para a conclusão». Principalmente, contudo, a conclusão em causa tem o seu fun damento em dois princípios: O primeiro é que o objecto, enquanto exerce uma causalidade objectiva a respeito da potência e se representa a si, não o faz eficientemente, mas apenas funciona como uma forma extrínseca, que é aplicada à potência por outra causa eficiente, e é tomada presente a essa potência por meio de uma espécie. Nos casos em que o próprio objecto também tem força eficiente para se aplicar à potência, isto sucede materialmente e por acidente, assim com o nas coisas naturais a forma exibe a sua presença na matéria, mas precisamente enquanto derivada da forma, essa presença não existe eficientemente, mas formalmente, pois é feita eficientemente pelo agente aplicando e unindo a forma. O segundo princípio é que o signo sucede a e é substituído no lugar do objecto na própria linha e ordem de uma causa objectiva, mas não na razão de algo aplicando eficientemente, nem de algo
167
conducente da potência para o objecto ao m odo de uma causa eficiente, mas antes à maneira de uma causa objectiva, não principal, mas substitutiva, em razão do que o signo é dito instrumental, não como se fora um instrumento eficiente, mas como se fora um substituto do objecto; não informando como espécie, mas representando a partir de algo extrínseco. O primeiro princípio é explicado assim: porque a razão do objecto, como já vimos, não consiste em emitir e produzir espécies de si na potência cognitiva, etc. Com efeito, é evidente que as espécies são algumas vezes infundidas eficientemente por Deus, com o no caso dos anjos e do conhecimento infundido, quando o objecto não produz impressões eficientemente. E a principal causa disto é que a razão do objecto é preservada nisto, que alguma coisa seja representável e cognoscível passivamente pela potência. Mas ser representável passivamente não exprime de si a virtude aplicante e uniente do objecto à potência activamente, mas exprime que é unido e feito presente passivamente; assim com o representar é fazer presente, ser representado e representável é ser feito presente. Logo, se a razão d o obje,cto é salvada p or isto, que é o facto de a coisa ser representável, então consequentemente, fazer a representação activamente está fora da razão do objecto e não é requerido para ela;, assim com o se a forma consiste nisto, que é ser alguma coisa unível à matéria com o informante e pela sua presença tornando a matéria conhecida, a razão da forma não pode consistir em aplicar-se e unir-se efectivamente à matéria. Donde um objecto é comparado por S. Tomás a uma forma ou actualidade pela qual a potência é tornada actuada ou formada. O inteligível, com efeito, é o intelecto sobre o qual se agiu, com o ensina na Suma Teológica, I, q. 14, art. 2, e q. 79, art. 2, e em muitos outros locais. Logo, representar ou fazer presente não pertence ao próprio objecto, enquanto formalmente é objecto, com o à causa eficiente desta apresentação, mas com o à forma e acto que à potência é apresentado e unido. Mas pelo mesmo motivo segue-se que à razão do objecto não pertence excitar eficientemente, tanto porque esta excitação é feita eficientemente por outra causa, quer do interior por Deus, quer do exterior pelo homem ou outro proponente e aplicante do objecto aos sentidos, como porque, na excitação, o objecto é o que é aplicado à potência, mas não é requerido que seja ele próprio eficientemente a produzir a aplicação. Por último, o objecto interior à potência posto pela forma especificante pode efectivamente concorrer para a produção da apercepção, não em virtude do objecto enquanto é especificante, mas em virtude da potência determinada e actuada pelo objecto do qual é constituído, .conjuntamente com a potência,
168
um único princípio em acto, não que o próprio objecto acrescente Uma virtude eficiente à potência. E este concurso ou produção da cognição não é significar ou representar; com efeito, a eliciação da cognição supõe um objecto representado à potência e movendo-a, para que tenda à cognição consumada e à representação do objecto. E assim, aquela cognição do objecto é termo e fim da significação; pois m ove para conhecer. O segundo princípio é declarado a partir da razão própria do signo enquanto signo, porque o signo é substituído em lugar do objecto, para que conduza esse objecto à potência, de m odo a que o objecto actue essencialmente na razão de um objecto. Pois o signo, se é instrumental e extrínseco, não representa o significado de outra forma que representando-se como o objecto mais conhecido, e o significado com o alguma coisa virtualmente contida em si, isto ê, como algo mais desconhecido para o qual o signo exprime alguma relação e conexão. Logo, o seu concurso para representar o significado à potência é o mesmo que o seu concurso para se representar a si, porque representando-se a si representa também o objecto significado enquanto pertencente a si. Donde a emissão das espécies e excitação da potência pertence ao signo do mesmo m odo que pertence ao objecto quando este se representa a si, ou seja, causando-o objectivamente, não eficientemente, porque o signo instrumental não representa o objecto de outra forma que representando-se primeiro a si com o objecto, e ulteriormente estendendo a representação de si para outro em si virtualmente implícito e contido. E assim, o signo não representa objectivamente absolutamente, mas objectivamente instrumentalmente e como servindo para outro. Se, contudo, é um signo formal, é manifesto que representa não eficientemente, mas formalmente a partir de si, com o se segue da sua definição e é patente na apercepçào ou conceito, assunto das questões seguintes.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro, pode argumentar-se a partir de várias passagens de S. Tomás. Pois na Suma Teológica, q. 68, art. 4, resp. obj. 1, diz que ■■na vo z existe uma certa virtude para excitar a alma de outro, que é produzida na voz enquanto procede da concepção do sujeito que fala». Mas esta virtude, de que fala S. Tomás, é virtude eficiente fisicamente. Com efeito, diz aí S. Tomás, que a força espiritual nos sacramentos existe do mesmo m odo que essa força excitativa existe na voz. Mas essa força que está nos sacramentos é força eficiente; logo, também o é a força que está na vo z para excitar e
169
consequentemente para significar, pois a significação é feita pela excitação. Semelhantemente, em D e Verítate, q. 11, art. 1, resp. obj. 11, S. Tomás diz que -as palavras d o douto estão mais próximas de causar o conhecimento que as coisas sensíveis fora da alma, enquanto as palavras são signos de intenções inteligíveis". Logo, as palavras, enquanto signos, causam conhecim ento, não representando objectivamente, mas conduzindo para a coisa significada. Assim, no C om entário às Sentenças de Ped ro Lom bardo, IV, dist. 1, q. 1, quaestiunc. 1, resp. obj. 5, diz que «a demonstração de que tal é o caso procede de um signo comum»; mas uma demonstração produz eficientemente conhecimento por razão da matéria da qual é estabelecida, não por razão de uma segunda intenção; logo, um signo, do qual é estabelecida a demonstração, eficientemente flui no conhecimento. E finalmente, no Opúsculo 16, cap. 3, n. 219, diz que «a acção do espelho, que é representar, não pode ser atribuída ao homem reflectido no espelho», logo, dá-se que representar ou significar é uma acção. Responde-se à primeira citação de S. Tomás que aquela virtude excitativa na voz não é a própria significação actual ou o significar da voz, uma ve z que alguém é excitado antes para atender à significação da voz. Antes, a força da voz é o próprio uso do intelecto do falante, manifestando o seu conceito através da voz, com o adverte Caetano no seu comentário à passagem em questão. Este uso é alguma coisa além da significação, porque aplica a própria vo z significante para que o outro atente. E assim, aquela excitação e força excitativa procede eficientemente, como um tipo de energia latente, do que emite a voz e a usa, enquanto o mover representativa e objectivamente procede da vo z significante. E esta força excitativa, isto é, o uso da voz derivado do intelecto do que fala, é comparada por S. Tomás àquela moção virtuosa pela qual Deus m ove e usa os sacramentos para produzir a graça, porque os sacramentos são como que um tipo de signo e vozes de Deus excitando-nos para a graça e para produzir a graça. Mas esta força é distinta da própria significação dos sacramentos, pois é acrescentada àquela significação da mesma maneira que o uso de uma força excitativa do discurso é acrescentada à significação das palavras. Pois a excitação é feita para que atendamos à significação e sejamos movidos por tal significação. E precisamente como resultando da voz significante, esta significação ou representação não opera eficientemente, mas objectivamente; mas com o a voz é usada pelo sujeito que fala e estimula, tem uma força eficiente para excitar, nascida não da representação, mas do sujeito que propõe e 170
usá a vo z derivadamente significando, e assim o sujeito que fala funciona como aplicando a v o z significante, enquanto a vo z signi ficante funciona como aplicada e significando representativamente. Nem devemos disputar se aquela força e uso da voz é alguma virtude física acrescentada à voz, ou se é alguma coisa moral. Pois é suficiente para o proposto que aquela excitação, enquanto funciona eficiente mente — seja moral seja fisicamente — não é o próprio acto de significar, nem procede eficientemente do signo ao significar, excepto se a própria significação fosse dita moral ou metaforicamente, ou antes, gramaticalmente, uma acção e eficiência produtiva. A segunda citação da q. 11 de D e Veritate responde-se dizer S. Tomás que as palavras do mestre são mais proximamente relacio nadas a causar o conhecimento, mas não diz que são relacionadas eficientemente para causar tal conhecimento; basta que sejam mais próximas representativa ou objectivamente, porque o signo é substituto da coisa significada. A terceira citação responde-se que, na demonstração pelo signo, o próprio representar e significar do signo não é produzir a demonstração, ou produzir o conhecimento, mas aquele procede eficientemente do intelecto movido pelo objecto e signo objectiva mente, não eficientemente representando. E assim, diz o próprio S. Tomás em D e Veritate, q. 2, art. 1, resp. obj. 4, que -a causa efi.ciente próxima do conhecimento não são os signos, mas o próprio intelecto". À última citação responde-se que a acção do espelho é dita representar pressupostamente, não formalmente, porque o espelho pela refracçâo da luz gera eficientemente a imagem, que representa. É argumentado em segundo lugar: na própria definição do signo instrumental é incluída alguma razão de ser eficiente, logo, o signo formalmente enquanto signo é causa eficiente. A antecedente prova-se daquela definição geral de signo de Santo Agostinho: «Signo é aquilo que, para além de apresentar uma espécie aos sentidos, alguma outra coisa faz vir à cogniçâo.» Onde, «apresentar espécies» e «fazer alguma outra coisa vir à cogniçâo» importam uma causalidade eficiente; pois pelos mesmos movimento e causalidade pelos quais são apresentadas espécies aos sentidos para se represen tarem a si, o signo conduz à cogniçâo de outro. Mas apresentar espécies é poduzi-las eficientemente, logo, conduzir para a cogniçâo de outro é, do mesmo modo, funcionar produtiva e eficientemente. Isto é posto na definição do signo; logo, é essencial ao signo enquanto signo exercer uma causalidade eficiente, o que é significar. Pois representar eficientemente nada mais é que produzir a representação.
171
Mas o signo produz espécies, que são representações; logo, representa eficientemente. Confirma-se porque no signo, enquanto significa, convêm múltiplas causalidades eficientes. Pois os sacramentos, que são signos, são eficientes enquanto significam; logo, naqueles, significar é produzir efeitos, pois de outro modo, formalmente não seriam signos práticos, se enquanto significam, não produzissem. Semelhantemente, pertence ao signo, enquanto significa, excitar a potência, emitindo espécies, para influir na inferência da conclusão, o que pertence na totalidade à causalidade eficiente. Responde-se que aquelas duas coisas postas na definição do signo, ou seja apresentar espécies e fazer vir à cognição, não exprimem a significação ao modo de uma causalidade eficiente. Pois apresentar espécies é comum ao signo e ao que não é signo; porque mesmo um objecto que se representa a si próprio e não se significa, apresenta espécies, e isto o objecto não o faz eficientemente enquanto objecto, como provamos. Donde nisto, que é apresentar espécies, não pode consistir a eficiência da significação. Mas se os objectos externos eficientemente imprimem espécies, aquela produção de efeitos não constitui o objecto na razão do objecto, mas provém de alguma outra virtude, ou virtude oculta do próprio céu, como insinua. S. Tomás em De Potentia, q. 5, art. 8, e outros julgam assim ser, ou de alguma virtude manifesta, como da luz no caso das cores, ou do ar refraccionado no caso dos sons, etc. Mas no segundo dos dois factores, fazer vir à cognição, a palavra «fazer» não indica a causalidade eficiente da parte do signo, mas uma representação que é como se fosse objectiva ou vice-objectiva, que não exprime um concurso eficiente, mas uma causa formal extrínseca movendo representativa mente para a cognição de si, e além disto, também conduzindo para a apercepção de outro. Para confirmação responde-se que toda aquela eficiência que foi enumerada no argumento é extrínseca e acrescentada ao signo en quanto significante, não sendo essencialmente requerido para a significação que a eficiência seja acrescentada ao signo; donde a proposição «o signo é eficiente» nunca está no quarto modo da predicação. O facto de os sacramentos serem eficientes enquanto significam não sucede porque a significação formalmente seja produção, mas porque a significação é juntada e ligada à eficiência, ou de modo moral, enquanto os sacramentos são práticos e por comando de Deus e pela vontade activa do ministro procede não precisamente enunciando, mas dirigindo para a obra; ou actuam de modo físico recebendo de Deus a virtude de produzir a graça. Às observações acrescentadas sobre a excitação da potência e a emissão 272
de espécies, já foi dito que tal excitação não convém ao signo enquanto é signo eficientemente, mas objectivamente ou vice-objectivamente; todavia, a causalidade objectiva pertence à causa formal extrínseca, não à causalidade eficiente. Argumenta-se em terceiro lugar: pode ser dado um signo formal, que seja denominado tal não pela própria relação, que é formalíssima no signo — de outro modo todo o signo seria formal, porque todo o signo exprime uma relação — , mas pelo seu fundamento, porque a relação do signo é fundada em algo, que informa a potência re presentando-lhe como conceito e apercepção. Logo, semelhantemente, porque o fundamento do signo instrumental produz efeitos, ou seja, emite espécies e excita a potência cognitiva unindo-a com a coisa representada, de um signo instrumental será dito significar eficientemente, assim como do signo formal ê dito significar for malmente. Isto confirma-se porque o signo é verdadeiramente dito instru mental, logo produtor de efeitos, porque a causa instrumental é reduzida à eficiente, não à formal. Nem vale dizer que o signo é instrumental logicamente, não fisicamente. Pois o instrumento lógico é o que causa, mediante alguma intenção de razão. Mas o signo, especialmente se natural, não causa por meio de uma intenção de razão, mas por meio da realidade da representação. Responde-se a isto ser inteiramente verdadeiro que o signo é formal ou instrumental em razão do fundamento da própria relação do signo, mas não do ponto de vista da relação. Mais ainda, uma vez que este fundamento é a própria razão de manifestar outro 'da parte do objecto ou vice-objecto, não é impossível para este fundamento funcionar na ordem da causa eficiente. Pois a própria razão do objecto enquanto tal é a de ser o acto e a forma da potência; e apenas acidentalmente, porque não pode ser interior à potência entitativamente, é o objecto interior à potência intencionalmente por meio dos seus signos, que fazem as vezes daquele objecto enquanto são conceitos e apercepções. Donde uma causalidade formal extrínseca pertence ao objecto essencialmente. Mas que seja algumas vezes intrínseca, através de si ou através dos seus signos juntos e unidos à potência, não é contraditório. Mas que um objecto mova eficiente mente a potência aplicando e representando, está fora da linha de uma causa objectiva e pertence a outra linha de causalidade, não ao objecto enquanto objecto, como dissemos muitas vezes. Se um objecto tem também força eficiente para se aplicar e representar a si produzindo espécies, isto sucede por acidente e materialmente ou concomitantemente, não essencialmente formalmente e no quarto modo de predicação.
173
Se insistes: então, o que é significar e manifestar, se nem é excitar, nem emitir espécies, nem produzir a cogniçâo eficientemente? Responde-se que é fazer as vezes do objecto ou significado e tomar esse objecto presente à potência. Contudo, a presença do objecto na potência no primeiro ou no segundo acto depende de muitas causas: a que produz espécies ou aplica o objecto eficientemente; da potência geradora da apercepção, também eficientemente; do objecto apre sentando-se a si formalmente extrínseca ou especificativamente; do signo enquanto substituindo no lugar do objecto na mesma ordem da causa objectiva, embora não como principal, mas como seu instru mento ou substituto, e não efícientemente. Para confirmação responde-se que o signo é dito instrumental objectivamente, não eficientemente, isto é, fazendo as vezes do objecto, como foi dito. E é correctamente dito instrumento lógico, não físico, não porque opere mediante uma intenção de razão, mas porque não representa nem conduz a potência para o significado, a não ser se prim eiro conhecido, significando assim com o algo conhecido. Mas isto que convém à coisa enquanto conhecida é dito pertencer-lhe logicamente, porque a Lógica trata das coisas enquanto conhecidas. Mas a verdade é que as operações d o signo não são eficientes, mas objectivas ou fazendo as vezes e ocupando o lugar do objecto significado na mesma ordem e linha, não na ordem da causa eficiente, como está provado. E assim este instrumento não é reduzido à causa eficiente, nem é instrumento propriamente, mas metaforicamente ou logicamente.
Capítulo VI
SE A VERDADEIRA RAZÃO DO SIGNO SE ENCONTRA NO COMPORTAMENTO DOS ANIMAIS IRRACIONAIS E NAS OPERAÇÕES DOS SENTIDOS EXTERNOS
É certo que os animais irracionais e os sentidos externos não uti lizam signos por comparação e colação, actividade que exige o ra ciocínio e o discurso. Mas a dificuldade consiste nisto, se sem o discurso é dado propriamente o uso dos signos para conhecer as coisas significadas. Esta questão, em qualquer caso, conduz a um melhor entendimento do modo pelo qual o signo representa e significa à potência. Primeira conclusão: Os anim ais irracionais, ptopriam entefalando, u tiliza m signos, tanto naturais com o consuetudinários. Esta conclusão é retirada de S. Tomás em D e Veritate, q. 24, art. 2, resp. obj. 7, onde diz que -da memória de flagelos ou benefícios passados acontece que os animais irracionais apreendem alguma coisa como se fora agradável, e portanto devendo ser prosseguida, ou como se fora danosa e devendo ser evitada». E isto também pode ver-se na Sum a Teológica, I-II, q. 40, art. 3- E sobre os signos naturais diz em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 10, que os animais irracionais exprimem os seus conceitos por signos naturais. E sobre o uso dos signos consuetudinários fala no C om entário à M etafísica de A ristó teles, I, lect, 1, mostrando que alguns animais são disciplináveis, isto é. pelas instruções de outro podem habituar-se a fazer ou evitar alguma coisa; logo, os animais irracionais podem utilizar signos con suetudinários.
A razão disto, para além da experiência quotidiana, em que vemos os animais serem movidos por signos, tanto naturais — com o os gem idos, o balido da ovelha, o canto da ave, etc. — com o consuetudinários, como sucede, por exemplo, quando o cão, chamado pelo nome, é m ovido por costume, embora não inteleccione a imposição, mas sendo conduzido apenas pelo costume. Para além disto, digo, vemos que um animal irracional, ao ver uma coisa, tende para outra distinta, assim com o quando ao perceber um odor prossegue alguma via, ou vendo um ramo atravessado no caminho evita-o, ou ouvindo o rugido do leão treme e foge, e seiscentas outras coisas nas quais o animal não responde dentro dos limites do que percebe pelos sentidos exteriores, mas pelo que percebe dos sentidos externos é conduzido para outro. O que, claramente, é utilizar um signo, ou seja, a representação de uma coisa não só por si, mas por outra coisa distinta de si. E é claro que isto também se estende aos signos consuetudinários, como foi dito acima, porque alguns animais são capazes de disciplina: não percebem ao princípio algumas coisas, que posteriormente são conhecidas a partir do costume, como o cão não é a princípio movido quando chamado por tal ou tal nome, e posteriormente é movido quando se estabelece um hábito consuetudinário. Logo, alguns animais utilizam signos consuetudi-' nários; pois não são movidos a partir da própria imposição do nome, porque não conhecem aquela imposição ela própria, que depende da vontade do que a impõe. D igo em segundo lugar: Não só os sentidos internos, mas também os externos, em nós e nos anim ais, percebem a significação e u tiliza m signos. E falamos aqui do signo instrumental, pois o signo formal depende d o que deve ser dito nos capítulos seguintes: se a espécie ou acto de conhecer são signos formais, e se os sentidos externos formam alguma imagem ou forma em lugar do conceito. Logo, é provada esta segunda conclusão, primeiro de S. Tomás, que ensina que a coisa significada pelo signo é vista no próprio signo, com o é patente em D e Verilate, q. 8, art. 5: “Conhecemos», diz -Sócrates, por ver de duas formas, enquanto ver é assimilado a Sócrates, e enquanto ver é assimilado a uma imagem de Sócrates, e cada uma destas assimilações basta para conhecer Sócrates.» E mais adiante: «Quando a vista exterior v ê Hércules na sua estátua, não faz a cognição por alguma outra semelhança da estátua.» Veja-se também a Suma contra os Gentios, cap. x l i x . Como a imagem e a estátua representam à potência o seu significado ao m odo do signo, se a visão exterior na estátua e na imagem não só atinge a estátua, mas também aquilo
176
que a imagem representa, conhece uma coisa menos conhecida por outra mais conhecida, o que é utilizar signos. Esta conclusão é provada, em segundo lugar porque: não há razão para negar que o sentido externo seja conduzido de uma coisa para outra sem discurso nem colação. Mas para utilizar o signo e a significação não é requerida mais alguma coisa, nem é necessário o discurso. Logo, o uso de signos pode ser atribuído aos sentidos externos. A premissa maior prova-se porque os sentidos externos podem discernir entre um objecto da sua cognoscibilidade e outro, por exemplo a visão pode discernir entre as cores branca e verde, entre uma imagem que representa Cristo e outra que representa a Virgem; pode também, por um sensível próprio, por exemplo, uma cor, atingir um sensível comum, como por exemplo movimento ou figura, e distinguir entre um e outro. Logo, o sentido externo pode, numa coisa, conhecer outra ou ser conduzido para outra, porque para isto basta que conheça como distinguir entre um e outro, e conhecer uma coisa com o contida noutra ou pertencente àquela. E isto basta para o sentido externo ser conduzido de um para outro, porque se distingue entre um e outro, e conhece um como estando contido no outro — tal com o sucede com a figura enquanto afecta ou é afectada pela cor, a imagem como estando no espelho, Hércules na estátua, um verde enquanto distinguido de um branco — nada mais é requerido para que por um conheça o outro e seja conduzido de um para outro. A premissa menor, contudo, é provada porque o signo nada mais pede na sua definição, excepto que represente outro distinto de si e seja meio conducente para outro. Mas não pede que isto seja feito por meio do discurso ou comparando e conhecendo a condição relativa de um para outro; de outro modo, nem nos sentidos internos dos animais os signos poderíam ser encontrados. E se exigisse o discurso formal, nem os anjos utilizariam signos, o que é falso. Contudo, deve ser observado que o sentido externo não pode conhecer o objecto separado do signo e segundo ele próprio. Com efeito, o objecto está muitas vezes ausente, e se fosse presente e conhecido pelo signo como distinto do próprio signo, esta operação requerida a comparação de um para outro; senão, de que modo seria estabelecido que isto tomado distinta e separadamente daquilo é o referente daquilo? O sentido externo conhece o objecto referido como contido no signo e pertencente ao signo, e, com o diz S. Tomás, conhece Hércules na estátua. Nem nada mais é requerido para o signo; com efeito, o signo não representa mais amplamente o seu objecto que o que está contido no signo, e assim não é necessário 12
277
conhecer o signo por uma cognição mais ampla e perfeita, ligando e comparando o objecto com o signo com o coisas distintas entre si e por razão da relação de um para outro. Mas é conhecido o próprio objecto assim contido no signo, tal com o é conhecido que isto é a imagem de um homem e não de um cavalo, que aquela é uma imagem de Pedro e não de Paulo; o que não podería suceder se o objecto fosse de todo ignorado. Mas objectas: o objecto significado deve ser conhecido com o distinto do signo. Com efeito, se é conhecido com o sendo uno e o mesmo com o signo, o sentido externo não alcança na cognição outra coisa distinta do signo, o que é requerido para a razão da significação. Mas pela vista não é visto o referente distinto do signo, por exem plo quando é vista a imagem de S. Pedro, não é atingido pela vista S. Pedro, que está ausente, e aquele enquanto ausente é o objecto referido; pois o que quer que seja que está presente à vista nada mais é que signo e imagem. Logo, não é atingido o objecto com o distinto do signo, e assim o sentido externo não chega do signo ao objecto, mas toda a cognição externa é consumida no signo. Alguns são convencidos por este argumento que o sentido externo utiliza o signo apenas quando o objecto está também presente no signo, não quando está ausente. Mas obstam a esta solução duas. coisas: Primeiro, porque S. Tomás declara que quem vê a estátua de Hércules, vê Hércules na estátua; e na Suma contra os Gentios, III, cap. 49, diz que o homem é visto no espelho pela sua semelhança reflectida. Mas é evidente que o homem, cuja imagem está no espelho, pode estar atrás do homem que vê o reflexo, e não presente a ele. Segundo, porque se ambos, signo e objecto, são presentes ao sentido, o sentido não é conduzido do signo para o objecto, que está separado, mas o objecto é visto pelas suas próprias espécies, enquanto está presente a si e enquanto se apresenta a si à vista. Logo, o objecto não é então visto através do signo, nem o olho conduzido do signo para o objecto, mas ambos são manifestados a partir de si próprios, excepto talvez se comparando o signo ao objecto se vê que este é signo daquele. Mas isto exige um acto comparativo conhecendo a relação sob o conceito e a formalidade de dizer respeito a, e comparativamente ao termo, o que nunca pertence ao sentido externo. Donde simplesmente respondemos que o sentido conhece o objecto no signo pelo modo em que está presente no signo, mas não só pelo modo em que o objecto é o mesmo que o signo. Por exemplo, quando é visto um sensível próprio, com o uma cor, e um sensível comum, com o uma figura ou movimento, â figura não é vista como
178
o mesmo que a cor, mas como conjunta com a cor, e tomada visível por aquela cor, nem a cor e a figura são vistas separadamente; assim, quando o signo é visto e o objecto é tornado presente nele, o objecto é atingido aí com o conjunto e contido no signo, não com o existindo separadamente e como ausente. E se insistes: que é aquilo no objecto conjunto com o signo e presente no signo, além do próprio signo e da sua entitatividade? Responde-se ser a própria coisa significada noutra existência, assim como a coisa representada pela espécie é o próprio objecto no ser intencional, não real. E, assim como aquele que percebe o conceito, vê aquilo que está contido no conceito como representado nele, e não apenas o que funciona como representando, assim, quem v ê a imagem externa, vê não só a função ou razão de representar, mas também a coisa representada como estando nela. Mas pelo próprio facto de que também vê a coisa representada com o estando na imagem, vê algo distinto da imagem, porque a imagem como imagem é algo representando, mas não o representado; contudo, vê a coisa representada como contida e presente na imagem, não separadamente e como ausente, e, numa palavra, vê-a como distinta da imagem, não com o separada e à parte da imagem. Do que foi dito colige-se que nos animais e em nós se encontra a unívoca razão do signo, porque a razão do signo não depende do m odo como é utilizado pela potência ao discorrer, comparar ou atingir de m odo simples, mas do m odo como o signo representa, isto é, torna presente objectivamente outra coisa diferente de si, que é o mesmo, quer a potência conheça de modo simples ou discursivo.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Argumenta-se primeiro a partir das autoridades. Pois S. Tomás diz, na Suma Teológica, II-II, q. 110, art. 1, que «toda a representação consiste numa certa colação, a qual propriamente pertence à razão, donde, embora os animais irracionais manifestem alguma coisa, não têm intenção de manifestar". Logo, os animais não utilizam propria mente signos e representação, excepto materialmente e remotamente, enquanto fazem alguma coisa, donde se segue a manifestação, coisa que também os seres inanimados podem fazer. Do mesmo modo, em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, diz que, propriamente falando, uma coisa não pode ser dita signo, excepto se for alguma coisa da qual se chega à cognição de outra coisa quase como que discorrendo, e por isto, nega deste m odo os signos
179
aos anjos. Logo, com igual razão devem ser negados os signos aos animais irracionais, porque estes não utilizam o discurso. Responde-se que, em primeiro lugar, S. Tomás apenas fala da manifestação e representação de modo racional, não da representação feita de m odo natural, podendo, acerca deste assunto, ver-se Caetano. Donde S. Tomás diz mais abaixo que -os animais não têm intenção de manifestar, embora manifestem alguma coisa». Logo, é de opinião que significam alguma coisa, embora não tenham intenção de significar, e assim tal significação enquanto intencionada pede a colação e o discurso, mas não a significação absolutamente. Nem dos animais é dito significarem apenas porque fazem alguma coisa de que se segue a significação, mas porque exercem a significação e percebem o objecto referido, o que as coisas inanimadas não fazem. A segunda citação responde-se que o signo é dito ser encontrado propriamente na cogniçâo discursiva, falando da propriedade da perfeição de significar, não da propriedade que salvaria a essência do signo absolutamente. A razão do signo é discernida na cogniçâo discursiva mais expressa e distintamente que na cogniçâo simples, embora também seja encontrada na cogniçâo simples, como S. Tomás ensina noutros locais. E os anjos também fazem uso dos signos, porque têm o discurso eminentemente, embora o discurso apareça mais formalmente em nós. Argumenta-se em segundo lugar: para o uso do signo é requerido o conhecimento do signo e da sua significação, e do mesmo m odo é requerido o conhecimento do signo e do objecto, ordenado de tal m odo que um conhecimento é coordenado com outro e inferido daquele: de outro modo não se salva a definição do signo instrumental como aquilo que, da cogniçâo preexistente de si, representa alguma outra coisa. Mas estas duas características requeridas não se salvam sem algum conhecimento colativo e discursivo. Pois a significação de alguma coisa não pode ser percebida se não for percebida uma ordem ou conveniência relativamente a outro; mas conhecer a ordem é conhecer uma relação e comparação, o que o sentido interno do animal não pode de nenhum m odo conhecer, e muito menos o sentido externo. Semelhantemente, se uma cogniçâo é coordenada de outra e retirada daquela de tal m odo que a partir de uma cogniçâo se chega a outra, isto é discorrer e conhecer colativamente. o que de nenhum m odo pertence aos sentidos dos animais. Confirma-se porque quando é representado ou apreendido algum objecto no qual um outro está contido, aquela apreensão simples só subsiste no objecto imediato e proposto de m odo simples; de outro m odo não seria uma cogniçâo simples, se se movesse e transitasse de um objecto para outro. Logo, & uso de signos requer a potência
180
conhecendo colativa e discursivamente, e por mais que uma simples tendência; mas todos os sentidos nos animais conhecem de m odo simples e não colativo, E a nossa própria experiência sufraga que quando percebemos o signo e não a força significativa dele, é necessária a colação do signo para o objecto, para que do signo eliciemos a cogniçâo do objecto. Logo, como nos animais não existe a capacidade colativa, não podem perceber a força de um signo naturalmente desconhecido deles, e assim não procedem do costume para inteleccionar o objecto. Responde-se a este argumento que pára o uso do signo não é requerida a dupla cogniçâo, nem que de uma cogniçâo se alcance outra, mas basta que a partir de uma coisa conhecida se alcance outra coisa conhecida. Mas uma coisa é, por um objecto conhecido atingir um objecto diferente, outra é, a partir de uma cogniçâo causar outra. Para a razão da significação, basta que a partir de uma coisa conhecida se chegue a outra, mas não é necessário que se chegue de uma cogniçâo a outra. Donde, diz o Filósofo, no livro acerca da M em ória e Rem iniscência, que o movimento na imagem é o mesmo que o movimento na coisa da qual é imagem, o que S. Tomás, no comentário sobre esta passagem, lect. 3, e na Sum a Teológica, III, q. 25, art. 3, explica sobre o movimento relativamente à imagem, não enquanto é um tipo de coisa, mas como imagem, isto é, enquanto exerce a função de representar e conduzir para outro. “Com efeito, •o movimento na imagem é um e o mesmo que o movimento na coisa", diz S. Tomás. Isto optimamente entendeu Caetano no seu C om entário à Suma Teológica, quando explica que S. Tomás fala da imagem considerada no exercício de imagem ou função de representar, não como um certo tipo de coisa tal como é em si, com o se fora apreendida destacadamente. E que da parte do movimento apreensivo ou cogniçâo, o movimento na imagem e o movimento na coisa representada pela imagem sejam o mesmo, como Caetano aí nota, é o consenso geral de todos, pois no conhecimento de um relativo cai o correlativo. E assim não é necessário o discurso, mas a cogniçâo simples basta para que vista a imagem ou signo da coisa, a própria coisa que no signo está contida e significada seja atingida. E para isto que é dito sobre o conhecimento da significação, que é conhecer alguma relação e ordem, responde-se que não é necessário pôr nos animais o conhecim ento da relação form alm ente e comparativamente; mas os animais conhecem o exercício dela, que funda a relação, sem comparação nem colação. Por exemplo, o animal conhece a coisa distante, para a qual se move, recorda a coisa passada, e tem expectativa da presa futura, como ensina S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 40, art. 3, sem que conheça a relação de futuro,
181
passado ou distância; mas o animal conhece no exercício o que é distante ou futuro ou representante, onde se funda a relação, a qual formalmente e comparativamente ele não conhece. Para confirmação responde-se que, na cogniçâo simples que não se toma discurso nem colação, pode ser atingido não só o objecto, que imediatamente é proposto ou aposto ao sentido, mas o que nele está contido; assim como a visão vê Hércules na estátua, e a forma representando a coisa colorida também representa a figura e o movimento e outros sensíveis comuns aí contidos e juntos, contudo não pode por isto passar além da cogniçâo simples, embora o conhecido não seja simples, mas múltiplo; de outro m odo não poderiamos pela simples visão ver vários objectos. Mas se podemos ver vários objectos na simples visão, porque não também uma pluralidade ordenada, e uma coisa através de outra, e consequentemente o objecto através do signo e com o contido no signo? E a respeito daquela experiência de apreender o signo sem apreender a sua força significativa, é dito que no caso dos signos cuja significação a princípio não conhecemos, tanto nós quanto os animais temos necessidade do costume. Mas nós habituamo-nos com a razão e o discurso, já os animais se habituam enquanto a sua memória é fortificada por algumas pluralidades ouvidas ou conhecidas,, como por exemplo um certo nome, especialmente se daí são afectados por algum benefício ou prejuízo, donde recordam-no com o algo de que fugir, ou para prosseguir. E assim, a memória basta para a formar d o hábito, e os animais que não têm memória não são passíveis de formar hábito. Veja-se S. Tomás no C om entário à M etafísica de Aristóteles, I, lect. 1, e D e Veritate, q. 24, art. 2, resp. obj. 7. Por último, argumenta-se: uma ovelha, por exemplo, ouvido o rugido não apreende o leão, excepto como nocivo, mas não como representado a partir da força do rugido, logo, não utiliza o rugido com o signo. A consequência é patente porque não se pode utilizar nenhum signo, excepto para o que é representado pela força de tal signo. Logo, se isto que se apreende não é representado pela força de tal signo, então, formalmente falando, não utiliza aquele como signo. A antecedente prova-se porque a ovelha apreende o leão com o nocivo por um instinto natural, logo, não apreende de uma cogniçâo preexistente. Pois o que é conhecido por instinto natural não é atingido como resultado de uma cogniçâo preexistente, e assim não é pelo signo que a ovelha atinge o leão com o nocivo. Mas a ovelha não atinge o leão de outro m odo que enquanto nocivo. Confirma-se porque o signo, essencialmente, é meio condutor para a cogniçâo do objecto. Mas os meios diferem em consequência das diversas ordens para um fim, logç também os signos diferem por
182
causa disto. Mas nos homens e nos animais os signos não são ordenados para o objecto de m odo unívoco, porque os animais são trazidos para o objecto conhecendo a ordem e a relação do signo para o referente da mesma maneira que os homens. Logo, significar nos homens e nos animais não é dito univocamente, assim como não o é «conhecer» ou «ser disciplinado». Responde-se a este argumento que a ovelha, ouvido o rugido, apreende o leão como nocivo e, com o tal nocivo específico, pois foge e teme o rugido do leão mais que o uivo d o lobo. Donde faz a discriminação entre um e outro, o que não sucedería se não fosse conduzida por aquele signo ao leão e ao lobo como distintos entre si, e nocivos de m odo diverso. Mas que o instinto natural forme o juízo do leão e do lobo para fugir, não retira o facto de que a ovelha o faz de uma cogniçâo preexistente. Com efeito, alguma cogniçâo no sentido externo deve necessariamente preceder, seja a cogniçâo que vê o leão, seja a que ouve o rugido dele, para que o sentido estimativo o apreenda e julgue como inimigo. Pois os animais têm julgamento, mas sem indiferença, logo, determinado para uma coisa e a partir do instinto natural, instinto que não exclui a cogniçâo e o julgamento, mas a indiferença. Sobre isto pode ver-se S. Tomás na Sum a Teoló gica, I, q. 83, art. 1, e D e Veritate, q. 24, art. 2. Para confirmação responde-se que o signo e o acto de significar são tomados univocamente através da ordem para o objecto enquanto -manifestãvel à potência. Mas, que isto seja feito de tal ou tal m odo de acordo com a forma com o a potência faz uso do signo, não torna a razão do signo análoga ou equívoca na ordem de manifestar, mas toma os modos da potência diferentes na cogniçâo e no uso do signo. Nem existe semelhança entre conhecer racionalmente e representar, porque conhecer formalmente exprim e a cogniçâo segundo a razão e a consequência, que não convêm ao animal; mas representar significando exprime precisamente a manifestação de uma coisa através de algum meio, sem determinar que essa manifestação seja através de uma consequência ou razão.
183
CONSEQUÊNCIA E APÊNDICE A TODOS OS LIVROS
Coligindo o que acerca do signo natural e de razão dissemos nestas questões, expusemos qual é a definição do signo, quais são as condições requeridas para o signo, e de que modo difere a razão do signo da imagem e de outros manifestativos de coisas diferentes deles. E, na verdade, a definição de signo em geral é essencial. Mas definimos o signo em geral abstraindo do signo formal e instrumental, ou seja: «aquilo que representa alguma coisa diferente de si». Pois aquela definição que circula desde Agostinho: «Signo é aquilo que, além da espécie que apresenta aos sentidos, alguma outra coisa faz vir à cogniçâo», só trata do signo instrumental. Mas a definição aqui posta é trazida de S. Tomás no Livro IV do Com entário às Sentenças de Pedro Lombardo, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 1, resp. obj. 5, onde diz que «o signo importa alguma coisa de manifesto quanto a nós, pela qual somos conduzidos ao conhecimento de outra coisa». E em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, diz que «o signo, geralmente falando, é qualquer coisa conhecida, na qual uma outra coisa é conhecida», onde a palavra «geralmente» é o mesmo que «em geral». Esta definição é essencial pelo modo no qual os relativos são ditos serem essencialmente definidos pelo seu fundamento e em ordem para um termo; pois é do fundamento e do termo que é especificada a acção. Mas a razão do representativo não consiste na relação categorial formal, porque o representativo é dado também no termo não existente, como é claro no caso do imperador morto
185
representado pela imagem. Portanto, a razão do representativo permanece na relação não existente, e assim o representativo formalmente não é relação, mas no signo é o fundamento da relação, enquanto existe relativamente a outro e funda a representação de outro, e não permanece em si. E assim o fundamento do signo é tratado em termos de gênero e diferença. Pois «representativo" é um gênero, uma vez que é comum ao que se representa a si, com o o objecto movendo para a cogniçâo de si, e comum ao que representa outra coisa diferente de si, com o o signo, e é inferior ao ser manifestativo, porque muitas coisas manifestam e não representam, como a luz manifesta iluminando, não representando, e o hábito, que também é dito luz, e assim por diante com as outras coisas que efectivamente manifestam, mas não representativa e objectivamente. De tudo isto coliges que na definição de signo a palavra -representa* é tomada estrita e formalissimamente, em particular para o que representa de tal maneira que não manifesta de outro m odo excepto representando, isto é, o signo tem-se da parte do objecto representado de tal maneira que só serve a representá-lo, nem de outro m odo manifesta senão representando. Donde excluis muitas coisas que representam outras coisas diferentes de si e não são signos, e concluís que o signo deve ser mais conhecido e mais manifesto que o objecto significado ao representar, para que na existência e na razão do cognoscível seja dissemelhante e inferior a esse objecto. O primeiro ponto é patente porque muitas coisas manifestam outras diferentes de si contendo-as, ou iluminando, ou causando, ou inferindo, e assim não só representam mas iluminam e mostram pela força de alguma conexão, não em virtude da pura representação, isto é, na função de representar e de objectificar à potência na vez de outro. Assim, premissas enquanto inferentes não significam a conclusão (embora algumas vezes a demonstração seja inferida do signo, mas aí significar tem-se materialmente); assim, a luz não significa as cores, mas manifesta-as, Deus não significa as criaturas, embora as represente, porque não as contém puramente por representar e fazer as vezes delas, mas também as contém como causa e manifestando-as pela sua própria luz. Donde é impossível que seja dada alguma coisa manifestando outra puramente ao representar, excepto se é inferior e menos que aquela que representa, funcionando com o um substituto e fazendo as vezes dela. Mas o signo deve ser dissemelhante do objecto significado, porque é mais conhecido e manifesto, de outro modo, se é igualmente manifesto, não há razão para que isto seja signo daquilo ou de outra coisa; por isso, o signo deve ser .inferior e menor que o objecto,
186
porque igual, como vimos, não poderá ser. Mas se é superior, conterá ou causará o objecto, não o representará puramente e fará as vezes dele. Pois aquilo que é superior não representa outro a não ser se o causa; de outro modo, o homem representaria tudo o que é inferior a si, e o anjo supremo todas as coisas do mundo. Mas se uma coisa representa outra, porque a contém de m odo superior e a causa, e não representa puramente e precisamente fazendo as vezes dela, então não é signo. De tudo isto coliges quais as condições requeridas para que alguma coisa seja signo. Com efeito, o ser do signo consiste essencialmente na ordem para o objecto como coisa distinta manifestável à potência,e assim, o objecto e a potência não são parte das condições requeridas, mas fazem parte da razão essencial do signo. De forma semelhante, é requerida a razão do representativo, mas da parte do fundamento, e, logo, o representativo enquanto tal não é relação categorial, mesmo se é representativo de outro, mas relação transcendental; contudo, no signo, funda a relação do mensurado para o objecto, que é categorial. Além destas, são ainda requeridas ou seguem-se três condições já mencionadas: Prim eiro, que o signo seja mais conhecido que o objecto, não segundo a natureza, mas quanto a nós. Segundo, que seja inferior ou mais imperfeito que o objecto. Terceiro, que seja dissemelhante do próprio objecto. Donde se segue que uma imagem não é signo de outra imagem, nem uma ovelha é signo de outra ovelha, e quaisquer outras coisas que sejam as mesmas em espécie, enquanto tal, não funcionam uma como signo de outra, porque cada uma é igualmente principal. Nem obsta que uma imagem seja transcrita de outra, pois isto é acidental à razão do signo, assim como também um homem feito de outro não é signo daquele, embora seja imagem. Pois na razão de significar cada imagem tem o mesmo protótipo com o essencialm ente representado, embora uma imagem possa ter uma maior excelência que outra, porque mais antiga, ou primeira ou mais bem fabricada, o que é acidental. Mas um conceito pode representar outro conceito, como o conceito reflexo representa o conceito directo, embora difiram em espécie, porque representam objectos diferentes em espécie, ou seja, um representa um objecto externo, o outro o próprio conceito interno. Mas se inquires de que modo uma coisa semelhante representa ou manifesta outra coisa semelhante, responde-se que representa essa outra como correlativo, não como representativo, isto é, por aquela razão geral pela qual um relativo expressa uma ordem ao seu correlativo e o inclui, porque os correlativos são conhecidos simul
187
taneamente, e não pela razão especial pela qual uma coisa é repre sentativamente relacionada a outra e exerce a função de apresentar outros objectos à potência. Finalmente, d o que foi dito torna-se claro de que m od o diferem o signo e a im agem . Pois em primeiro lugar nem toda a imagem é signo, e nem todo o signo é imagem. Com efeito, p od e a imagem ser da mesma natureza daquilo de que é imagem, com o no caso do filho, mesmo nas pessoas divinas, e contudo não é signo daquilo de que é imagem. Muitos signos também não são imagens, com o o fum o é signo d o fogo, o gem ido da dor. Logo, a essência da imagem consiste nisto, que proceda de outro com o de um princípio e à semelhança desse outro, com o S. Tomás ensina na Sum a Teológica, I, q. 35 e q. 93, e assim a imagem é feita para imitação de outro e p od e ser tão perfeitamente semelhante ao seu princípio com o ser da m esma natureza qu e o p ró p rio e ser im agem p rop agativa e comunicativa, não apenas representativa. Mas da natureza d o signo não faz parte proceder de outro na semelhança, mas que seja m eio condutor de outro para a potência, e substitua a favor desse outro ao representar, com o alguma coisa díssemelhante e mais imperfeita que ele.
Capítulo I
SE É CORRECTA E UNÍVOCA A DIVISÃO D O SIGNO EM FORMAL E INSTRUMENTAL
D o signo instrumental, que verdadeira e propriamente seja signo, ninguém duvida; com efeito, nada é mais manifesto que o facto de os signos instrumentais e exteriores verdadeiramente serem signos. Mas toda a dificuldade surge ao abordar os signos formais, pelos quais a potência cognitiva é formada e informada para a manifestação e o conhecimento do objecto. E toda a dificuldade se resume a isto: de que modo pertence ao signo formal a natureza do meio condutor da potência para o objecto, e de que modo pertencem ao signo formal as condições do signo, especialmente esta, que o signo seja mais imperfeito que o seu significado, e que uma coisa seja dita ser conhecida mais imperfeitamente pelo signo que se em si própria e imediatamente fosse conhecida e representada. E a razão desta dificuldade reside no facto de que o signo formal, como é a própria apercepção ou conceito da coisa, não acrescenta numericamente a própria cognição para a qual conduz a potência. Logo, não pode possuir a natureza de um meio para que a potência seja tomada cognoscente, nem para fazer do objecto não manifesto um objecto manifesto, uma vez que o signo formal é a própria razão e forma de conhecer; e assim, o signo formal para isto conduz, para que o conceito e a apercepção sejam postos na potência e esta se torne cognoscente; mas o próprio conceito não é meio para conhecer. Pelo contrário, de alguma coisa é dito ser conhecida igualmente imediatamente quando é conhecida em si e quando é conhecida
191
mediante um conceito ou apercepção; com efeito, o conceito não faz a cognição mediata. Para que mais breve e claramente iniciemos este assunto, adverte S. Tomás no C om entário às Sentenças de Ped ro Lom bardo, TV, dist. 49, q. 2, art. 1, resp. obj. 15, e nas Quaestíones Quodlibetales, q. 7, art. 1, que o meio na cognição é triplo: m eio sob o qu a l, com o a luz sob cuja iluminação alguém vê; m eio p elo qual, ou seja a espécie pela qual a coisa é vista; e m eio no qual, ou seja, em que outra coisa é vista, com o quando no espelho vejo o homem. E este m eio no qu a l pode ainda ser duplo: ou alguma coisa material e fora da potência, com o aquilo em que existe uma semelhança ou imagem de outro, tal com o no espelho a imagem do homem; ou outra coisa formal e intrínseca â potência, como a forma expressa ou a palavra na mente, na qual a coisa inteleccionada é conhecida. Pois S. Tomás ensina em D e Potentia, q. 8, art. 1, e q. 9, art. 5, e nós mostramos nos livros D a Alm a, q. 11, que a palavra mental ou conceito é dado com o distinto do acto de cognição. Mais ainda, esta é a principal razão para explicar a palavra no Ser Divino, porque em nós tal verbo é dado procedendo por intelecção. Mas os que negam poder dar-se esta palavra em nós, destroem esta razão. E o primeiro m eio no qu a l faz a cognição mediata, isto é, a partir de outra coisa conhecida, ou' cognição deduzida, e pertence ao signo instrumental; mas o segundo m eio n o q u a l não constitui uma cognição mediata, porque não du plica o objecto conhecido nem a cognição. De resto, é verdadeira e propriamente um meio representando um objecto, não com o meio extrínseco, mas com o intrínseco e form ando a potência. Pois representar não é mais do que tornar o objecto presente e unido à potência na existência cognoscível, seja ao m odo do princípio e espécie impressa, que se mantém da parte do princípio, porque é dela própria e da potência que a cognição deve proceder; seja da parte d o termo na espécie expressa, que se mantém da parte do termo, porque na própria espécie o objecto é proposto e apresentado como conhecido e terminando a cognição no interior da potência, onde a espécie se reveste da razão do objecto. Mas um objecto é tomado presente ou representado à potência, não a partir dele próprio imediatamente, mas mediante o conceito ou espécie expressa. Logo, o conceito é m eio ao representar, meio pelo qual o objecto é tomado representado e conjunto com a potência. D igo portanto em primeiro lugar: na op in iã o de S. Tomás, é mais prová vel que o signo fo rm a l seja verdadeira e propriam ente signo, e logo univocam ente com o signo instrum ental, em bora no m odo de s ig n ifica r em m uito difiram .
192
E para tomar mais claro o que o Santo Doutor tinha em mente, devemos ponderar que algumas vezes fala do signo enquanto exerce precisamente o ofício de representar outro diferente de si, e desta forma concede ao signo formal a razão do signo simplesmente. De outras vezes fala S. Tomás do signo que, enquanto coisa objectificada e primeiro conhecida, nos conduz para algum objecto, e em tal acepção ensina que o signo se encontra principalmente nos sensíveis, não nos espirituais, que nos são menos manifestos, com o diz no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo , IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 2, e na Suma Teológica, III, q. 60, art. 4, resp. obj. 1. Logo, que o signo formal seja signo simplesmente e absolutamente deduz-se primeiro das Quaestiones Quodlibetales, q. 4, art. 17, onde diz que «a v o z é signo e não objecto significado; mas o conceito é signo e objecto significado, assim como é também coisa conhecida». Mas, segundo S. Tomás, não pode o conceito ser signo instrumental, pois não é patente a partir de si nem objecto extrínseco movente; logo, atribui-lhe a razão do signo enquanto signo formal. D o mesmo modo, em D e Veritate, q. 4, art. 1, resp. obj. 7, assim diz: «A razão do signo pertence primeiro ao efeito que à causa, quando a causa é relacionada ao efeito como sua causa de ser, mas não quando é relacionada ao efeito com o causa de significar. Mas quando um efeito tem da causa não somente a sua existência, mas também o facto de significar, então assim como a causa é anterior ao 'efeito na existência, assim também é anterior no significar, e logo a palavra interior tem a razão de significação que é anterior à da palavra exterior.» Assim S. Tomás, onde fala absolutamente da palavrá mental, também lhe atribui a natureza do signo, que não pode ser signo instrumental, porque a palavra mental não existe nem m ove fora da potência, com o foi dito. Finalmente, em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, diz que -os signos em nós são coisas sensíveis, porque a nossa cognição, como é discursiva, nasce dos sentidos. Mas, em geral, podemos dizer que é signo qualquer coisa conhecida, pela qual outra coisa é conhecida. E, segundo isto, uma forma inteligível pode ser dita signo da coisa que através dela é conhecida. E assim, os anjos conhecem as coisas através de signos, e um anjo comunica com outro através de signos». Assim, S. Tomás quando diz -em geral podemos dizer«, não usa a palavra -em geral» com o o mesmo que «imprópria» e «não ver dadeiramente», mas usa-a segundo a razão do signo que é si multaneamente geral e verdadeiro, embora não fale da maneira habitual na qual empregamos os signos de acordo com o nosso m odo de conhecer, passando de um para outro e formando a cognição, imperfeita ou discursiva, do signo para o objecto. E assim, m
193
quanto ao modo de conhecer, com maior propriedade se encontra a razão do signo no signo externo e instrumental, enquanto o acto de conduzir de uma coisa para outra é mais manifestamente exercido quando duas cognições existem, uma do signo, outra do objecto, do que quando existe apenas uma única cognição, caso que sucede no signo formal. Donde S. Tomás diz em último lugar em D e Verítate, art. 4, resp. obj. 5, que «não pertence à razão do signo propriamente entendida que seja anterior ou posterior por natureza, mas apenas que seja pré-conhecido por nós». Donde sucede que, para salvar a propriedade do signo, basta que este seja pré-conhecido, o que o signo formal alcança, não porque seja conhecido com o objecto, mas com o razão e forma pela qual o objecto é tornado conhecido no interior da potência, sendo assim pré-conhecido formalmente, não denominativamente e como coisa conhecida. E disto retira-se o fundamento da conclusão, porque ao signo formal pertence própria e verdadeiramente ser representativo de outro diferente de si, e é ordenado a partir da sua natureza para esta representação enquanto substituinte em lugar da coisa ou do objecto que torna presente ao intelecto; logo, preserva a natureza essencial do signo. A consequência é patente porque salva a definição que foi trazidado signo, que seja representativo de outro diferente de si ao m odo de alguma coisa mais conhecida e substituinte de outro, e, logo, não igual a esse outro, mas mais imperfeito e deficiente. E tudo isto se encontra no signo formal. Pois o conceito, por exemplo, de homem, representa outra coisa diferente de si, ou seja os homens; e é mais conhecido, não objectiva mas formalmente; uma vez que torna conhecido o homem, que sem o conceito é desconhecido e não presente ao intelecto; e pela mesma razão é primeiro conhecido formalmente, isto é, funciona com o razão pela qual o objecto é tomado conhecido. Mas isto que é razão para que alguma coisa seja de tal tipo, enquanto razão e forma é anterior a essa coisa, do mesmo m odo que a forma é anterior ao efeito formal. Logo, se o conceito é razão para que a coisa seja conhecida, é anterior pela prioridade da forma ao sujeito e razão denominante para a coisa denominada. Semelhantemente, um conceito não é igual ao próprio objecto representado, mas inferior e mais imperfeito do que aquele, com o é patente no caso dos conceitos criados, porque os conceitos criados são intenções ordenadas e subordinadas pela sua natureza para substituir objectos e fazer as vezes deles do ponto de vista do termo representado e do acto de conhecer pela potência. Logo, são inferiores ao objecto enquanto é objecto daqueles conceitos, porque sempre o objecto se tem como principal, e o «conceito com o representando e
194
fazendo as vezes dele. E assim, no ser intencional, o conceito é sempre inferior, embora noutros casos, no intelecto das entida des espirituais, o conceito possa algumas vezes superar o objecto. E quando dizemos que o objecto é principal e mais perfeito, falamos do objecto primário e formal do conceito; pois o objecto material e secundário comporta-se acessoriamente, nem é necessário que seja mais perfeito que o conceito, uma v ez que o conceito não se substitui por aquele objecto directa e essencialmente. Finalmente, não obsta que o conceito não paréça acrescentar numericamente ao objecto representado, uma vez que a coisa é vista no conceito e não fora dele. Pois embora no m odo representativo uma coisa possa ser vista como resultante do conceito representante e do objecto representado, contudo esta unidade não destrói o verdadeiro e próprio ser representativo e significativo. E ainda, quanto mais a representação é una com a coisa representada, tanto melhor e mais eficazmente é feita a representação. Contudo, não importa quão perfeito, um conceito em nós não atinge a identidade com o representado, porque nunca atinge isto, que se represente a si, mas antes sempre representa outro diferente de si, porque funciona sempre como substituinte a respeito do objecto; logo, retém sempre a distinção entre a coisa significada e o próprio significante. Nas pessoas divinas o caso é diferente. Pois o Verbo, porque é a suma representação em acto puro, pela força de tanta representação atinge a identidade com a essência divina representada, e assim perde a razão do signo, sobre o que veja-se S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 27, art. 1. E por esta mesma razão o conceito ou espécie èxpressa retém a razão do meio quanto baste para a razão do signo. Pois tem a razão do m eio no qual, porque nunca se representa a si, mas outro diferente de si, enquanto se mantém da parte do termo da cognição, não da parte do princípio, como sucede com a espécie impressa. Mas porque não é termo último ou conhecido enquanto coisa, mas servindo à potência, para que nele a potência apreenda a coisa enquanto finalmente conhecida, logo possui suficientemente a razão do meio, pelo próprio facto de que não é o termo último no conhecimento. Nem se diz relacionar-se deficientemente com o objecto, como se deficiente ê imperfeitamente representasse; pois uma representação imperfeita e deficiente não pertence à razão do signo, mas sobrevém-lhe fortuitamente. Mas para um conceito ser signo basta que, de si, seja subserviente ao referente e faça as vezes do objecto representado, substituindo-se em lugar daquele; uma vez que enquanto tal, é inferior àquilo por que se substitui. D igo em segundo lugar: a divisão em signo fo n n a l e instrum ental é essencial, unívoca e adequada.
195
Que seja unívoca e essencial deduz-se da conclusão precedente, porque o signo formal verdadeira e essencialmente é signo, como mostramos. Mas do instrumental ninguém duvida que seja signo. Logo, esta divisão é essencial e unívoca. Todavia, que a divisão seja adequada, estabelece-se porque os membros da divisão são reduzidos a contraditórios, e assim esgotam o todo dividido. Pois com o todo o signo é meio condutor para outro, ou este m eio é primeiro conhecido, para que o outro seja conhecido como resultado, ou não. Se é primeiro conhecido denominativamente ou objectivamente, é signo instrumental. Se não é primeiro conhecido objectivamente, e contudo representa outro, fá-lo formalmente, porque é a razão pela qual outro é tomado conhecido no interior da potência, não fora dela, com o objecto conhecido; logo, é signo formal. Finalmente, que a divisão seja essencial, não acidental, estabelece-se do facto de que a razão essencial do signo consiste na representa ção do significado, enquanto objecto tornado presente à potência e com aquela unido. Mas tornar outro formalmente presente à potência a partir de si próprio, e tornar outro presente como coisa primeiro conhecida e com o objecto da potência, são essencialmente modos diversos de representação. Logo, diferentes presenças resultam da forma representando imediatamente ou de um objecto primeiro conhecido como objecto, e consequentemente existem representações e coisas conhecidas essencialmente diferentes, e, logo, existem signos essencialmente diversos.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Contra a primeira conclusão podem ser formados argumentos, seja de algumas coisas escritas por S. Tomás, seja tentando provar que não pertencem ao signo formal as condições requeridas para a essência do signo. De S. Tomás pode objectar-se primeiro, porque na Suma Teológica, III, q. 60, art. 4, resp. obj. 1, diz que primeiro e principalmente são ditas signos as coisas que são oferecidas aos sentidos, mas os efeitos inteligíveis não têm a natureza d o signo, excepto quando são manifestados por algum signo. Ora, os signos formais são um tipo de efeito inteligível, assim como são conceitos e espécies expressas; logo, não são signos, excepto enquanto são manifestados por alguma coisa sensível. Semelhantemente, no Com entário às Sentenças cie Pedro Lombardo, IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 2, diz que «â palavra ‘signo’, quanto ao seu primeiro sentido, refere-se a alguma coisa sensível, de
196
acordo com a qual somos conduzidos à cogniçâo de alguma coisa oculta». Logo, como «signo formal» não designa alguma coisa sensível conduzindo para outra oculta, não são os signos formais primeira e essencialmente signos. E para a mesma conclusão serve o texto que citamos acima, D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, onde S. Tomás diz que o signo propriamente é encontrado quando a cogniçâo discorre de um objecto para outro; contudo, pode ser dito em geral que signo é tudo o que é conhecido, no qual alguma outra coisa é conhecida. Logo, o signo formal não é propriamente signo. Responde-se que nestes locais S. Tomás não fala do signo segundo a comum natureza do signo, mas segundo serve a nossa cogniçâo, enquanto a nossa cogniçâo necessita primeiro da condução externa de um objecto, e só depois requer formação por conceitos e formas inteligíveis; e, nesta última necessidade, a nossa cogniçâo coincide com a dos anjos, mas difere na primeira, e assim, é próprio da nossa cogniçâo ser conduzida a partir do objecto proposto externamente. Mas a respeito do nosso conhecimento, a razão própria do signo é encontrada no signo sensível que nos conduz ao objecto. D igo razão «própria», não de um signo enquanto tal, mas «própria» enquanto nos serve a nós no uso da nossa cogniçâo. Donde as coisas que são espirituais não estão sujeitas à nossa cogniçâo ao modo do signo [enquanto objecto que representa outro objecto], excepto se nos são manifestadas através de alguma coisa sensível. E é desta forma que S. Tomás fala na terceira parte da Suma Teológica e no C om entário às Sentenças, IV. Mas explica o que tem em mente em D e Veritate, q. 9, já citada, onde diz que o signo é propriamente encontrado quando a cogniçâo discorre de um objecto para outro. Digo «propriamente» quanto a nós, e enquanto o signo serve a aquisição da cogniçâo. Mas S. Tomás acrescenta que, em geral, qualquer coisa conhecida na qual outra coisa é conhecida pode ser dita signo, não entendendo pelo termo «em geral» que fale de um signo impróprio, mas a comum razão do signo, própria segundo a sua natureza, do signo, mas não própria segundo o nosso m odo de adquirir a cogniçâo. Argumenta-se, em segundo lugar, que as condições requeridas para o signo estão ausentes no caso do signo formal. Pois o signo formal não tem a razão do meio, mas pode ter a razão d o termo da cogniçâo, e consequentemente ser posterior à própria cogniçâo e proceder daquela, com o é patente no conceito ou palavra mental, que é termo de intelecção e procede da própria intelecção. Logo, o signo formal não é meio da própria intelecção. D o mesmo modo, o conceito não faz a cogniçâo mediata mas imediata, pois inteleccionamos a coisa objectificada imediatamente em si, m esm o se
197
inteleccionamos mediante o conceito e a apercepção. Mas é contra a razão do signo que faça alguma coisa conhecida imediatamente e em si; pois quando conhecemos a coisa pelo signo, conhecemos menos perfeitamente que se conhecéssemos a coisa em si própria imediatamente. Logo, como o signo formal não retira, mas antes conduz para conhecer a coisa em si, não se reveste da própria razão do signo. Confirma-se porque vemos que a razão formal sob a q u a l não é dita signo a respeito da razão objectiva a qual\ e que também não é dita signo a espécie impressa, porque é um princípio intrínseco de conhecer, com o diremos mais abaixo. Logo, também o signo formal não será signo, porque é a própria forma de conhecer, nem acrescenta em número com o objecto para o tornar conhecido, e tem-se da parte do termo intrínseco da cognição, assim como a espécie impressa se mantém da parte do princípio. Logo, ou ambas, espécie impressa e expressa, serão signo, porque são representativas, ou ambas não serão signo, porque são ambas formas intrínsecas da apercepção e da cognição. Resppnde-se para a primeira parte do argumento que o signo formal, que é um conceito, tem a razão de um termo da cognição, mas não de um termo final, antes de um termo ordenado para um termo ulterior, ou seja para a coisa que é conhecida e é representada naquele termo. Ora, não é inconveniente que alguma coisa seja termo e meio, quando não é termo último, mas diz respeito e está ordenado para alguma coisa exterior. Nem pode insistir-se que, porque o objecto não é atingido tal como é exteriormente, mas é-o tal como está contido e é tomado inteligível no interior do conceito, o conceito não é alguma coisa conducente para outra fora de si, mas conducente para uma coisa que subsiste em si. Responde-se distinguindo a antecedente: que o objecto não é atingido tal como é fora do conceito, é verdadeiro, se a expressão «tal como» expressa a razão de atingir; se exprime a coisa atingida, é falso, pois essa coisa que está fora é verdadeiramente atingida e conhecida, embora por m eio de uma cognição intrínseca e conceito, e isto basta para que o conceito seja signo e meio intrínseco. Para a outra parte do argumento responde-se que o signo formal não é necessariamente aquele que faz a cognição mediata pela mediação de um objecto conhecido, mas pela mediação de uma forma informante e tornando o objecto presente, como diremos mais amplamente ao tratar da palavra mental nos livros D a Alm a, q. 11. E do mesmo m odo verificamos que o signo formal é algo condutor para o seu significado formalmente, isto é, como forma representando
198
e unindo o objecto à potência, nâo instrumentalmente ou com o coisa primeiro conhecida, e também é mais conhecida formalmente, não objectiva ou denominativamente. À proposição acrescentada, que pertence à razão do signo fazer a cognição imperfeita não da coisa como é em si, responde-se que isto apenas pertence ao signo instrumental, que por alguma coisa estranha representa o objecto, mas não ao signo dito em geral, que só exprime alguma coisa mais conhecida, na qual é manifestada uma coisa menos conhecida, com o já dissemos muitas vezes de S. Tomás na q. 9 de D e Veritate. art. 4, resp. obj. 4. E esta razão geral é pre servada no signo formal, que é mais conhecido que a coisa significada, porque formalmente torna aquela conhecida e é meio para aquela também formal e representativamente, embora não seja uma repre sentação estranha e imperfeita, mas apenas a representação de outro diferente de si, a favor do qual substitui e para o qual é ordenado. E se insistes: pois o Verbo Divino é excluído da razão do signo por este motivo apenas, porque representa perfeitissimamente a Divina Essência; e semelhantemente o filho de Pedro, embora seja imagem dele, não é signo, porque perfeitamente iguala a semelhança de Pedro; e Deus nâo é signo das criaturas, embora as represente, porque as representa perfeitissimamente. Logo, pertence à razão do signo representar imperfeitamente. Responde-se a isto que o Verbo Divino nâo é signo de Deus, não só porque perfeitissimamente representa, -mas porque é consubstanciai e igual a Deus. E assim, não é mais conhecido nem substituindo ou servindo a favor d’Ele, muito menos a respeito das criaturas, para as quais não é ordenado, mas as criaturas são ordenadas para Deus, e assim, as criaturas são signos de Deus, signos que nos representam Deus enquanto são elas próprias mais conhecidas de nós. Contudo, não pertence à razão do signo a im perfeição da cognição que gera, mas a substituição a favor do objecto, que representa. Mas o homem, que é filho do seu pai, não é mais conhecido d o que o pai, mas univocamente igual, e assim não se reveste da razão do signo. Para confirmação responde-se que a razão formal sob a qu a l nâo é signo, porque não faz o objecto presente à potência, mas constitui o próprio objecto no ser de tal ou tal tipo determinada e especi ficamente; todavia, na razão de ser presente e conjunto à potência, isto é feito pelo signo formal, ou instrumental, ou alguma outra coisa fazendo as vezes do objecto. Mas à proposição acrescentada de que o signo formal nâo acrescenta em número com a própria coisa significada, para a tomar conhecida, responde-se ser verdadeiro que o signo formal não acrescenta em número como se existissem duas coisas conhecidas e
199
representadas; mas não é verdade que o signo formal nâo acrescente numericamente como se existisse uma coisa representando e outra representada; e assim, basta que haja um signo e um objecto, embora no ser intencional ou representativo o signo formal seja dito ser uno com o objecto, não só como sucede com aquelas coisas que coincidem numa razão comum, mas antes porque totalmente contém o mesmo número que está no outro, e representa aquele. Mas este facto supõe que sejam distintos o representante e o representado, de tal modo que nunca uma e a mesma coisa se represente a si própria, pois esta identidade destrói a razão do signo. Finalmente, para ó que é dito acerca da espécie impressa, que será signo da mesma forma que a espécie expressa, trataremos mais adiante no capítulo j p Basta por agora dizer que se a espécie impressa é removida da razão do signo, isto sucede porque não representa à cognição, mas à potência, para que produza a cogniçào. Mas a espécie expressa representa à potência e à cognição, porque é termo da cognição e também forma representando à própria cognição. Todavia, disto trataremos mais adiante. Contra a segunda conclusão, argumenta-se que esta divisão não parece nem unívoca nem adequada nem essencial. Ergo. A antecedente quanto à primeira parte, que a divisão não é unívoca, prova-se porque esta divisão compreende os signos instrumentais em toda a sua latitude, e assim compreende os signos instrumentais, os naturais e os convencionais, que não coincidem univocamente na razão do signo, uma vez que um é real, o outro de razão. Semelhantemente, a razão do meio não é encontrada univocamente no signo instrumental e no signo formal, mas é encontrada em um com uma prioridade natural sobre o outro, e dependentemente no caso do signo exterior. Donde diz S. Tomás em D e Veritate, q. 4, art. 1, resp. obj. 7, que a significação é encontrada primeiro por uma prioridade natural na palavra interior sobre a exterior, logo não univocamente. A segunda parte, que a divisão não é adequada, prova-se porque parecem dar-se alguns signos que não são formais nem instrumentais, e também alguns que podem simultaneamente ser as duas coisas. Exemplo do primeiro: certamente o fantasma é isto, no qual o intelecto conhece o singular, e contudo nem é signo formal, uma vez que não é inerente nem informa o intelecto; nem é instrumental, porque não conduz para o objecto a partir de uma cognição pré-existente, mas imediatamente representa o objecto; pois o intelecto não necessita primeiro de conhecer o fantasma enquanto coisa conhecida para ter conhecimento dos singulares. Semelhantemente, o fantasma do fumo a respeito do intelecto não é signo formal do fogo, porque nâo
200
informa o intelecto; nem é signo instrumental, porque não é efeito do próprio fogo, assim como o é o fumo da parte da coisa real. Do mesmo modo, o conceito não ultimado é signo formal a respeito da voz, e instrumental a respeito da coisa significada pela voz; e o conceito de homem ou de anjo, em ordem para si, 6 signo formal, e em ordem para aquele a quem se fala ê signo instrumental. Logo, a mesma coisa pode ser signo formal e instrumental. Finalmente, a terceira parte da antecedente, que a divisão dos signos em formal e instrumental não é essencial, prova-se porque esta divisão é tirada em ordem para a potência; uma ve z que o signo formal é inerente à potência, e o instrumental é o que é conhecido. Mas a ordem para a potência não pertence à constituição d o signo directa, mas obliquamente, como dissemos na questão precedente. Logo, esta divisão não é essencial primeiiamente e por si. E confirma-se porque não pode a mesma coisa ser dividida por duas divisões essenciais não postas subalternamente. Mas a divisão do signo em natural e convencional é essencial, com o abaixo diremos, e não é subordinada à divisão entre signo instrumental e formal, porque o signo natural também é superior ao formal e instrumental, e novamente o signo instrumental divide-se em natural e convencional. Logo, estas divisões não são essenciais. Para a primeira parte do argumento duas coisas podem ser ditas. Primeiro, que nesta divisão entre formal e instrumental o signo não é dividido em toda a sua latitude, mas apenas os signos naturais, porque só os signos naturais são incluídos em ambos os membros. E embora o signo convencional seja também instrumental, contudo nâo é um signo instrumental enquanto o instrumental é oposto do formal; pois o signo formal nesta divisão é contraposto apenas ao signo natural instrumental. Mas o signo convencional é signo com o se fora extrinsecamente e não por si. E, em toda a divisão, o que é capaz de ser incluído em cada um dos membros que dividem, deve sempre ser aceite como aquilo que é dividido. Por exemplo, quando o hábito intelectivo é dividido em sapiência e conhecimento, a divisão é unívoca; contudo, a palavra -sapiência" não deve ser entendida em toda a sua latitude, enquanto compreende também a sapiência incriada, pois assim entendida não divide o hábito. E, de m odo semelhante, a relação é dividida univocamente em relação de pater nidade e de semelhança; contudo não deve a paternidade ser inteleccionada em toda a sua latitude, enquanto inclui também a divina. Assim, é dividido o signo em formal e instrumental univocamente, nâo em toda a sua latitude da parte do signo instrumental, mas enquanto restringido ao signo natural.
201
Em segundo lugar, responde-se que a divisão pode ser unívoca mesmo tomando o signo instrumental em toda a sua latitude, enquanto também compreende o signo convencional, porque embora o que é real e o que é de razão não coincidam univocamente na razão de ser, contudo na ordem e na formalidade do signo podem coincidir univocamente, enquanto o signo pertence à ordem do cognoscível e objectivo. E bem está que na razão do objecto e do cognoscível o objecto real e de razão convenham, quando pertencem à mesma potência específica ou a ciências univocamente convenientes, por exemplo à Lógica, que trata do ente de razão, ou à Metafísica, que trata do ente real, embora na razão do ente estes objectos sejam analogizados. Assim, o signo natural e o convencional, embora ex primam relações analogicamente convenientes na razão do ente, contudo na razão do signo, enquanto pertencentes à ordem do cognoscível, coincidem univocamente como meio representativo do objecto. E assim, entendida a divisão do signo precisamente na ordem e na linha do cognoscível, pode univocamente ser estendida ao signo convencional, mas não quando a divisão do signo é entendida na ordem do ser real ou da relação. E por isto é explicado de que m odo coincidem o signo formal e o instrumental univocamente na razão do m eio representativo, enquanto ambos verdadeira e propriamente servem para representar. Mas a dependência que existe no signo instrumental a respeito do formal, e na vo z a respeito do conceito, é uma dependência física, não lógica, ou seja, é uma dependência para que um tipo de ente seja posto fisicamente em exercício, ou para que alguma operação de um tipo de ente possa depender de outra, assim com o a superfície depende da linha, o ternário d o binário, o misto do elemento, etc. Mas não é dependência lógica, isto é, ao participar da razão comum, assim com o o acidente depende da substância na própria razão do ente; e esta última dependência produz a analogia, não a primeira. Esta doutrina é comum e expressamente trazida de S. Tomás, no seu comentário ao D e Interpretatíone, lect. 8, n. 5 e 6. Para a segunda parte do argumento responde-se que o primeiro exemplo não é a propósito, porque o fantasma dos singulares não serve para a cognição do intelecto enquanto signo, mas enquanto aquilo pelo que o intelecto agente recebe a espécie. E assim, o universal representa os objectos com alguma conotação para os singulares, em razão de cuja conotação o intelecto reflectindo atinge os próprios singulares: não pelo fantasma como se fora signo, mas pela espécie abstraída como originada pelo fantasma e logo conotando o singular com o termo a partir do qual, não representando-o directamente, com o é explicado mais gmplamente na q. 1 da Física
202
e na q. 10 dos livros D a Alm a. Mas se o intelecto respeitasse o fantasma como coisa cognoscível e atingisse o singular mediante ele próprio, utilizaria o fantasma com o objecto conhecido manifestante de outro, e consequentemente como signo instrumental. Mas isto será por cognição reflexa sobre a entidade do fantasma. Os outros exem plos aduzidos no argumento são explicados semelhantemente, como o do fantasma do fumo a respeito do fogo, o conceito não ultimado para a coisa significada, etc. Pois estes exemplos provam que a mesma coisa pode ser signo formal e instrumental a respeito de objectos diversos e de diversos modos de representar, não a respeito do mesmo objecto e m odo de representar; assim como o fantasma do fumo é signo formal a respeito da fantasia, que p o r aquela representação form alm ente con h ece o fumo imediatamente, e o fogo mediatamente, como contidos no fumo representado; mas o fumo externo, enquanto conhecido, é signo instrumental. Mas se o intelecto reflectir sobre o fantasma do fumo como sobre a coisa conhecida, intelecciona no fantasma com o num signo instrumental o fumo externo e o fogo, que o fantasma significa. Também o conceito não ultimado representa a palavra pronunciada significativa, mas a coisa significada e na voz contida será representada mediatamente, enquanto as duas coisas ordenadamente representadas no mesmo conceito serão representadas formalmente. Mas a respeito da cognição, pela qual reflexivamente se conhece o conceito não •ultimado, o conceito representará a vo z e o significado da voz instrumentalmente, se todavia o conceito da palavra, conceito não ultimado, atinge a coisa significada pela palavra em qualquer modo, isso já não é assim tão certo, com o diremos mais abaixo. Finalmente, o conceito de falar do anjo representa formalmente ao falante, mas para o que ouve, que percebe o conceito com o coisa conhecida, nele a coisa representada representa instrumentalmente; mas isto é a respeito de diversos objectos e modos de representar. Para a terceira parte do argumento, que a divisão não é essencial, responde-se que embora a ordem para a potência seja, no signo, consequência da ordem para o objecto, enquanto representa aquele como significado à potência, contudo diversos modos de conduzir o objecto à potência redundam na diversidade formal d o objecto enquanto é objecto, enquanto respeitam diversos m odos de representabilidade no significado, pois representam essa coisa à potência por modos diversas. Mas a divisão segundo modos intrínsecos resulta ou supõe a diversidade essencial das coisas sobre as quais osmodos são fundados, assim como a diversidade segundo a obscuridade ou a claridade diversifica as revelações e luzes, embora na fé a obscuridade seja um m odo intrínseco, não a razão formal.
203
Para confirmação responde-se que, como mostramos nas Súmulas, q. 5, art. 4, resp. obj. 2, não é inconveniente que a mesma coisa seja dividida por várias divisões essenciais, não subaltemamente, mas imediatamente, enquanto cada uma dessas divisões é feita segundo alguma formalidade essencial tomada inadequadamente, não segundo o todo adequadamente considerado, onde isto com vários exemplos provamos, como pode ver-se nas Súmulas.
C apítulo n
SE O CONCEITO É SIGNO FORMAI
Procede a questão tanto do conceito do intelecto, que é chamado espécie impressa e palavra, quanto da espécie expressa da fantasia ou imaginação, que é chamada ídolo ou fantasma. De que modo a definição de signo formal, que é uma apercepção formal e que de si própria e imediatamente alguma coisa representa, convém àque les dois? Mas para que o homem rude e sem instrução possa pelo menos inteleccionar o que é o conceito, a palavra, a espécie expressa ou o termo da intelecçào (que são todos a mesma coisa), e porque são postos, é necessário advertir para o facto de que, por razões que mais amplamente disputaremos nos livros Da Alm a, q. 6, 8 e 11, o termo da cognição que é posto no interior da potência cognoscente, é posto por duas razões: ou por necessidade da parte do objecto, ou por fecundidade da parte da potência. P o r causa da fecundidade porque é da abundância do coração que a boca fala, e assim a palavra é chamada conceito, enquanto é expresso e formado pela potência para manifestar aquelas coisas que são conhecidas. Pois o intelecto naturalmente busca e desencadeia a manifestação; e tal manifestação expressiva é chamada discurso ou locução interior, e a própria palavra é uma espécie ou alguma semelhança expressa e dita. Mas p o r causa da necessidade de um objecto, o conceito é posto para que um objecto seja tornado unido com a potência na razão de um termo conhecido e seja presente à potência. Todavia, como ensina
205
S. Tomás na Sum a con tra os Gentios, I, cap. 53, existe uma dupla necessidade de pôr um termo ou objecto no interior da potência cognoscente. Ou porque o objecto está ausente e não pode terminar a cognição para ele, a não ser que seja tornado presente na razão do termo; e assim é necessário formar alguma semelhança ou espécie, na qual o objecto é tomado presente ou representado, Com efeito, assim com o foi necessário pôr a espécie impressa para o objecto ser presente e unido à potência na razão do princípio concorrente para formar a cognição, assim é necessário que outra semelhança ou espécie seja posta para que o objecto seja presente na razão do termo para que tende a cognição, se a coisa objectificada está ausente. Ou, em segundo lugar, é necessário pôr o conceito no interior da potência para que as coisas conhecidas ou os objectos se tornem proporcionados e conformes à própria potência. Com efeito, assim como um objecto não pode ser termo da visão externa, excepto quando é banhado na luz visível, assim também o objecto não pode ser atingido pelo intelecto, excepto se é despojado da sensibilidade e afectado ou formado por uma luz espiritual, que é imaterialidade ou abstracção. Mas a luz imaterial não é encontrada fora da potência intelectiva; logo, é necessário que no interior da potência o objecto seja iluminado e seja formado por aquela espiritualidade, para que" seja atingido; e isto que é formado no ser do objecto é a palavra ou conceito, que não é a própria cognição, com o já dissemos a partir de S. Tomás e diremos mais abaixo na questão 4; porque mantém-se da parte do objecto ou termo conhecido, e a sua função não é tomar formalmente cognoscente, enquanto a cognição é tendência para o objecto, mas tornar o objecto presente ao m odo de um termo conhecido. Nem o conceito antecede a cognição, com o sucede com a espécie impressa, porque é formado pela cognição, nem é dado com o princípio da cognição, mas com o termo. Nem isto torna necessário que tal palavra ou espécie seja conhecida com o objecto, assim com o ê conhecida a imagem exterior, para que a coisa representada nela seja atingida, porque com o representa no interior do intelecto e como forma informando aquele, não representa objectivamente e como algo primeiro conhecido, mas formalmente e com o razão de conhecer, como mais amplamente diremos nos livros D e A nim a, q. 11. Acerca destas várias questões pode também ver-se S. Tomás na Sum a contra os Gentios, I, cap. 53, e IV, cap. 11; e os Opúsculos 13 e 14 e muitos outros locais, onde trata da palavra mental. Mas se inquires através de que acto é feita esta expressão ou conceito, brevemente diremos (pois este assunto aguarda os livros
206
D e A nim ei), que é feita no intelecto por um acto que substancialmente é de cognição, mas tem alguma coisa mais, a saber, que seja cognição fecunda, isto ê, manifestativa e falante ou expressiva. Com efeito, o intelecto não conhece só a partir de si, mas produz também o ímpeto para manifestar; e aquele irromper para manifestar é uma certa expressão e concepção e parto do intelecto. Mas nas potências sensitivas S. Tomás parece conceder que exista um duplo m odo de fazer estas espécies expressas, que em si mesmas são chamadas ídolo. Primeiro porque as potências sensitivas formam ou produzem espécies activamente, como diz na Sum a Teológica, I, q. 12, art. 9, resp. obj. 2, que «ã imaginação forma a representação da montanha dourada a partir de espécies da montanha e de ouro previamente recebidas». Segundo, porque as potências sensitivas recebem as espécies expressas formadas por outras causas ou potências, sobre o que pode ver-se S. Tomás na Suma contra os Gentios, IV, cap. 11, e Opúsculo 14, dizendo que a forma ou re presentação é expressa pelo sentido e terminada na imaginação; e assim uma coisa é o princípio do qual emana esta semelhança, outra o princípio no qual é terminada. Embora o que foi posto — que os sentidos internos recebem as suas espécies expressas dos sentidos externos — tenha alguma probabilidade, parece mais provável, como dizemos nos livros D a Alm a, q. 8, art. 4, que a espécie expressa sempre seja uma imagem viva e produzida por acção vital da potência, à qual serve para que por meio dela a potência conheça. Mas as espécies impressas são espécies que são impressas por uma potência noutra e movem essa outra potência para a cognição e formação do ícone. E porque são trazidas pelos espíritos ou pelo sangue, assim, quando o sangue e os espíritos descem aos órgãos dos sentidos, então movem a imaginação, com o se fora movida pelos sentidos, como acontece nos sonhos, e às vezes um demônio ou anjo assim se ocupa da excitação da imaginação, com o ensina S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 111, art. 3, e D e M aio, q. 16, art. 11, e em outros locais. Primeira conclusão : O conceito ou espécie expressa pelo intelecto é, p o r excelência, um signo form a l. Esta conclusão é tirada de S. Tomás, que frequentemente ensina que a palavra mental é signo e semelhança da coisa, como nas Quaestiones Quodlibetales, q. 4, art. 17; D e Veritate, q. 4, art. 1, resp. obj. 7, e Suma contra os Gentios, IV, cap. 11. Mas não é signo ins trumental, porque não é objecto primeiro conhecido, que da cognição preexistente de si conduz para a coisa representada, mas é termo de intelecçâo, pelo qual, enquanto termo intrínseco, a coisa é tomada 207
conhecida e presente ao intelecto, como S, Tomás ensina nos locais citados e nos Opúsculos 13 e 14. Logo, a palavra mental é signo formal. E o fundamento da conclusão tira-se porque o conceito inteligível representa directamente uma coisa diferente de si à potência, por exemplo o homem, ou a pedra, porque é uma semelhança natural daquelas coisas, e pela sua informação o conceito toma o intelecto cognoscente em acto por uma cognição terminada pela própria cognição de si, e não por uma cognição de si pré-existente. Logo, o conceito é apercepçâo formal tornando o intelecto inteleccionante não ao m odo de um acto, mas ao m odo de um termo ou apercepçâo terminada. Segunda conclusão; Também o ídolo ou espécie sensível expressa nas potências interiores sensíveis é signo fo rm a l a respeito de tais potências. Esta conclusão não tem qualquer dificuldade se estes ídolos são formados pelas próprias potências, assim como o conceito é formado no intelecto. Mas a dificuldade reside em saber de que m odo pode ser mantido que sejam apercepções formais, pelo menos terminativamente, se é verdade que estas expressões podem ser formadas também por um princípio extrínseco, com o quando são formadas por um anjo ou demônio por comoção do espírito, ou também pelo descer do sangue aos órgãos dos sentidos dos que dormem. Mas, apesar de tudo, dizemos que mesmo concedendo aquela possibilidade (cujo oposto parece mais verdadeiro, com o dissemos), continuaria a ser o caso de que tais imagens ou ícones são signos formais, porque não conduzem a potência nem lhe representam o objecto a partir de uma cognição de si pré-existente, mas conduzem imediatamente para os próprios objectos representados, porque estas potências sensitivas não podem reflectir sobre elas próprias e sobre as formas expressas que têm. Logo, sem estas espécies expressas sendo conhecidas pelas potências sensitivas, as coisas são tornadas imediatamente representadas às potências; logo, esta representa ção é feita formal e não instrumentalmente, nem de alguma cognição anterior da imagem ou ícone. Donde, para que o conceito formado pelo sentido interno seja signo formal, basta que termine o acto de cognição, seja formado pela própria cognição, seja formado a partir de outra causa e unido àquela cognição de tal maneira que o acto é terminado para aquele ídolo; assim como se Deus por si só unisse o conceito ao intelecto e o acto do intelecto fosse terminado para aquele conceito, isto seria chamado verdadeira e propriamente apercepçâo formal terminativamente, embora não emanasse do próprio acto de inteleccionar.
208
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se que o conceito representa à potência como signo instrumental, logo, não representa com o signo formal. A antecedente prova-se, primeiro de S. Tomás, nas Quaestiones Quodlibetales, q. 5, art. 9, resp. obj. 1, onde diz que «o intelecto intelecciona uma coisa de duas formas, de um m odo formalmente, e assim intelecciona pela espécie inteligível, pela qual é constituído em acto; de outro modo à maneira de um instrumento, que é utilizado para .inteleccionar outra coisa, e é deste m odo que o intelecto intelecciona pela palavra, porque forma a palavra para isto — inteleccionar a coisa». Logo, segundo S. Tomás, o intelecto não intelecciona a palavra enquanto forma, mas enquanto instrumento, e por esta razão a palavra mental não é signo formal, mas instrumental. A antecedente prova-se porque o conceito representa com o conhecido, logo, como signo instrumental; pois o signo instrumental é o que, conhecido, conduz pára a cognição de outro. E isto prova-se porque S. Tomás diz em D e Veritate, q. 4, art. 2, resp. obj. 3, que «uma concepção do intelecto não é só isto, que ê inteleccionado, mas também aquilo pelo que a coisa é inteleccionada, para que assim, aquilo que é inteleccionado, possa ser dito ser a própria coisa e a concepção do entendimento». Logo, segundo S. Tomás, a palavra é conhecida com o aquilo que é conhecido, e assim representa enquanto conhecida. A mesma conclusão segue-se também porque inteleccionar é comparado à palavra, assim como o acto de existência é comparado com o ente em acto, como diz S. Tomás ná Suma Teológica, I, q. 34, art. 1, resp. obj. 2. Logo, a palavra não representa, excepto enquanto formada pela cognição e com o algo conhecido, e logo como signo instrumental, o qual enquanto conhecido representa. Responde-se negando a antecedente. Para primeira prova, tomada a partir da autoridade de S. Tomás, responde-se que S. Tomás chama à palavra mental instrumento, pelo qual o intelecto conhece alguma coisa, não enquanto meio conhecido, que é instrumento e meio externo, mas como meio interno, no qual o intelecto intelecciona no interior de si, e isto é ser signo formal. Mas chama-se forma impressa àquilo por que formalmente o intelecto intelecciona, porque mantém-se da parte do princípio de intelecçâo; ora, o que se tem da parte do princípio é chamado forma. E contudo S. Tomás não diz que a forma impressa significa ou representa formalmente, mas que é o princípio pelo qual o intelecto formalmente intelecciona; e uma coisa é ser signo formal, outra o princípio pelo qu a l de inteleccionar. Para a segunda prova responde-se que do conceito não é dito representar enquanto primeiramente conhecido ao m odo de um H
209
objecto extrínseco, de tal maneira que esse «conhecido» seria uma denominação extrínseca; más como um representar enquanto um conhecido intrínseco, isto é, como termo da cognição interior à potência. Mas porque não é o termo no qual a cognição se detém finalmente, mas um termo mediante o qual a potência é chamada para conhecer o objecto externo, por esta razão o conceito tem o ser do signo formal, porque é conhecido intrínseco, isto é, razão intrínseca de conhecer. Donde o signo instrumental é conhecido com o aquilo que é conhecido extrinsecamente e enquanto coisa conhecida, a partir de cuja cognição se chega ao objecto; mas o conceito é conhecido como algo que é conhecido, não enquanto coisa conhecida extrinsecamente, mas com o aquilo em que está contida a coisa conhecida no interior do intelecto. E assim, pela mesma cognição, são atingidos o conceito e a coisa concebida, mas a cognição da coisa concebida não é atingida a partir da cognição do conceito. E porque o conceito é aquilo em que a coisa ou objecto é tornado proporcionado e imaterializado ao m odo de um termo, por esta razão o próprio conceito é dito ser conhecido como algo que, não como coisa separadamente conhecida, mas enquanto constituindo o objecto na razão do termo conhecido. Ora, embora o signo instrumental possa ser atingido com o objecto por um único acto de cognição,. contudo permanece verdadeiro que é do signo conhecido que se atinge o objecto, que o próprio signo não constitui formalmente a coisa significada como conhecida. Para terceira prova responde-se que inteleccionar, com o é dicção ou expressão, tem por complemento a própria palavra enquanto termo. E assim, S. Tomás em D e Potentia, q. 8, art. 1, diz que «o acto de inteleccionar é completado pela palavra». Mas novamente, a própria palavra noutra ordem é actuada e completada pelo acto de inte leccionar, enquanto o acto de inteleccionar é a última actualidade na ordem do inteligível, assim como o acto de ser é a última perfeição na sua ordem, com o diz S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 14, art. 4. Mas que por razão desta actuaçâo a palavra seja tornada conhecida, não basta para a razão do signo instrumental, porque a palavra não é conhecida como objecto e coisa extrínseca, mas como termo intrínseco da própria intelecçâo; com efeito, isso é representar no interior da potência informando-a e tomando-a cognoscente, e, logo, o conceito ou palavra é dito signo formal. Argumenta-se em segundo lugar: a palavra não é apercepção formal, logo, não é signo formal. A consequência é patente da definição de signo formal. A ante cedente prova-se, primeiro, porque a apercepção formal é aquilo que torna a potência formalmente cognoscente. Mas a potência é 210
tornada formalmente cognoscente por um acto de cognição, que é a forma imediata do cognoscente, especialmente porque conhecer consiste numa acção, uma vez que é uma operação vital; mas a palavra não é a própria operação ou acto de conhecer, mas alguma coisa formada pela cognição e efeito dela. Logo, não é a forma que constitui o cognoscente, mas a forma que procede e é produzida pelo cognoscente; logo, não é a própria apercepção formal da potência. Donde a palavra não é constituída pelo acto de inteleccionar activamente, mas por ser inteleccionada passivamente; logo, não constitui formalmente o acto de inteleccionar, mas constitui for malmente a coisa inteleccionada, A mesma questão antecedente prova-se, em segundo lugar, porque no divino o Verbo não produz formalmente o entendimento, porque o Pai não intelecciona por uma sapiência gerada, como, a partir de S. Agostinho, ensina S. Tomás no C om entário às Sentenças de Pedro Lombardo, I, dist. 32, q. 2, art. 1. Logo, a palavra não toma a potência formalmente cognoscente a partir do gênero de coisa que é. Confirma-se porque se a palavra fosse apercepção formal, sem a palavra não poderia o intelecto ser formalmente cognoscente, pelo menos não perfeitamente. Mas sem a formação da palavra, o intelecto conhece formalmente, como é admitido ser provável no caso dos Beatos e é manifesto na intelecção pela qual o Verbo e o Espírito Santo inteleccionam. Ergo. ' Responde-se, ao argumento principal, distinguindo a antecedente: Concedo que a palavra não é apercepção formal ao m odo de uma operação; mas que o seja ao m odo do termo, nego. E assim a palavra torna o intelecto form alm ente -inteleccionante», form alm ente terminativamente, não formalmente operativamente. Mas quando é dita signo formal, que é apercepção formal, é inteleccionada da apercepção formal terminada, não da própria operação da apercepção sem termo, porque à razão do signo pertence que seja representativo, mas a operação enquanto operação não representa. Mas isto, que representa, deve ser expresso e semelhante ao que é representado, que pertence à razão da imagem; todavia ser semelhante e expresso propriamente pertence ao termo procedente, que é assimilado ao seu princípio, não à operação, que é mais assimilativa que a coisa semelhante. Mas que se diga que inteleccionar consiste na acção ou operação é verdadeiro do próprio acto formal de inteleccionar. Mas, quando o signo formal é chamado apercepção formal, não é inteleccionado da apercepção formal enquanto esta é operação, mas da apercepção formal que é representação e expressão, o que só pertence à apercepção formal terminada ou termo da apercepção, não à operação enquanto é operação. E quando se diz que a palavra 211
é efeito da cognição, é entendido que é efeito da operação da cognição e via ou tendência da cognição, não efeito da cognição com o terminada. Pois a palavra é a forma da cognição com o terminada, porque a palavra é o próprio termo da cognição; mas a palavra é efeito da cognição enquanto esta é operação expressiva e dicção, e assim supõe um acto de inteleccionar não terminado e completo, mas operante e expressante, e logo, resta um lugar para que a palavra seja apercepção formal formalmente terminativamente, não formal mente operativamente. E por esta razão, a palavra é constituída por ser inteleccionada, e não por inteleccionar activamente, porque não pertence à palavra enquanto signo formal ser apercepção formal operativa e activamente, mas terminativamente e segundo um ser intrínseco inteleccionado, pelo qual a própria coisa é tornada inte leccionada e representada intrinsecamente; contudo a representação, não a operação, pertence à razão do signo, assim com o lhe pertence ser apercepção formal representativa, não operativa. Para segunda prova responde-se que a natureza do Verbo Divino é diferente da do verbo humano, porque o Verbo no Divino supõe uma intelecção essencial totalmente terminada e completa, para que seja acto puro na ordem do inteligível; nem a Palavra serve para que a intelecção seja completada essencialmente, mas para que seja dita. e expresse nocionalmente. E assim, a Palavra Divina não torna Deus formalmente «inteleccionante» mesmo terminativamente, essencial mente e no ser perfeito do inteligível, nem toma Deus um objecto inteleccionado em acto, porque a essência divina segundo ela própria é em acto final -inteleccionante» e inteleccionada, porque é acto puro na ordem do inteligível, e não tem esta condição através da processâo da palavra, mas, antes, esta processâo da palavra supõe tal condição. Mas em nós, porque o objecto não é inteleccionado em acto último por si, é necessário que seja formado no interior do intelecto na razão do objecto terminante; e isto é feito pela expressão da palavra no ser representativo, e então por aquela palavra o intelecto é tomado formalmente -inteleccionante- terminativamente. Para confirmação responde-se que não pode dar-se alguma cognição sem palavra, ou formada pela própria pessoa que intelecciona ou unida àquela. Contudo, nem sempre é requerido que a palavra proceda ou seja formada por quem intelecciona. E assim, no caso dos Beatos, a divina essência é unida ao seu intelecto na razão da espécie expressa, assunto mais amplamente discutido por S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 12, art. 2, e aflorada nos livros D e A nim a, q. 11.
212
C apítulo m
SE A ESPÉCIE IMPRESSA É SIGNO FORMAL
Supomos que existem espécies impressas, as quais fazem as vezes do objecto unindo-se à potência para eliciar a cognição ou apercepção, do facto de que esta nasce da potência e do objecto. Donde é necessário que o objecto seja tornado unido ou presente à potência, •determinando-a para eliciar a cognição. E como o objecto não pode por si próprio ir para a potência e unir-se a ela, é necessário que isto seja feito por meio de alguma forma, que é chamada espécie, que assim contém o próprio objecto de m odo intencional e cognostível para que possa tomá-lo presente e unido à potência. E porque aquela forma ou espécie é instituída por natureza para esta função, diz-se representar o objecto à potência, porque lhe presentifíca ou toma presente o objecto. E é dita também semelhança natural do objecto, porque da sua própria natureza actua fazendo as vezes do objecto, ou é o próprio objecto no ser intencional. Esta unidade ou conveniência é dita semelhança, e é dita semelhante porque é dada para a potência formar uma semelhança expressa do objecto. Mas é chamada impressa porque é imprimida e acrescentada à potência por um princípio extrínseco, pois não procede nem é expressa pela potência da mesma forma que a espécie expressa. Com efeito, a espécie impressa é dada à potência para eliciar a cognição, e assim funciona ao m odo de um princípio e concorre com a própria potência para eliciar a cognição, não ao modo do termo procedente da própria potência e da sua cognição. Deste assunto mais amplamente falaremos em D e A nim a, e pode também ver-se S. Tomás, D e Potentia, q. 8,
213
art. 1; Opúsculos 13, 14 e 53; e Quaestiones Quodlibetales, 7, art. 1, e vários outros locais, onde explica a natureza da espécie impressa. Perguntamos portanto se esta espécie que assim representa o objecto ao m odo de um princípio de cognição possui a natureza do signo formal, assim como possui a natureza do representativo. Seja única conclusão: A espécie impressa não é signo fo rm a l. Esta conclusão é tirada em primeiro lugar de S. Tomás, que falando do signo geralmente expresso, o qual é aquilo que está em conformidade com o signo formal, diz em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, que é «qualquer coisa de algum m odo conhecida, na qual alguma outra coisa é conhecida, podendo assim uma forma inteligível ser dita signo da coisa que é conhecida através dela». Mas a espécie impressa não é forma inteligível — que é alguma coisa conhecida na qual outra coisa é conhecida — porque para que fosse alguma coisa conhecida, deveria ser, ou coisa conhecida, ou termo da cognição. Mas a espécie impressa é apenas aquilo por que a potência conhece como se de um princípio se tratasse, com o consta de S. Tomás nas Quaestiones Quodlibetales, q. 7, art. 1, e na Suma Teológica, I, q. 85, art. 2 e 7, e no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 49, q. 2 art. 1. Logo, não possui a natureza do signo geralmente expressa e ao m odo da forma inteligível, no sentido em que uma forma inteligível é signo formal. O fundamento desta conclusão é que a espécie impressa não representa o objecto à potência cognoscente ou à cognição da potência, mas une o objecto à potência para que conheça; logo, não é signo formal. A consequência prova-se a partir da própria natureza intrínseca do signo, porque é próprio e essencial à função do signo manifestar outro ou conduzir a potência para outro mediante a manifestação. Ora, a espécie não p o d e manifestar alguma coisa à potência antecedentemente à cognição, pois toda a manifestação é feita na própria cognição ou supõe-na, mas a espécie impressa não supõe a cognição, à qual manifestaria, porque é um princípio da cognição. Mas eliciada ou posta a cognição, não é a própria espécie impressa que manifesta, mas a expressa, que é o termo no qual é completada a cognição; pois nem a cognição tende para a espécie impressa, nem conhece nessa espécie. Logo, a espécie impressa não é aquilo que manifesta o objecto à cognição formalmente, mas aquilo que produz a cognição, no termo de cuja cognição, ou seja na espécie expressa, o objecto é tomado manifesto. E assim, o objecto concorre na espécie impressa como princípio da cognição determinando a potência para eliciar, não determinando-a como objecto conhecido, e, logo, nem como objecto manifestado; pois algurpa coisa não é tomada manifesta
214
à potência no interior da própria potência, excepto enquanto é conhecida. Logo, o que não manifesta à cognição, não toma o objecto manifestado e consequentemente nem significado. E confirma-se porque de nenhum m odo pode ser verificado que a espécie impressa seja apercepção formal, que de si própria imediatamente representa. Logo, a espécie impressa não é signo formal, pois tal apercepção formal é requerida para a sua definição. A antecedente prova-se: a espécie impressa é um princípio da apercepção formal; pois constitui o intelecto em acto primeiro para eliciar a apercepção formal. Mas pertence à razão da apercepção formal que proceda d o intelecto, tanto quanto com o termo do intelecto, ou seja a palavra, embora não seja absolutamente necessário que a palavra proceda de todo o intelecto que intelecciona por meio daquela palavra, mas baste ou que a palavra seja formada pelo intelecto que intelecciona, ou que a palavra formada por outro seja unida ao intelecto «inteleccionante», tal com o sucede na opinião provável de que a essência divina está unida ao intelecto dos Bem-Aventurados em lugar da palavra. Contudo, embora a essência divina não proceda do intelecto do Bem-Aventurado, ainda assim é unida ou pelo menos relacionada como razão inteleccionada intrinsecamente e com o meio no qu a l da própria cognição e entendimento. Logo, se a apercepção formal é recebida como fazendo as vezes do próprio acto de cognição, é manifesto que não coincide com a espécie impressa, uma vez que esta não é um acto procedente da potência, mas princípio do acto e da cognição. Mas se a apercepção formal é tomada por algo procedendo do intelecto, não ao m odo d e um acto, mas ao m odo do termo procedendo vitalmente, assim tomada a apercepção formal é espécie expressa, não impressa. Logo, nada que proceda do intelecto é espécie impressa, e, consequentemente, uma espécie impressa não é de nenhum m odo apercepção formal, porque a apercepção formal deve proceder da potência cognitiva, ou como acto, ou como termo, porque é alguma coisa vital, uma vez que tem por efeito formal tornar a potência vitalmente e formalmente cognoscente. Logo, a espécie impressa não é apercepção formal, e, logo, também não é signo formal. RESOLUÇÃO DOS CONTRA ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se: certamente a espécie impressa é verdadeira e propriam ente representativa do objecto, semelhança dele e substituindo ou fazendo as suas vezes. E não é representativa objectivamente nem eficiente ou instrumentalmente, logo, formalmente e com o signo formal.
225
A consequência é patente porque para que a espécie seja representativa à maneira do signo, basta que seja representativa de outro diferente de si, e ao m odo de algo substituindo a favor de outro que representa. A premissa maior é estabelecida por S. Tomás em muitos locais, onde a espécie impressa é chamada semelhança e representação, como em D e Veritate, q. 8, art. 1, onde diz que aquilo por que o que está vendo vê, ou é semelhança do objecto visto, ou essência dele. E acrescenta que o modo da cognição é conforme a coincidência da semelhança, que é coincidência segundo a representação. Mas é evidente que aquilo por que o que está vendo vê é espécie impressa. E no livro sobre a memória e a reminiscência, lect. 3, diz que na imaginação é imprimida uma espécie de figura sensível, impressão essa que permanece quando o objecto sensível está ausente, assim como a figura do anel é imprimida na cera. Mas é certo que o sensível não imprime na potência nada mais que a espécie impressa. Finalmente, na Suma contra os Gentios, I, cap. 53, diz que ambos, isto é, a intenção inteleccionada e a espécie inteligível são semelhança do objecto; e porque a espécie inteligível, que é um princípio de inteleccionar, é semelhança da coisa exterior, segue-se que o intelecto forma uma intenção semelhante dessa coisa. Onde clarissimamente fala da espécie impressa enquanto distinta da expressa. A premissa menor prova-se: pois em primeiro lugar a espécie impressa é constituída na ordem do representativo, porque está na ordem intencional. E não representa como objecto, mas como fazendo as vezes do objecto, logo, representa como meio entre a potência e o objecto. Nem representa instrumentalmente, porque não move a potência a partir de uma cognição de si pré-existente, pois a espécie não é conhecida para que represente; nem representa eficientemente porque não existe representação ou significação eficiente, como mostramos no livro precedente. Logo, representa formalmente, enquanto por si própria e através da união à potência torna a própria potência semelhante ao objecto por uma semelhança intencional, que é representativa. Confirma-se isto porque se a espécie impressa não é signo formal, pois não representa à cognição, mas tem-se da parte da potência como princípio da cognição, e contudo está verdadeiramente na ordem do representativo, logo, é representativa como princípio da cognição, logo, eficientemente representa à própria cognição, e assim é dada a representação ou significação eficientemente. Responde-se prim eiro à premissa maior do argumento, ser verdadeiro que a espécie impressa seja uma semelhança representa tiva do objecto, mas ao m odo de um princípio da cognição, não ao
216
m odo de uma apercepção formal ou supondo uma apercepção à qual representaria, e assim é chamada semelhança virtual, porque é princípio, donde surge a semelhança formal e apercepção formal. Mas, em razão disto, falta â espécie impressa a natureza do signo, porque embora seja semelhança do objecto e representação unindo e pondo o objecto presente à potência, não p õe o objecto presente à cognição, mas é princípio da cognição. Com efeito, representando à potência e não à cognição, a espécie impressa não representa manifestando em acto, porque a manifestação actual não é feita sem uma cognição actual, mas representa ou une e faz presente o objecto, para que a manifestação e a própria cognição sejam eliciadas. E é deste gênero de semelhança virtual e ao m odo de um princípio de que fala S. Tomás. E se insistes que, porque não é dito na definição d o signo que o signo represente à potência como cognoscente, ou à própria cognição, nem que o signo deva ser meio ou princípio de representar, logo, todas estas condições foram acrescentadas arbitrariamente à definição do signo. Responde-se que estas condições não são acrescentadas à definição de signo, mas estão contidas nela, pelo facto d e que o signo essencialmente deve ter uma representação manifestativa de algo e condutora para o objecto; mas a representação manifestativa apenas pode manifestar à cognição. Donde a representação, que une o objecto à potência para que seja determinada para eliçiar a cognição, não é representação manifestativa, porque é representação ou união e presença do objecto à potência ainda não cognoscente. -E assim, quando a espécie impressa informa a potência, não a informa tornando-a cognoscente, como fariá o signo formal, que é apercepção formal, mas tornando-a apta a conhecer, e consequentemente não torna o objecto manifestado em acto, mas actua e determina a potência para que elicie a cognição, na qual é então manifestado o objecto. Para prova da premissa menor do argumento principal responde-se que a espécie impressa não é representativa por nenhum daqueles modos, porque não é representativa manifestando em acto o objecto, mas actuando e determinando a potência, ao m odo de um princípio, para eliciar a cognição, e isto formalmente é o que a espécie impressa faz. Ora, isto não é formalmente ser signo, porque não é representar manifestando actualmente, tal como é requerido para a natureza do signo, cuja representação deve ser manifestativa e não apenas actuativa da potência para eliciar a cognição. Para confirmação responde-se que não se segue que exista o representar ou significar eficientemente, especialmente quando falamos da representação manifestativa, porque não convém à espécie impressa 227
actualmente, mas virtualmente. Nem, além disso, lhe convém outro m odo de representar, porque a espécie impressa faz a representação ao m odo de uma actuação da potência informando, não produzindo a representação na potência. Mas a produção da representação expressa é feita eficientemente a partir da espécie impressa, mas tal produção eficiente não é representação, mas produção de uma coisa representante, ou seja, da espécie expressa, da qual é feita a representação actual, não eficientemente, mas formalmente a partir do interior da potência, no caso do signo formal, ou de um signo exterior fazendo as vezes do objecto, no caso do signo instrumental. Argumenta-se em segundo lügar: a espécie impressa tem o que quer que seja formalmente requerido para a natureza da imagem, muito mais do que o tem a imagem exterior, logo, tem o que quer que seja que é requerido para a natureza do signo representando em acto. A antecedente prova-se porque possui aquelas duas condições que são, segundo S. Tomás, requeridas para a natureza da imagem (.Suma Teológica, I, q. 93, art. 1 e 2), ou seja, tem semelhança com alguma coisa e origem a partir dela. Ora, a espécie impressa é semelhante ao objecto, porque tem coincidência intencional com ele e, semelhantemente, é deduzida e originada pelo objecto. A consequência prova-se porque aquela imagem da espécie impressa tem uma representação adjunta, por ser uma semelhança intencional, e isto basta para que o conceito seja dito ter a natureza do signo formal, mesmo se é termo da cognição e não meio, porque não é termo último, mas ordenado para o objecto exterior. Logo, semelhantemente, a espécie impressa, embora tenha a natureza do princípio de representar, tem também a natureza de um signo, porque não é o primeiro princípio, mas mediador entre a potência e o objecto. E assim S. Tomás, no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 49, q. 2, art. 1, resp. obj. 15, e nas Quaestiones Quodlibetales, q. 7, art. 1, chama à espécie impressa meio da cognição. Responde-se, em primeiro lugar, que a espécie impressa não é imagem excepto virtualmente, não formalmente; pois existe sem aquela segunda condição, a saber, que seja expressa, pois não é expressa pelo objecto, mas impressa, assim com o o sêmen separado do animal não é imagem, porque embora seja originado a partir do animal, contudo não o é enquanto termo expresso, mas enquanto virtude impressa para gerar. E assim, não é qualquer espécie de origem a partir de outro que constitui a imagem, mas a origem ao m odo do termo ultimamente intencionado. Segundo, nega-se a consequência porque a representação da es pécie impressa não é representação ao m odo de um m eio ma-
218
nifestativo, porque não representa à própria cognição, mas ao m odo de uma forma determinando e actuando a potência para que possa conhecer. Nisto difere largamente do conceito, porque embora se tenha da parte do termo representando o objecto, contudo representa este objecto à própria cognição, e através daquela representação a cognição é tornada terminada, e assim o conceito formalmente representa terminativamente à potência cognoscente ao m odo da manifestação actual. Mas a espécie impressa, embora não seja primeiro princípio, contudo age sobre a potência anteriormente à cognição, e por consequência anteriormente à manifestação actual, o que não é ser m eio representativo manifestativamente, mas virtualmente, ao m odo de um princípio para produzir a manifestação e a cognição. Donde nem o próprio signo instrumental, que é objecto extrínseco, é dito significar e representar, excepto segundo o conhecido, não anteriormente à cognição. Com efeito, é condição no signo instrumen tal que primeiramente seja conhecido, para que signifique, e quando S. Tomás chama espécie impressa ao meio da cognição, diz-se m eio p elo qual, não m eio no qual; mas m eio pelo qu a l é um princípio para conhecer, não algo manifestativo em acto do objecto ou da coisa conhecida.
219
C apítulo IV
SE O ACTO DE CONHECER É SIGNO FORMAL
Supomos que o acto de conhecer é distinguido, no intelecto, do próprio objecto conhecido e da espécie impressa e expressa. Pois, como diz S. Tomás em D e Potentia, q. 8, art. 1, são quatro as coisas que no intelecto concorrem para a cogniçâo, a saber a coisa inteleccionada, o conceito d o intelecto, a espécie pela qual se intelecciona, e o próprio acto de inteleccionar. E a razão disto é que é necessário que sejam dadas no nosso intelecto algumas operações vitais, que procedem do intelecto quando é formado pela espécie impressa, uma vez que a operação do intelecto e a sua cogniçâo nascem do objecto e da potência; mas o objecto age sobre a potência por meio da espécie impressa. Novamente, esta operação não pode formalmente ser a própria espécie expressa ou palavra formada pelo intelecto, porque se a palavra é formada a partir da espécie impressa, é formada por alguma operação, e consequentemente a operação distingue-se de tal espécie expressa. E chamamos operação ao acto de inteleccionar, mas a espécie expressa é chamada termo ou palavra dita e expressa por aquela operação, enquanto é dicção. D onde isto também é mais amplamente confirmado porque inteleccionar ou é considerado enquanto -dicção que exprime», ou como puro acto de contemplar e conhecer. Se é considerado enquanto dicção, é essencialmente produção da palavra, e, logo, pede que a palavra seja termo de tal produção. Se é considerado com o puro conhecer, requer que o objecto seja aplicado e unido àquele acto numa existência imaterial, não só#ao m odo de um princípio pelo 220
qual é produzida a cogniçâo, mas também ao m odo de um termo no qual é atingido o objecto. Mas o termo da cogniçâo não é a própria cogniçâo, mas a cogniçâo é tendência para o objecto que é conhecido. E porque o objecto não é conhecido nem termina a cogniçâo segundo o ser real e material fora da cogniçâo, mas como é tomado espiritual e imaterial no interior da potência, é requerida alguma forma inteligível, na qual seja dado o objecto assim imaterial e espiritual da parte do termo. E isto é a espécie expressa ou palavra. Tudo isto explicaremos mais largamente no livro D e A nim a, q. 11. Então, porque é determinado da própria espécie impressa e expressa, se é signo formal, resta ver se o próprio acto do intelecto, que é a cogniçâo e a tendência para o objecto, é signo formal. Logo, seja única conclusão: O acto de in teleccion a r assim distingu id o da espécie impressa e expressa não ê signo fo rm a l, qualquer que seja a operação do intelecto considerada. Esta conclusão está contra alguns autores mais recentes, e também alguns tomistas; contudo, a favor dela pode ver-se Capreolus, no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 49, q. 1, e Ferrariensis, no seu C om entário ã Suma contra os Gentios, II, cap. 49. A razão desta conclusão é ser o signo essencialmente representa tivo, não sendo o acto de inteleccionar formalmente representação, mas operação e tendência para o objecto. Donde, como por tais actos multiplicados é gerado o hábito, um hábito produzido não é representativo, mas disposição da potência para produzir actos seme lhantes àqueles que formaram o hábito. E assim, S. Tomás, na Suma Teológica, I, q. 12, art. 2, negando que exista a espécie representativa dê Deus como é em si, concede que exista a luz da glória, que é semelhança confortando o intelecto da parte da potência, e assim nega que a luz ou o hábito possuam a razão da representação. Logo, semelhantemente, o acto de inteleccionar não é representação, porque os actos são semelhantes aos hábitos, e se o acto de inteleccionar fosse representação, muito mais a representação coincidiría com o hábito que com o acto, porque o hábito é um tipo de coisa permanente, enquanto o acto é um tipo de operação. E confirma-se porque se o acto fosse representação, a representa ção, ou seria distinta da espécie expressa, ou seria a mesma coisa que a espécie expressa. Não pode ser a mesma coisa, pois o acto de inteleccionar é uma coisa distinta da espécie expressa. Mas se o acto de inteleccionar é distinto, ou representa o mesmo objecto en quanto palavra, assim, um destes dois, acto ou palavra, é supérfluo, ou representa alguma coisa distinta, e assim, a mesma coisa não será conhecida pelo acto de cogniçâo e pelo seu termo, que é a palavra. 221
Finalmente, ou aquela representação do acto de eonhecer é semelhança impressa ou semelhança expressa, porque não parece poder dar-se alguma coisa intermédia entre a espécie impressa e a expressa na ordem da representação. Se a representação é espécie impressa, funciona ao m odo de um princípio que é imprimido ou infundido por algo extrínseco ao próprio intelecto. Mas o acto de inteleccionar não pode ser imprimido a partir de algo extrínseco, mas é originado a partir de algo intrínseco ao intelecto, para que seja vital. Se a representação é espécie expressa, então é palavra e funciona ao m odo do termo expresso e produzido; mas aqui falamos do acto de inteleccionar enquanto é distinto da palavra.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se: ser signo formal é ser apercepção formal de alguma potência ao m odo de uma representação; mas tudo isto. pertence ao acto de conhecer, logo, o acto de conhecer é signo formal. A premissa menor prova-se. Pois é manifesto que o acto de conhecer é apercepção formal, uma vez que é a própria cogniçâo, que é o mesmo que apercepção. Mas que o acto de conhecer exista ao m odo de uma representação prova-se porque une o objecto à potência; pois o acto de inteleccionar, como diz S. Tomás na Suma Teológica, q. 27, art. 1, resp. obj. 2, consiste nisto, que faça o entendimento uno com o próprio objecto inteligível; mas sendo este acto de unir um acto de fazer presente à potência o objecto que une com essa potência, logo é representação. E cónfirma-se porque a acção imanente não é produção formal, mas só virtual. Contudo, formalmente o acto de conhecer é um acto na ordem da qualidade, que versa sobre o objecto tendendo para ele, não operando nele. Mas esta tendência une o objecto à potência, embora o acto de dizer respeito a não produza o objecto, e consequentemente o acto de conhecer representa, porque representar é fazer presente ou unir cognoscivelmente. Responde-se que o acto de inteleccionar não é signo formal, porque lhe falta a razão de representar, como dissemos. E à impugnação oposta responde-se que o acto de inteleccionar une o objecto ao m odo de uma operação tendendo para o objecto, não ao m odo de uma forma que substitui e faz as vezes a favor daquele objecto. E assim não possui a razão de representar, porque a representação é feita contendo outro enquanto fazendo as vezes dele, não operando. Donde a acção unitiva não é dita representar, embora una, e assim 222
nem todo o modo de unir é modo de representar; assim com o também a espécie impressa, que une ao modo do princípio de cognição, não une formalmente ao m odo de um representante. Para confirmação responde-se que o acto de inteleccionar, embora seja qualidade, contudo não toma presente o objecto com o forma da parte do objecto, como se fizera as vezes desse objecto, mas como forma tendendo e operando da parte da potência sobre o objecto. E assim não é união representativa, mas operativa ou ao m odo de um acto segundo, não como continente mas como tendente para o objecto. Argumenta-se em segundo lugar: a apercepção do sentido exterior é signo formal, e contudo aí não é palavra ou imagem expressa, como ensina S. Tomás em D e Veritate, q. 8, art. 5, e Opúsculo 14. Logo, não é requerida para a natureza do signo formal a semelhança expressa, mas basta o acto de conhecer. A maior prova-se porque se a apercepção do sentido exterior não fosse signo formal, não seria dada a apercepção formal nos sentidos externos, e consequentemente não existiría cognição formal, porque a apercepção formal é signo formal, Assim, com o diz Soto, nas Súmulas de Lógica, cap. i i í , a apercepção dos sentidos exteriores é termo, enquanto vem do m odo de significar; mas é da natureza do termo que seja signo. Logo, o acto do sentido externo é signo, e como não é signo instrumental, logo, é signo formal. E confirma-se porque o acto do sentido externo é verdadeiramente acto imanente, logo é complemento último e perfeição da potência, logo no próprio é feita a última e perfeita união com o objecto, e logo também a representação, porque não existe outra união entre o sentido externo e o objecto que a união mediante o acto. Responde-se ser verdadeiro que o sentido externo não tem a palavra ou imagem expressa na qual conheça, porque devido à sua materialidade não pede tanta união com o objecto que este esteja no interior da potência, mas a sensação deve ser feita na coisa posta exteriormente, que é ultimamente tornada sensível enquanto existe fora do sentido. E embora a cognição do sentido externo seja acção imanente, contudo não existe necessidade de produção nem diz respeito ao termo com o mudado por si, mas com o intencional e objectivamente unido, embora virtualmente possa ter a força da produção; assim como a cognição enquanto dicção produz a palavra, e o amor enquanto espiral produz o impulso, e a sensação externa produz a representação ou espécie, não no interior de si, mas nos sentidos internos, com o ensina S. Tom ás na Sum a con tra os Gentios, IV, cap. 11, e no Opúsculo 14. Contudo, de si, o acto imanente não é uma acção ao modo de um movimento e via tendente para
223
um termo ulterior, mas ao modo de uma última actualidade na qual é completada toda a cognição, e por esta razão o acto de inteleccionar é comparado por S. Tomás ao próprio acto de existir na Sum a Teológica, I, q. 14, art. 4, e em muitos outros locais. Donde para prova d o argumento é dito que no sentido externo existe a apercepção formal ao modo de uma cognição, que é tendência da potência para o objecto, não ao m odo de uma representação, que é forma substituindo em lugar do objecto na potência. E assim, embora o signo formal seja dito apercepção formal terminativamente, porque é termo da cognição, contudo nem toda a apercepção formal é signo formal, ou seja, o próprio acto de conhecer. Nem a cognição do sentido externo é dita por Soto ser termo inqualificadamente, mas •qualificadamente, apenas enquanto é um tipo de cognição simples. Para confirmação responde-se que um acto do sentido externo é complemento final ao m odo de um acto segundo para diferença da acção em trânsito, porque, como diz S. Tomás em D e Veritate, q. 14, art. 3, o acto da operação em trânsito tem complemento no termo que é feito fora do agente; mas o complemento da acção imanente não é derivado daquilo que é produzido, mas de agir, porque o próprio acto é a perfeição e actualidade da potência. Donde a virtude nestas potências não é considerada segundo o melhor que é feito, mas segundo isto — que a operação seja boa. Assim S. Tomás. Mas, embora a operação do sentido externo seja perfeição última unindo o ob jecto à potência, contudo a operação não faz a união representativamente, porque, como dissemos muitas vezes, é união ao m odo de uma tendência da parte da potência para o objecto, não ao m odo da forma substituinte a favor do objecto; mas a representação é formalmente substituição a favor daquilo que é representado.
Capítulo V
SE É APROPRIADA A DIVISÃO DO SIGNO EM NATURAL, CONVENCIONAL E CONSUETUDINÁRIO
A conveniência desta divisão não traz dificuldade quanto à adequação, pois estes membros esgotam o todo que há para ser dividido; mas existe dificuldade quanto à qualidade desta divisão, ou seja, se o signo convencional é verdadeiramente signo, e consequente mente, se a divisão é unívoca. Seja única conclusão: Se esta divisão do signo em n a tu ra l e con ven cion a l é considerada entitativam ente e na ordem do ser real, é análoga; se é considerada na ordem do representativo ou do cognoscível, é unívoca, e o signo con ven cion a l é verdadeiram ente signo na fu n çã o e substituição do objecto que exerce. A primeira parte da conclusão é manifesta porque, como foi tratado no livro precedente, o signo é constituído na ordem da relação formalmente falando. Mas da relação real e de razão, entitativamente falando, não existe nada de unívoco, porque não podem estar na mesma ordem; contudo a relação do signo natural é real, com o já vimos, enquanto a relação d o signo convencional não pode ser real. Logo, entitativamente falando, não há nada de unívoco àqueles signos. Dizes: não é certo que a relação do signo natural seja real, nem que a do signo convencional consista na relação de razão, mas basta ao signo convencional a denominação extrínseca, pela qual é dito ser imposto pela vontade; logo, não subsiste o fundamento da con clusão posta. 225
Mas esta segunda proposição, que o signo convencional consiste na denom inação extrínseca, não enfraquece o fundamento da conclusão de que a divisão dos signos em natural e convencional é análoga na ordem do entitativo, porque se o signo convencional só tem o ser do signo a partir da denominação extrínseca, por este próprio facto é signo segundo um certo aspecto e não simplesmente, porque a denominação extrínseca não é formalmente ser real existente naquilo que é denominado, mas é pressupostamente no denominante extrínseco. A primeira proposição, que a relação do signo natural ao objecto é real, foi explicada no livro precedente, onde mostramos que o signo natural exprime alguma coisa real ao m odo de uma relação, embora alguns digam que aquela relação é transcendental, não categorial. Contudo, os que dizem que o signo, no que lhe é formal, consiste na relação de razão, devem consequentemente constituir a natureza do signo entitativamente unívoca nesta divisão dos signos em convencional e natural. A segunda parte da conclusão depende daquela célebre doutrina de Caetano, no Com entário à Sum a Teológica, I, q. l, art. 3, que diz que as diferenças das coisas como coisas são algo bem diferente das diferenças das coisas com o objectos e no ser do objecto; e coisas que diferem em espécie ou mais do que em espécie numa linha, podem noutra linha não diferir, ou não diferir da mesma forma. E assim, como a razão do signo pertence à razão do cognoscível, porque faz as vezes do objecto, estará bem que na natureza do objecto o signo natural real e o signo convencional de razão sejam signos unívocos; assim como o ente real e de razão no ser do objecto se revestem de uma natureza, uma vez que terminam a mesma potência, ou seja o intelecto, e pelo mesmo hábito podem ser atingidos, a saber, pela Metafísica, ou pelo menos especificam duas ciências univocamente convenientes, por exem plo Lógica e Física. Logo, no ser do objecto especificante os signos natural e convencional coincidem univocamente. Assim, também pelos signos convencional e natural a potência é verdadeira e univocamente movida e conduzida para o objecto. Pois que sejamos movidos pelos signos convencionais para perceber os objectos, é manifesto pela própria experiência, e que isto seja feito univocamente é evidente, porque o signo convencional não significa segundo o que e dependentemente do signo natural na própria razão de significar; pois por si só a palavra significativa enunciada conduz para o objecto, assim como os outros signos naturais instrumentais. Nem obsta que a palavra ou nome não signifique excepto mediante o conceito, que é signo natural. Pois isto também convém ao signo natural instrumental, que não representa a não ser mediante o conceito 226
e apercepção de si, e contudo o signo natural instrumental não é por isto signo analogicamente, mas verdadeira e univocamente. Pois que os signos ao representar dependam do conceito, não retira a unívoca natureza do signo, uma vez que conceito e cognição é aquilo que os signos instrumentais representam, não um meio pelo qual representam enquanto natureza formal, embora os signos instrumentais possam ser produzidos por esse conceito e cognição. Pois nem toda a dependência de uma coisa para outra constitui a analogia, mas só aquela que estã numa ordem para participar da natureza ou razão geral e comum; pois a não ser que aquela desigualdade seja em parte a mesma e em parte diferente, não destrói a univocidade, como muito bem explica S. Tomás no seu comentário ao D e Interpretatione, início da lect. 8. Finalmente, esta segunda parte da nossa conclusão é abertamente tomada de S. Tomás. Pois na Suma Teológica, III, q. 60, art. 6, resp. obj. 2, diz que «embora as palavras e outras coisas sensíveis estejam em ordens diversas enquanto pertencem à natureza da coisa, contudo coincidem na natureza de significar, que é mais perfeita nas palavras que nas outras coisas. E assim uma coisa que é de certo m odo uma é feita das palavras e coisas no caso dos Sacramentos, en quanto a significação das coisas é aperfeiçoada pelas palavras». E no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 5, resp. obj. 4, diz que «embora a representação, que é propriedade da semelhança natural, importe uma certa aptitude para significar, contudo a determinação e o complemento da significação vêm da instituição». Logo, sente S. Tomás no signo convencional que a significação não é analógica, uma vez que pode actuar e aperfeiçoar a significação natural e com ela constituir um signo artificial que é o sacramento.
RESOLUÇÃO DOS CONTRjVARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se; a razão específica não pode permanecer quando é removida a razão genérica; mas no signo convencional não é encontrada a razão genérica do signo, ou seja a relação, excepto analogicamente; logo, a razão específica do signo não é encontrada aí, excepto analogicamente. A premissa menor consta do que foi dito, porque a relação do signo no signo convencional é de razão, que não coincide univoca mente com a relação real na razão da relação. Responde-se que o argumento convence que o signo convencional, tomado na ordem do ente e categorialmente, não é univocamente 227
signo com o signo natural, mas não mostra que não é univocamente signo no ser do cognoscível e representativo. Pois assim como está bem que alguma coisa não coincida univocamente no ser da coisa, com o a quantidade, a qualidade e a substância, e contudo no ser do objecto e cognoscível coincidam univocamente, porque pertencem ao mesmo conhecimento ou potência cognitiva, assim está bem que alguns signos difiram no ser da coisa e na razão de ser categorialmente, e não coincidam univocamente, mas coincidam univocamente na razão objectiva ou vice-objectiva, que é a razão do representativo e significativo. E se insistes: certamente este próprio gênero representativo é rela ção, ou dissemos mal no livro precedente que o signo, na razão do signo, é posto na ordem da relação. Logo, se o signo convencional enquanto é relação não coincide univocamente com o natural, então também não coincide univocamente com o natural na razão do representativo. Responde-se que o próprio gênero significativo é considerado duplamente, no ser da coisa e no ser do objecto ou cognoscível, nem pode prescindir totalmente destas razões, porque são transcen dentais. E na razão do cognoscível o significativo é apenas uma propriedade coincidente do ente e pressupostamente ente, não formalmente, enquanto na razão do ente o significativo é, ou relação transcendental, ou categorial. E quando dissemos acima que o signo é constituído na ordem da relação, falavamos dos signos tanto formal com o categorialmente, isto é, representativamente na ordem do objectivo. Argumenta-se em segundo lugar: porque o signo convencional é constituído pela própria imposição, que nele nada de real põe, mas apenas a denominação extrínseca; logo, não consiste numa relação semelhante à do signo natural, nem tem em si alguma coisa em razão da qual seja representativo, mas só m ove por outro, nomea damente em razão da apercepção que o intelecto tem da própria imposição da voz. A consequência prova-se porque a denominação extrínseca é efeito proveniente da forma denominante, mas a forma denominante extrinsecamente não é relação, mas acto da vontade que impõe. A antecedente, por outro lado, prova-se porque se o signo con vencional não consiste na denominação extrínseca, mas na relação de razão, o signo não existiría em acto, excepto quando é actualmente conhecido, e assim os escritos no livro fechado, ou quando não são considerados actualmente, não serão signo. Responde-se que alguns assim sentem, ao tratarem dos sa cramentos, que a natureza do signo convencional nos sacramentos
228
consiste na atribuição extrínseca, não na relação de razão, como Suárez, no seu tratado sobre os sacramentos. Mas uma vez que a imposição da vontade só serve para determinar a tarefa e o ofício do signo, não enquanto alguma coisa absoluta, mas respectivamente ao objecto significado para o qual a voz não é determinada da sua natureza como coisa, segue-se que a própria atribuição da vontade só faz aquilo que nos signos naturais a própria natureza da coisa faz, natureza que ordena o signo natural para o seu objecto, e assim funda a relação, na qual consiste a própria razão do signo. Logo, semelhantemente, a imposição destinando a voz para significar funda a relação do signo, porque a própria destinação está no signo por respeito a outro. Mas porque esta relação é fundada nalguma destinação, a qual nada de real põe na coisa destinada, então é uma relação de razão. E para além disso, corre no signo convencional a mesma razão que no natural, uma vez que a razão do signo é uma razão respectiva exercendo a sua função numa ordem para o objecto como algo substituinte. Logo, se o signo convencional é signo e exerce esta função, deve revestir-se da natureza da relação, não real, porque carece do fundamento suficiente, logo, de razão. E para réplica diz-se que o escrito no livro fechado ou não considerado actualmente p e lo intelecto é signo actualmente fundamentalmente, não actualmente formalmente, porque a relação de razão não pode ter ser formalmente, excepto pelo intelecto. Mas é denominado absoluta e simplesmente signo, porque nestas relações de razão basta o fundamento próprio para denominar absolutamente, porque é posto da parte da coisa denominável o que quer'que seja que é requerido para tal denominação da parte de si. Mas porque aquela relação, ao contrário das relações reais, não resulta do fundamento, mas depende do acto de cognição, logo, não aguarda a própria relação para que seja denominado signo absolutamente, embora requeira a própria relação para que seja denominado como sendo relacionado em acto; assim com o Deus é absolutamente denominado Senhor e Criador, embora a relação de senhor e criador não seja conhecida em acto; contudo Deus não é denominado relacionado em acto às criaturas, excepto se é conhecido em acto. Mas para isto que é acrescentado, que o signo convencional não significa nem m ove por alguma coisa que em si tenha mas por outro, responde-se que significa por imposição, que é própria dele, embora seja requerida a apercepção da tal imposição enquanto condição e aplicação para o exercício da significação, não para constituir a forma do signo. Argumenta-se em terceiro lugar: porque alguns signos nem são convencionais nem naturais, esta divisão não é adequada.
229
A antecedente prova-se: certamente a imagem de César feita pelo pintor, que o artista não conhece, não é signo natural, porque não significa a partir da natureza da coisa, mas da livre acomodação do pintor; assim com o também muitas imagens costumam ser atribuídas a tal ou tal santo, ao qual não significam de propriedade. Nem são signos convencionais, porque não significam a partir da imposição, mas por m odo da imagem. D o mesmo modo, os signos que são dados por Deus, com o o arco-íris nas nuvens para significar que não haverá um dilúvio futuro com o o do Gênesis, cap. ix, 12-17, e o signo que Deus pôs em Caim, para que não fosse chacinado, não eram signos da imposição, uma vez que eram conhecidos de todos; mas os signos convencionais não são os mesmos junto de todos os homens, com o diz Aristóteles no D e Interpretatione, cap. i, nem eram naturais, de outro modo teriam sido impostos por Deus inutilmente. Responde-se negando a antecedente. Para o primeiro exemplo responde-se que a imagem pintada, embora seja signo feito pela arte, contudo representa naturalmente, ou seja em razão da semelhança que realmente tem, e não em razão da imposição. Mas é dita imagem artificial em razão da causa eficiente, pela qual é feita, não da parte da razão formal pela qual significa, a qual é real e intrínseca, nomeadamente a semelhança com o outro que é ordenado para representar. Mas estas imagens não significam directamente o objecto com o é em si, mas com o é na ideia do pintor, ideia essa que a imagem representa directamente. E porque a ideia do pintor algumas vezes é própria a respeito do seu objecto, outras vezes imprópria ou menos própria, assim também a imagem nem sempre representa o objecto propriamente, como é em si, mas a sua ideia. Mas quando uma imagem é acomodada a este ou àquele santo pelo uso do homem, tal representação constitui signo consuetudinário, como diremos na questão seguinte. Para o segundo exem plo responde-se que muitos signos são convencionais pela instituição divina, assim com o é patente nos sacramentos. E tais signos não representam para todos, mas só para aqueles cientes da própria imposição, e deste modo o arco-íris significa que não haverá dilúvio futuro a partir da própria imposição particular de Deus. Mas talvez o signo posto por Deus em Caim fosse alguma coisa natural, ou seja um certo tremor do corpo, com o S. Jerónimo diz na Epístola 36, que o tremor movia todos para a misericórdia, para que não o assassinassem. Contudo, se o signo em Caim fosse alguma coisa convencional estipulada pela instituição divina, deve ser dito que Deus inscreveu uma apercepção dele em todos os que viam Caim, para que não o matassem.
230
C apítulo VI
SE UM SIGNO CONSUETUDINÁRIO É VERDADEIRAMENTE SIGNO
Há uma especial dificuldade acerca de certos signos, que são acomodados para significar não a partir de alguma instituição pública, isto é, de uma autoridade publicamente emanada, mas apenas da vontade dos particulares, que frequentemente os utilizam para significar alguma coisa. Donde, porque toda a força de significar depende do próprio uso e frequência deste, é duvidoso se este uso e frequência significa de modo natural, ou se na verdade tem uma significação convencional. Seja única conclusão: Se o costum e d iz respeito a algum signo, destinando-o e propon d o-o pa ra signo, tal signo fu n d a d o no costum e será convencional. Mas se o costum e não propõe e in stitu i algum a coisa com o signo, mas expressa simplesmente o uso da coisa, e em razão daquele a coisa é tom ada p o r signo, ta l signo reduz-se ao signo natural. Logo, o costume ou pode ser causa do signo, assim com o se um povo pelo seu costume introduzir e propuser alguma palavra para significar; ou pode funcionar como efeito, que nos conduza para conhecer a sua causa, tal com o o cão frequentemente visto acom panhando alguém manifesta que este seja dono dele, e o costume de comer com guardanapos manifesta a nossa refeição quando vemos os guardanapos postos, e universalmente quase toda a indução é fundada na frequência e no costume, pelos quais vemos alguma coisa suceder frequentemente. 231
A primeira parte da conclusão prova-se de S. Tomás, na Suma Teológica, I-II, q. 97, art. 3, onde ensina ter o costume força de lei. Logo, o costume introduzindo alguma coisa para significar, introduz essa coisa como signo pela mesma autoridade pela qual a própria lei a introduziría. Mas se da lei pública alguma palavra é proposta para signo, é verdadeiramente signo convencional, porque é instituído pela autoridade pública. Logo, o costume, que é sub-rogado em lugar da lei e tem a autoridade da lei, constitui signo convencional d o mesmo m odo que a lei. E vemos muitas palavras serem deste modo introduzidas numa comunidade para significar, e muitas palavras agora não significam o que significavam anteriormente, porque caíram em desuso. Donde acerca de tais signos consuetudinãrios, quando a expressão “de» ou «a partir de» exprime a causa eficiente segundo o uso e o consenso do povo, deve falar-se dos signos consuetudinãrios da mesma maneira que se fala dos signos convencionais. Mas a segunda parte da conclusão prova-se porque o costume, como é um tipo de efeito, conduz-nos ao conhecimento da sua causa, do mesmo m odo que outros efeitos mostram as suas causas; e muito mais o costume que os outros efeitos, porque a frequência de produzir algo firma que aquilo seja efeito de tal causa. Mas todos os efeitos representam a sua causa enquanto procedem daquela, e. assim têm alguma conveniência e proporção. Logo, tal significação é fundada em algo natural, ou seja, na processão de um efeito da sua causa e na conveniência com aquela causa. Consequentemente, o costume como efeito fundando a significação é reduzido à causa natural. E assim o Filósofo diz que o prazer é signo de um hábito adquirido, porque encontramos o prazer nas coisas às quais estamos frequentemente acostumados, devido à coincidência relativamente àquilo em que temos costume.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se, porque o costume não é efeito natural, mas moral e livre, então não pode fundar a razão do signo natural. A consequência é manifesta porque o signo não pode ser dito mais natural que a causa da qual tem existência; logo, o signo se não provém de uma causa natural, consequentemente não pode ser dito signo natural. A antecedente prova-se porque o costume é o mesmo que o uso, do qual os actos são ditos morais ou humanos, como ensina S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 1, art. 3. Logo, o costume entre os homens não é efeito natural mas moral, e assim, o signo que se funda no costume, é fundado.em algo de moral e livre, que
232
nas coisas exteriores não põe nada de real, mas apenas a denominação extrínseca; todavia, o signo fundado na denominação extrínseca não pode ser signo natural. Responde-se que, em primeiro lugar, geralmente falando, o costume não se encontra só nos homens, mas também nos animais operando por instinto natural. Donde S. Tomás, no C om entário à M etafísica de Aristóteles, I, lect. 1, mostra que os animais podem ser disciplináveis e acostumados a fazer alguma coisa, ou a evitá-la, através das instruções de outro, e assim nem todo o costume é acto humano, mas todo o costume pode fundar um signo natural, assim com o o costume de um cão seguir alguém é signo de que este seja dono dele. Em segundo lugar responde-se, falando do costume humano, que embora proceda de uma causa livre e assim seja denominado efeito livre, contudo a sua razão formal de significar não é alguma atribuição livre, mas a própria frequência e repetição do acto, e este significa naturalmente, porque não é moral, isto é, atribuição extrínseca que só moralmente denomina, mas processão intrínseca dos actos, e a sua frequência e multiplicação constitui o signo consuetudinário. Logo, a significação pertence naturalmente àquele signo, assim como também os actos livres multiplicados geram o hábito enquanto efeito natural e não livre, porque a própria multiplicação dos actos não funciona livremente para gerar o hábito, e, logo, nem para o significar da força resultante da repetição dos actos, embora os próprios actos em si sejam livres. Segundo argumenta-se: Se o signo consuetudinário representa naturalmente a partir do facto de que é acto frequentemente repetido, segue-se que qualquer costume será signo de alguma coisa, porque todo o costume é efeito procedendo de actos repetidos. Mas isto é falso, porque há muitos costumes que nada significam, assim com o o costume de dormir de noite, comer ao meio-dia, acender o fogo no Inverno, e infinitos outros costumes, nada significam. Logo, o costume não significa precisamente pelo facto de ser efeito de alguma causa, e assim não será signo natural. E confirma-se porque sem alguma mutação intrínseca um signo consuetudinário pode deixar de ser signo, nomeadamente apenas por cessação ou omissão de utilização daquele; logo, não é signo natural. A consequência é patente porque o signo natural deve ser constituído por alguma coisa intrínseca e natural, e, logo, não pode ser perdido apenas pela suspensão do uso voluntário, mas por alguma coisa real que lhe seja oposta. Responde-se que, para que alguma còisa seja signo consuetudi nário, requer-se que também tenha as coisas que concorrem para a
233
razão do signo, ou seja ser ordenado para alguma coisa que o próprio costume toma mais conhecido, não precisamente porque o costume é um efeito, mas porque é frequentemente repetido. Mas se, ou não é tomado como meio para alguma outra coisa, como os guardanapos para a refeição, ou da própria frequência da repetição não é tornado mais conhecido, como se vê que alguém é dono do cão pela frequência com que aquele o segue, não será signo consuetudinário, embora seja costume. Para confirmação responde-se que o signo consuetudinário não desaparece com a mera suspensão retirando a instituição, mas desaparece com a suspensão retirando a multiplicação dos actos e a frequência dos usos. Donde, porque a representação do signo consuetudinário é fundada na própria multiplicação dos actos, que constitui o costume, quando tal multiplicação é removida, é removido o fundamento do signo, e assim a determinação deixada com o consequência da multiplicação é destruída pela privação oposta, assim como o hábito da ciência é perdido por esquecimento, especialmente porque algo de positivo sempre intervém para se perder a memória ou o cpstume, enquanto os objectos se sucedem uns aos outros numa sucessão pela qual os primeiros objectos paulatinamente escapam da memória dispondo para o acto oposto ou impedindo a própria memória e o costume de criarem raízes. Por último argumenta-se: Apenas da vontade, sem alguma multiplicação dos actos, pode resultar o signo consuetudinário; logo, p elo menos então, não representa enquanto signo natural. A antecedente prova-se porque apenas da acomodação e da designação d o homem uma estátua ou im agem é posta para representar algum santo, ou do mesmo m odo um actor representa um rei, ou César, não por um decreto da república nem por um costume dos homens, mas apenas do facto particular de tal homem. E confirma-se porque se a doutrina dada é verdadeira, segue-se que as vozes naturalmente significam aquilo para o qual são impostas, porque mesmo se a imposição deste som «homens» fosse removida, continuaria a representar-nos o homem, por causa do costume que temos, logo, representaria naturalmente a partir do costume. Finalmente, porque o signo natural é o que significa o mesmo junto de todos os homens. Ora o signo consuetudinário não significa o mesmo junto de todos os homens, mas só junto dos que conhecem o costume, assim com o o signo convencional significa junto dos conhecedores da imposição; logo, não representa naturalmente. Responde-se que qualquer imagem, enquanto é imagem, só representa aquilo cuja semelhança expressa, nomeadamente a sua ideia, qualquer que ela seja. Mas.se do uso do homem é acomodada 234
para representar outro objecto diferente da sua ideia, aquela acomo dação ou destinação a respeito do objecto constitui a imagem na razão do signo convencional, se aquela destinação é feita a partir da autoridade pública, ou na razão de um signo consuetudinário, se a destinação é feita como consequência do uso dos homens. Mas se alguém, através de apenas um acto, sem um costume, p õe alguma coisa para representar outra, tal destinação será um tipo de costume incoativo, e assim representará para ele ao m odo de um signo consuetudinário ou como excitativo da memória. E por esta razão também d o actor se diz representar o rei ou p or significação consuetudinãria ou como um excitativo da memória, porque assim sucede entre os homens, para que visto o homem que tal personagem representa seja reduzido a uma memória da coisa representada; assim com o também do pacto ou acordo alguma coisa pode ser designada para signo ou estímulo da memória, o que na totalidade pertence redutivamente ao signo convencional ou consuetudinário. Para confirmação responde-se que as vozes apenas significam convencionalmente, mas por acidente significam a partir do costume, que é significar naturalmente não a partir de si, mas apenas para aqueles junto de quem o costume é conhecido. Nem é inconveniente que dois modos de significar pertençam à mesma coisa segundo formalidades distintas. Daí que, quando um m odo de significar é removido, o outro permanece, e assim o mesmo signo nunca é natural e convencional formalmente, embora materialmente seja o mesmo, isto é, as significações natural e convencional convenham no mesmo sujeito. Mas a proposição onde é dito ser signo natural o que significa o mesmo junto de todos os homens, é inteleccionada do que é signo natural simplesmente, porque a natureza é a mesma junto de todos os homens. Mas o costume é quase outra natureza, mas não a própria natureza, e assim significa para todos junto dos quais ê costume, não para todos simplesmente, e assim é alguma coisa mais imperfeita na ordem do signo natural, tal como o costume é alguma coisa imperfeita na ordem da natureza.
Livro III DIVIDIDO EM QUATRO CAPÍTULOS
ACERCA DAS APERCEPÇÕES E CONCEITOS
ACERCA DAS APERCEPÇÕES E CONCEITOS
Porque a divisão dos termos é feita entre mentais e vocais, e os mentais pertencem aos conceitos e apercepções, e porque a exacta explicação dos signos depen de maximamente dos conceitos e apercepções, para a exacta explicação destes pareceu-me p o r bem disputar algumas coisas sobre os conceitos e apercepções, especialmente enquanto pertencem aos termos mentais simples. Ora, com o dissemos no cap. m do primeiro livro das Súmulas, a apercepção, que é apreensão simples ou termo mental, divide-se, da parte da cognição, em intuitiva e abstractiva, enquanto da parte d o conceito divide-se em conceito ultimado e não ultimado, directo e reflexo. N o.presente livro apenas trataremos destas apercepções e conceitos.
239
C apítulo I
SE AS APERCEPÇÔES INTUITIVA E ABSTRACTIVA DIFEREM ESSENCIAIMENTE N A NATUREZA DA COGNIÇÃO
Supomos aqui dada a definição de apercepção intuitiva e abstractiva que transmitimos no primeiro livro das Súmulas, cap. m, segundo a qual apercepção intuitiva é -apercepção da coisa presente», fenquanto a apercepção abstractiva é «apercepção da coisa ausente». Onde presença e ausência não são tomadas intencionalmente pela própria presença ou união do objecto com a potência. Com efeito, é evidente que nenhuma apercepção pode dar-se sem esta presença, uma vez que, sem um objecto unido e presente à potência, nenhuma apercepção pode surgir nessa potência. Assim, diz-se apercepção das coisas presente e ausente, tomando a presença e a ausência pelo que convém à coisa em si. Donde diz S. Tomás em D e Veritate, q. 3, art. 3, resp. obj. 8, que o conhecimento da visão, que é o mesmo que a apercepção intuitiva, acrescenta sobre a simples apercepção alguma coisa que está fora da ordem da apercepção, ou seja, a existência das coisas. Logo, acrescenta a existência real, pois a existência intencional e objectiva não está fora da ordem da apercepção. E no Com entário ãs Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 14, q. 1, art. 2, quaestiunc. 2, diz que «aquilo que tem existência fora do sujeito que vê, é visto propriamente». Logo, a existência que é requerida para a apercepção intuitiva deve ser real e física. Sobre a dificuldade proposta, várias posições de autores se têm tomado conhecidas. Com efeito, alguns consideraram as distinções destas apercepções do ponto de vista do princípio, ou seja, da espécie
16
241
impressa. E assim disseram alguns, citados por Ferrariensis no Com entário à Suma contra os Gentios, II, cap. l x v i , que é apercepção intuitiva a que é feita sem recurso à espécie inteligível, enquanto a abstractiva é a que é feita mediante alguma espécie. Esta opinião, contudo, deve ser totalmente rejeitada, pois nenhuma apercepção pode ser eliciada sem uma espécie. Com efeito, toda a cognição depende do objecto e da potência, e este objecto não pode informar a potência intencionalmente, não importando o quanto em si seja presente, excepto mediante uma espécie, ou a não ser que o próprio objecto em si tenha existência intencional e espiritual que seja conjunta com a potência. Outros dizem que a cognição intuitiva é aquela que conhece a coisa através de espécies próprias, enquanto a abstractiva é a que conhece a coisa através de espécies estranhas. Parece que a cognição abstractiva e intuitiva pode também ser distinguida do ponto de vista da evidência, porque a apercepção intuitiva é sempre evidente como sendo da coisa em si, enquanto a abstractiva abstrai da obscuridade e evidência e se, por vezes, tem evidência, não é a de uma coisa em si imediatamente, mas como contida em alguma outra coisa, como p o r exem plo, nas suas causas e princípios ou outras coisas semelhantes, ou numa imagem, independentemente da presença. Outros distinguem a apercepção intuitiva do ponto de vista do termo ou do objecto com o terminante, segundo as definições aqui transmitidas, porque uma é acerca da coisa ausente, e outra acerca da coisa presente. Esta opinião é a mais comum entre os tomistas, pois aquela distinção do ponto de vista da espécie, de que a aper cepção é por uma espécie própria ou estranha, em si. ou noutra, obscura ou clara, estas não são formalidades que propriamente pertençam à natureza do intuitivo ou do abstractivo. Pois o intuitivo pode ser mantido através da própria cognição mediata, ou em outro; pode também o abstractivo ser mantido através de uma cognição com tanta evidência e claridade como a intuitiva, e semelhantemente pode o abstractivo ser feito pela cognição e pela espécie imediata. A primeira parte, que a distinção do ponto de vista da espécie não expressa a formalidade que propriamente pertence à natureza da apercepção intuitiva ou abstractiva é manifesta, porque as criaturas futuras são vistas na essência divina como numa forma estranha de especificação, e contudo Deus vê-as intuitivamente. E semelhante mente essa cognição é mediata e em outro. D e m odo semelhante os anjos, pela sua própria essência como por uma espécie podem ver intuitivamente os acidentes que estão em si; e do mesmo modo, por uma espécie representante de outra substância, podem ver os acidentes que estão presentes nessa substância, E nas palavras de S. Tomás o 242
intelecto não possui uma espécie directa dos singulares, e apesar disso pode ver intuitivamente as coisas singulares quando são presentes pelos sentidos. Logo, para a apercepção intuitiva não é requerida nem a espécie própria nem a cognição imediata e directa. Um exem plo do segundo caso, que a distinção do ponto de vista da evidência não expressa a form alidade própria à razão da apercepção intuitiva ou abstractiva, está no próprio caso de Deus, que conhece as criaturas possíveis abstractivamente, com tanta evidência e claridade da parte do cognoscente como se elas estivessem presentes. Semelhantemente, pode Deus infundir em alguém a cognição de uma essência possível fora do Verbo, e então esse sujeito conhecería a coisa possível através de uma espécie própria dele, e contudo conhecería abstractivamente. E um anjo pode ter a espécie própria do eclipse futuro e conhecer a sua futuridade e existência através de uma espécie própria, e contudo essa é uma cognição abstractiva; assim com o nós somos capazes de nos recordar de uma coisa ausente que vimos através de uma espécie própria, e mesmo ser levados a admitir a sua existência ao modo de um objecto, como por exem plo quando a partir dos efeitos conheço que Deus está presente, sendo contudo essa cognição abstractiva. Logo, a apercepção intuitiva e abstractiva não se distingue a partir disto, mas importa •recorrer ao termo conhecido, nomeadamente que uma cognição atinja o objecto terminante sob a sua própria presença física, e outra atinja o objecto terminante sob ausência. Daí que restem apenas dois modos de distinguir estas apercepções, que são também os mais frequentemente seguidos entre os tomistas. Pois alguns distinguem-nas essencialmente segundo a presença e a ausência enquanto segundo naturezas diversas que são representadas, e consequentemente as próprias representações diferem intrínseca e essencialmente, devido aos diversos objectos representados. Outros, contudo, dizem que estes tipos de apercepção diferem acidentalmente porque não requerem diversas representações formalmente, mas a mesma coisa pode ser representada numa apercepção intuitiva e numa apercepção abstractiva, nomeadamente a coisa que com a sua existência e presença significada em acto é conhecida e representada; mas as representações diferem apenas acidentalmente, devido ao diverso exercício de terminar. Com efeito, se o próprio objecto fosse tomado presente em si, e a própria presença fosse representada na cognição, por esse próprio facto a cognição seria tornada intuitiva. Mas se a presença física da coisa, presença através da qual o objecto termina a cognição, fosse removida, e todas as outras condições do lado da cognição e do lado da re presentação permanecessem invariantes, a cognição seria tornada
243
abstractiva. Donde alguns autores também dizem que o intuitivo e o abstractivo são apenas denominações extrínsecas, surgindo na cognição da própria existência ou ausência da coisa em si. Mas outras dizem que intuitivo e o abstractivo são modos intrínsecos à própria cognição, embora não variando a própria representação essencial mente, porque na verdade pertencem à própria tendência da apercepção para o objecto enquanto terminante de tal ou tal modo. Seja portanto única conclusão: A razão fo rm a l e p róp ria do intuitivo e do abstractivo não são razões essencial e intrinsecam ente variantes da cognição, mas acidentalm ente: p o r acidente, isto é, p o r outro e p o r razão d a qu ilo a que estão juntas, in tu itivo e abstractivo podem im porta r tipos de apercepção de diferentes espécies. A primeira parte desta conclusão é tirada das passagens de S. Tomás supracitadas de D e Veritate e C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, porque o conhecimento da visão ou apercepção intuitiva acrescenta sobre a apercepção simples ou abstractiva alguma coisa que está fora da ordem da apercepção, nomeadamente a existência da coisa. Logo, S. Tomás sente que a natureza da apercepção intuitiva e abstractiva não expressa diferenças essenciais e intrínsecas, porque estas naturezas não estão fora da ordem da apercepção, mas pertencem à própria ordem do cognoscível. Mas acrescentar algumacoisa que está fora do sujeito que vê e fora da própria ordem da. cognição, é acrescentar alguma coisa acidental e extrínseca. Ora, o fundamento desta conclusão é que o intuitivo e o abstractivo não importam a diversidade no próprio princípio formal de cognoscibilidade, porque o intuitivo e o abstractivo nas apercepções não, são originados dos próprios meios, ou objectos motivos, ou prin cípios especificantes, nem da diversidade na imaterialidade que é raiz da cognição, nem da diversa razão formal de representar «que» ou «sob a qual». Logo, não importam razões especificamente distinguintes a partir de si e por virtude das suas formalidades. A antecedente prova-se porque, como mostraremos no capítulo seguinte, presença e ausência não pertencem especialmente ao intuitivo e abstractivo como tipos de coisas representadas, com o se fossem tipos de essências, mas apenas segundo afectam e modificam o objecto em si e tomam esse objecto coexistente com a cognição ou não coexistente com ela. O que é manifestamente patente, porque a espécie representando a própria presença objectivamente como uma coisa representada pode ser encontrada numa apercepção abstractiva, com o quando conheço que Deus está presente a mim, ou que a alma ou o intelecto está presente ao corpo, ou quando tratamos da sua presença; e contudo não vemos nem a alma nem Deus intuitivamente. E algo semelhante sucede com as espécies dos 2 44
anjos, que representam as coisas e a existência e a presença antes que elas existam, e contudo os anjos não vêem as coisas in tuitivamente, excepto quando são em si em acto. Logo, a presença ou ausência como coisas representadas, por si e directamente não distinguem o intuitivo e o abstractivo, mas a presença enquanto representada pode ser encontrada numa cognição abstractiva. Todavia a presença ou ausência apenas variam intrinsecamente a ordem do cognoscível com o representadas e cognoscíveis por si, ou enquanto objecto por si, não como modificação e acessório de outro objecto, como mostraremos. Logo, a própria razão formal de uma intuição não é uma diferença essencial na ordem do cognoscível. E isto é confirmado porque presença e ausência constituem o intuitivo e o abstractivo enquanto o intuitivo e o abstractivo funcionam como m odo da coisa cognoscível ou representada, para que a própria presença não tenha a razão do objecto primeiramente e essencialmente representado, mas apenas modifique o objecto representado, para que aquela presença faça a cognição ser terminada para o objecto, enquanto esse objecto está presente, isto é, enquanto é tomado coexistente com a potência cognoscente, não enquanto a presença é ela própria uma coisa representada. Pois assim, com o dissemos, a existência da coisa em si pode ser atingida mesmo através de uma cognição abstractiva, porque é representada ao modo de uma essência, que é própria da cognição abstractiva. Logo, a presença só pertence •ao intuitivo enquanto é modificativa do objecto, não enquanto constitutiva do objecto. Logo, por si não é diferença essencial, porque não se tem da parte d o princípio especificante, que é objecto ou razão do representável, como razão -que» ou «sob a qual», mas supõe o objecto principal representado, do qual ela própria é o modo. Pois a presença modifica a terminação do objecto principal, não constitui a razão motiva, enquanto aquela presença coexiste terminativamente ou da parte do termo, modificação que no seu todo só acidentalmente varia a cognição, assim com o na visão a modificação de um sen sível comum para um sensível próprio, de forma que uma coisa branca, seja vista com ou sem m ovim ento, nesta ou naquela posição, não varia a visão essencialmente porque não se tem da parte do objecto essencial e formalmente, mas tem-se acidental mente da parte do objecto, e da mesma forma funciona a respeito da apercepção a modificação da terminação através da presença ou ausência. Disto segue-se que se as apercepções diferem porque uma diz respeito à presença como directamente representada e conhecida, e a outra não, tais apercepções poderíam diferir essencialmente, devido ao diverso objecto no ser do objecto representável, mas não diferiríam
2
45
apenas na razão do intuitivo e do abstractivo, mas na razão de objectos diversos ao m odo da essência e da coisa representada. A segunda parte da conclusão, ou seja que por razão de alguma coisa contingente à natureza de uma apercepção intuitiva ou abstractiva o intuitivo ou o abstractivo podiam importar uma diferença em tipo, é manifestamente verdadeira, porque o intuitivo e o abstractivo podem algumas vezes ser encontrados em cognições de outro m odo distintas em tipo, já que ou representam diversos objectos, ou representam sob diversos meios e luzes especificantes, com o é patente na diferença entre a visão intuitiva de Deus em si e a apercepção abstractiva d ’Ele através da fé, ou na diferença entre uma cognição intuitiva de Pedro e uma cognição abstractiva de um cavalo. Mas estas diversidades essenciais não são tomadas formalmente e precisamente da própria razão do intuitivo e do abstractivo, mas de outras razões formais que na ordem do cognoscível especificam estas cognições. A natureza do intuitivo ou do abstractivo é acrescentada a estas outras razões especificantes com o uma razão acidental acompanhante, não com o uma razão constitutiva. Mas inquires se estas razões do intuitivo e do abstractivo, dado que por si não são diferenças essenciais da apercepção, são contudo modos intrínsecos à própria cognição, para que realmente modifiquem a cognição; ou se são apenas denominações extrínsecas originadas por uma coexistência física; ou, finalmente, o que são. A resposta é julgarem alguns que o intuitivo e o abstractivo con sistem apenas na denominação extrínseca, enquanto o objecto é dito ser presente ou coexistente com a própria cognição, ou não coexistente. E esta opinião pode ser fundamentada pelos exemplos de verdade e de falsidade; pois a mesma cognição é dita de um m odo ser verdadeira, de outro m odo falsa, a partir da mera de nominação extrínseca de que um objecto existe ou não existe em si. Logo, sem elhantemente, uma ve z que o intuitivo exprim e a coexistência física do objecto, e o abstractivo nega essa coexistência, é apenas pela denominação extrínseca de tal coexistência ou não coexistência que uma apercepção é dita ser intuitiva ou abstractiva. E em Deus parece que isto deve ser asseverado sem qualquer dúvida, porque uma cognição numericamente a mesma que é intelecção simples a respeito dos possíveis, é tornada intuitiva pela mera de nominação extrínseca, porque a própria coisa passa de possível para futura ou existente, passagem que nada põe no próprio conhecimento divino excepto uma denominação extrínseca; assim com o também o facto de o conhecimento divino ser um conhecimento de aprovação, nada mais é que uma denominação extrínseca no conhecimento divino. Todavia S. Tomás em D e Yeritate, q. 3, art. 3, resp. obj. 8,
246
equipara o conhecimento da visão com o conhecimento da aprovação quanto a isto, que é acrescentar alguma coisa fora da ordem da apercepção. Esta opinião é provável. Contudo parece mais provável que o intuitivo e o abstractivo sejam alguma coisa intrínseca à própria apercepção a partir da sua ordem. E assim, quando a apercepção criada passa de intuitiva para abstractiva, e vice-versa, é realmente modificada. A razão disto é que a intuição importa a coexistência da presença física do objecto com a apercepção, não de qualquer modo, mas com o atenção e tendência da própria cognição determinada para tal coisa enquanto coexistente e modificante do objecto. Mas a diversa terminação da cognição mediante a atenção para a coisa coexistente põe alguma mutação intrínseca na própria cognição; com efeito, uma apercepção abstractiva não tem tal atenção e terminação para a coexistência da presença. Nisto reside a diferença entre a verdade ou falsidade da cognição e a natureza do intuitivo e do abstractivo, porque a verdade assim consiste na conformidade para ser ou não ser da coisa, mesmo se não se atende ao ser ou não ser da coisa,contudo se uma única vez profere um juízo sobre a coisa não existente no m odo em que foi julgada existir, por este próprio facto a cognição perde a verdade, e quando a coisa existe do m odo como é julgada existir, a cognição adquire verdade sem que nenhuma outra mutação •intervenha intrinsecamente na cognição. Mas para que alguém veja intuitivamente não basta, quando conhece alguma coisa, que essa coisa seja posta presente em si, mas é necessário que o sujeito que conhece atenda à sua presença como uma presença coexistindo consigo, e não precisamente enquanto presença representada; se tal tipo de atenção falta, a intuição é destruída, embora a coisa conhecida esteja presente em si, porque não está presente ao terminar a atenção e a apercepção; assim como Deus está presente em si à cognição que eu tenho dele próprio, e a alma e aquelas coisas que estão na alma estão presentes em si, e contudo eu não as vejo intuitivamente. Logo, uma atenção diversa de tal terminação do objecto como presente e coexistente é uma razão intrínseca na cognição, e todavia não varia essencialmente essa cognição, porque é uma modificação acidental ao próprio objecto, assim como a modificação de um sensível comum a respeito de um sensível próprio é uma modificação acidental ao objecto, pois não varia as cognições essencialmente, embora exija uma diversa atenção e terminação. Assim a presença, enquanto coexistente, modifica o objecto por si, não distingue essencialmente um objecto, e todavia, devido à diversa atenção, pertence intrinse camente ao acto de conhecer. 247
Mas para o que é objectado sobre a cognição intuitiva de Deus, a resposta é que assim com o o mesmo acto da vontade de Deus, devido à sua eminência, é necessário e livre através da sua perfeição intrínseca, embora conote alguma relação de razão ou denominação extrinseca a respeito do objecto, assim o mesmo conhecimento divino, devido à sua eminência, é intrinsecamente abstractivo e intuitivo e de aprovação, e simultaneamente também prático e especulativo, eficaz e ineficaz a respeito de diversos objectos, embora conote alguma relação de razão ou denominação extrinseca a respeito do objecto. O conhecimento divino, contudo, não consiste formalmente nesta relação de razão ou denominação extrinseca, mas sem essa relação não é denominado intuitivo nem acto da divina vontade livre. Ora o que um acto tem em Deus eminentemente, muitos actos têm em nós devido à sua limitação.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
O primeiro argumento é tomado da doutrina de S. Tomás na Suma Teológica, ft t , q. 67, art. 5, onde diz que uma cognição da fé não pode permanecer numericamente a mesma no céu porque •removida a diferença de alguma espécie, a substância do gênero não permanece numericamente a mesma» e assim «o conhecimento que primeiramente foi enigmático e que se tornou depois visão clara não pode ser numericamente o mesmo». A partir disto é formado o argumento: S. Tomás nega que uma apercepção numericamente a mesma que era enigmática, possa ser uma visão clara, pois quando a diferença de alguma espécie é removida, a substância do gênero não permanece numericamente a mesma. Logo, S. Tomás supõe que visão clara é uma diferença específica da apercepção, de outro m odo nada seria concluído de tal raciocínio, porque se a razão da intuição ou visão acrescenta apenas uma diferença acidental, quando essa diferença é removida a totalidade da substância dessa cognição pode permanecer. E isto é confirmado porque a apercepção intuitiva e a apercepção abstractiva são opostas formalmente e expelem-se uma à outra formalmente do sujeito. Com efeito, são opostas segundo o claro e o obscuro acerca da presença da coisa, porque o intuitivo implica intrinsecamente evidência e certeza da presença da coisa, o que o abstractivo não importa. E em razão desta evidência e certeza uma apercepção intuitiva exclui a apercepção abstractiva; com efeito, elas não são opostas num sujeito apenas com o dois acidentes da mesma espécie, de outro m odo as apercepções intuitiva e abstractiva não
248
seriam mais opostas que duas apercepções intuitivas ou duas apercepções abstractivas entre si. Donde também a fé não é oposta à visão da Glória de outro m odo que porque é abstractiva, enquanto a visão da Glória é intuitiva. A resposta a isto é que S. Tomás falava acerca da visão clara e da cognição enigmática que são iniciadas de diversos meios e não incluem apenas o m odo do intuitivo ou do abstractivo. Mas já dissemos acima que o intuitivo e o abstractivo, embora não sejam diferenças essenciais da cognição, podem contudo ser consequência e pressupor cognições especificamente distintas, às quais são conjuntos quando encontrados nas cognições constituídas através de diversos meios ou luzes ou através de diversas representações. Mas, que uma cognição enigmática e uma visão clara difiram segundo meios diversos, S. Tomás explica melhor no seu comentário à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap. xin, lect. 4. Para confirmação, a resposta é que o intuitivo e o abstractivo nem sempre diferem segundo uma evidência ou não evidência essencial à própria cognição, diferença essa que é derivada da própria razão formal do meio pelo qual é constituída a razão específica da cognição. Com efeito, pode dar-se uma apercepção abstractiva que também é evidente acerca de todos aqueles objectos que a apercepção intuitiva representa, embora essa apercepção intuitiva não tenha a evidência da própria presença enquanto coexistente com a apercepção. Mas . esta evidência não distingue essencialmente uma apercepção de outra, porque não se tem da parte de uma razão formal especificante, mas da parte da coexistência e aplicação do objecto. Donde S. Tomás diz, no seu C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 14, q. 1, art. 2, quaestiunc. 3, que -a claridade da visão resulta de três coisas, ou seja, da eficácia da virtude cognitiva, assim, por exemplo, aquele que é de visão mais forte conhece mais claramente do que aquele que é de visão débil; ou da eficácia da luz, como alguém vê mais claramente ao sol do que à luz da lua; ou, finalmente, da conjunção ou aplicação do objecto, assim como coisas próximas são vistas mais claramente do que coisas afastadas-. Logo, a evidência de uma apercepção intuitiva a partir da energia precisa e formal da intuição provém dessa apercepção apenas deste último modo. Mas é certo que tal claridade ou evidência é acidental e extrinseca, porque depende apenas da aplicação e da coexistência da presença mais ou menos próxima. Quanto ao que foi dito sobre a oposição d o intuitivo e do abstractivo num mesmo sujeito, a resposta é que eles se opõem entre si formalmente por uma formalidade acidental à própria apercepção, mas essencial à própria razão da intuição; assim com o
249
não é essencial para uma linha ser terminada ou não ser terminada por um ponto, e contudo uma linha não p o d e ter ambos simultaneamente. E a mesma cognição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, devido a terminações opostas relativamente aos objectos, e contudo verdade e falsidade pertencem à cognição acidentalmente. Mas a fé e a visão de Deus não só diferem segundo o intuitivo e o abstractivo, mas também segundo diversos meios, porque a fé é iniciada pelo testemunho do que fala, e a visão pela representação da própria coisa em si. D o mesmo m odo a visão da divina essência em S. Paulo, e a recordação pela qual ele recordava que a tinha visto, diferiam não apenas segundo o abstractivo e o intuitivo, mas segundo diversos meios de representação, porque ele viu Deus imediatamente em Si através da Sua representação, mas recordou-se de que tinha visto Deus através de uma espécie criada representando imediatamente algum efeito criado, ou seja a visão quanto ao ter ocorrido de facto. Argumenta-se em segundo lugar: o intuitivo e o abstractivo diferem segundo diversos objectos formais e segundo diversas coisas representadas; logo, importam diferenças essenciais na ordem da cognição. A consequência é patente porque não existe nenhum princípio para distinguir cognições essencialmente, excepto segundo diferentes objectos formais, e as representações são distinguidas segundo as diversas coisas representadas. A antecedente prova-se porque o in tuitivo com o intuitivo diz respeito ao objecto como presente a si próprio formalmente, e segundo esta formalidade difere do abstractivo. E na apercepçâo intuitiva é representada a própria presença da coisa, uma vez que é conhecida e atingida como uma coisa conhecida. Nem basta que a presença exista no próprio objecto, a não ser que essa presença também seja representada na cognição, com o é claro no caso de alguém que não atenta numa coisa que passa à sua frente e de outros exemplos trazidos mais atrás. Logo, o intuitivo não implica a presença da coisa com o puramente entitativa e fisicamente independente da ordem da apercepçâo, mas com o representada e atingida cognoscivelmente. Se fosse dito que aquela presença é representada em exercício e não enquanto coisa directamente representada, quanto a isto existem duas instâncias; a primeira sucede no caso dos nomes e dos verbos que, com o dissemos na questão 2 das Súmulas, art. 3, tem nas suas formas flexionadas conceitos fisicamente, embora não categorematicamente, distintos dos conceitos das suas formas não flexionadas, e contudo não diferem segundo as diversas coisas representadas, mas segundo as diversas conotações exercidas da mesma coisa
250
representada. A segunda instância está na razão formal >sob a qual», pela qual é distinguida essencialmente uma cognição de outra, e contudo não é representada nem atingida pela cognição directa, pois assim seria razão «que» e não «sob a qual». Isto confirma-se, porque o presente e o ausente distinguem essen cialmente actos apetitivos, logo, também distinguem actos de cognição. A consequência é patente da paridade da razão no bom e no verdadeiro em relação ao presente e ausente. Mas a antecedente prova-se, porque o temor e a tristeza diferem apenas por razão de um mal ausente ou presente, assim com o a esperança e a alegria diferem apenas por razão de um bem ausente ou presente. Logo, a presença e a ausência apenas especificamente diversificam actos de apetite e cognição. A resposta ao argumento principal é que o intuitivo e o abstractivo não diferem segundo diversos objectos formais no ser e formalidade de algo cognoscível, mas no ser e formalidade de alguma condição e m odo acidental. E uma coisa é que seja formal e essencial ao próprio intuitivo, outra que seja formal e essencial à própria cognição, assim como é essencial ao branco que diferencie a visão em contraste com o negro, e contudo não é essencial que o homem seja branco; e semelhantemente, um objecto como presente ou ausente, quanto à coexistência com a própria cognição e aplicação do objecto, é essencial ao próprio intuitivo e ao próprio abstractivo, e contudo •não é essencial à própria cognição. E assim o intuitivo e o abstractivo diferem entre si essencialmente e por definição, assim como sucede com o branco e o negro, mas estas diferenças são acidentais à própria cognição porque, como foi dito, não dizem respeito ao presente e ao ausente enquanto estes fundam a cognoscibilidade e imaterialidades diversas, mas enquanto fundam a aplicação do objecto à coexistência física ao terminar a cognição. E quanto ao que foi dito acerca das diversas representações, res ponde-se que o intuitivo e o abstractivo formalmente e por virtude deles próprios não diferem segundo as diversas coisas representadas. Com efeito, pode também a apercepçâo abstractiva representar a presença da parte da coisa representada; assim como, por exemplo, eu agora penso que Deus está presente a mim, e con h eço evidentemente através dos efeitos que a minha alma me está presente, e contudo não vejo Deus nem a alma intuitivamente. Donde estas representações não diferem segundo as diversas coisas representadas, nem segundo uma conotação ou hábito relativamente a distintas coisas representadas ou segundo distintas razões «sob as quais» essencial mente conduzindo para a representação, mas apenas segundo a diversa terminação para a presença do objecto com o coexistente 251
com a própria cognição, com o já foi dito. Donde nem toda a variação na representação é variação essencial, excepto se reduzida a diversas razões «qual» ou «sob a qual» da própria representação. Assim como também na visão exterior não é qualquer mutação que varia essencialmente a visão — por exemplo se só é feita a variação segundo um sensível comum diverso, como quando o branco é visto com movimento ou sem movimento, com esta ou aquela posição ou figura — mutações estas que não variam essencialmente a própria visão, mas acidentalmente, como dissemos. Acerca disto veja-se Banez no seu Com entário à Sum a Teológica de S. Tomás, I, q. 78, art. 3, n. 8. Assim, também a presença ou ausência não variam essencialmente a cognição enquanto implicam diversas terminações da cognição para a presença do objecto com o coexistindo com a cognição. Mas se presença e ausência também funcionam com o coisas representadas, podem deste m odo variar apercepções enquanto seus objectos diversos, mas não quando apenas fazem as vezes de condição pertencente à coexistência da presença de um objecto com a apercepção. A partir disto também se toma clara a resposta às duas instâncias aduzidas acima. Pois nos diversos casos de nomes distinguindo conceitos essencialmente, isto sucede porque trazem ao objecto algum hábito e conotação diversos relativamente à coisa representada, como, por exemplo para a coisa ao modo de um agente ou de algo possuído, que é ser representado ao m odo «de que» ou «do qual» ou «para o qual», hábitos que são inteleccionados para afectar a própria coisa representada e para serem fundados nela, e que são a fo rtio ri diversas razões «sob a qual». Mas o intuitivo e o abstractivo segundo a sua precisa formalidade não exprimem a própria presença ou ausência enquanto coisas representáveis; pois deste modo, com o já dissemos, a presença da coisa pode ser a coisa representada através de uma cognição abstractiva, como quando conheço abstractivamente que Deus está presente. Mas se alguma cognição abstractiva não representa a presença como coisa representada, enquanto uma cognição intuitiva o faz, então tais representações difeririam essencialmente não em virtude do intuitivo e do abstractivo precisamente, mas devido à razão geral de representarem diversos objectos. Logo, estando na precisa formalidade do intuitivo e do abstractivo, que não postulam diversas coisas representadas nem diversos hábitos ou conotações fundados na própria coisa representada, mas diversas terminações e aplicações do objecto segundo a coexistência com a apercepção, por esta razão os conceitos não variam essencialmente, assim como não varia uma coisa branca quando é vista com movimento ou sem movimento, ou não varia a cognição quando é tornada ver
252
dadeira ou falsa a partir da coexistência relativamente ao ser de uma coisa. Para confirmação, a resposta é que existem diversas razões nos actos do apetite e nos actos da cognição, porque o apetite é feito no bom ou mau, mas a razão do bom ou do mau é variada essencialmente segundo diversas conveniências ou inconveniências. Mas conveniência ou inconveniência dependem mais do que qualquer outra coisa da presença ou ausência da coisa, porque um objecto presente satisfaz o apetite, mas um objecto ausente estimula-o e fá-lo mover, pelo facto de que o apetite funciona ao m odo de uma inclinação e de um peso. Mas o peso comporta-se de uma maneira quando está ao centro, e de outra maneira quando está fora d o centro, e por esta razão a presença ou a ausência de um objecto que funciona ao m odo de uma inclinação conta muito para variar a razão formal d o objecto. Mas com o a cognição é aperfeiçoada no interior da própria potência trazendo as coisas para si, sempre é aperfeiçoada pela presença daquelas coisas no ser do cognoscível e do intencional. Donde, excepto tal presença seja variada, não é feita a variação na razão essencial da cognição, e assim isto, que resta da presença física do objecto, seja coexistente ou não coexistente com a apercepção, está fora da ordem de tal apercepção e é considerado por acidente, porque já não pertence à presença intencional. Por último argumenta-se, porque o intuitivo e o abstractivo, se não variam essencialmente a apercepção, mas acidentalmente, ou são denominações extrínsecas ou intrínsecas. Não são denominações extrínsecas, pois se o fossem, uma apercepção numericamenté mesma podería ser de um m odo intuitiva, de outro m odo abstractiva, assim cómo a mesma cognição pode ser verdadeira ou falsa. E se a presença e ausência são comparadas a respeito da apercepção intuitiva e abstractiva, com o o é um sensível comum a respeito da visão, é claro que não podem ser relacionadas por denominações extrínsecas; pois a tendência para um sensível comum não é uma denominação extrínseca na visão. Mas se o intuitivo e o abstractivo são modos intrínsecos, não podem ser outra coisa senão tendência e ordem para o objecto, o que essencialmente varia a cognição. Nem pode ser inteleccionado como estes modos intrínsecos variariam o conceito acidentalmente, e não variariam a própria representação na ordem para a coisa representada. Antes não é dada a divisão da cognição segundo modos intrínsecos, excepto se também for uma divisão essencial, assim como a distinção segundo o que é claro e o obscuro essencialmente varia a cognição, embora a obscuridade não seja uma razão formal, mas um m odo intrínseco da cognição. 253
Finalmente, podem ser aduzidos alguns exemplos que parecem provar que esta distinção é essencial, assim com o o prático e o especulativo são diferenças essenciais, exprimindo o prático, contudo, uma ordem para o trabalho que está fora da razão. E o bom e o mau são diferenças essenciais dos actos humanos, e contudo o mau pode ser derivado de alguma circunstância intrínseca. A resposta a isto é que o intuitivo e o abstractivo são modos acidentais, que redutivamente pertencem à ordem da cognição como modos, não com o espécies essenciais; e com o dissemos, é mais provável que sejam modos intrínsecos. E quando é dito que são a própria ordem ou tendência para o objecto, dizemos que formalmente e directamente eles não são a própria ordem para o objecto na razão •do objecto representado, mas modificações desta ordem, enquanto fazem a apercepçâo tender para o objecto não apenas com o representado, mas com o coexistindo com a apercepçâo, para que a razão para o objecto com o representado e conhecido formalmente constitua a especificação, mas a razão d o ser para o objecto assim representado como coexistindo com a apercepçâo é um respeito modificante. Todavia, quando comparamos a razão do intuitivo com a ordem e relação para um sensível comum, o exem plo tem-se nisto, que um sensível comum não é alguma coisa prim eiram ente representada, mas é representada com o modificando a cor por uma modificação que está acidentalmente para a visibilidade. Assim a presença no conhecimento intuitivo não funciona com o a coisa directamente representada, pois então podería ser representada numa apercepçâo abstractiva, mas funciona com o modificando o objecto representado por uma modificação acidental, com o foi dito; contudo, da parte da coexistência, o exem plo de um sensível não se mantém. E quando é dito que a divisão segundo os modos intrínsecos é também uma divisão essencial, a resposta é que os modos podem ser ditos intrínsecos, seja porque modificam a própria razão formal constitutiva e assim são intrínsecos à própria constituição; ou podem ser ditos intrínsecos porque não denominam extrinsecamente, embora não modifiquem a constituição intrinsecamente. E a divisão em termos de modos do primeiro gênero é também essencial, porque um m odo não pode ser variado sem que varie a constituição dependente do seu ser variado; mas a divisão em termos de modos do segundo gênero é uma divisão acidental, com o foi dito. Para exemplos, responde-se que o prático e o especulativo diferem essencialmente, porque a relação para um trabalho externo é originada a partir de princípios e meios de conhecer diferentes da razão formal do especulativo. Essa diferença não origina apenas a diversa aplicação e coexistência do objecto como sucede com o intuitivo e o abstractivo,
254
mas diversos princípios formais de conhecer um objecto de m odo sintético e resolutivo. E para o que é dito sobre a diferença entre o mal moral e o bem moral, a resposta é que existe uma diferença essencial a respeito de um acto considerado no interior da ordem do costume, contudo a espécie essencial ou o tipo de um acto moral mau não são derivados da circunstância, a não ser que a própria circunstância passe para condição principal do objecto, com o é dito na Sum a Teológica, I-II, q. 18, art. 10. Mas o intuitivo e o abstractivo sâo sempre circunstâncias da cogniçâo, porque pertencem àquela coexistência.
255
Capítulo n
SE PODE SER DADA UMA COGNIÇÃO INTUITIVA DA COISA FISICAMENTE AUSENTE, SEJA NO INTELECTO SEJA NO SENTIDO EXTERNO
Para explicar exactamente a natureza do intuitivo e do abstractivò é necessário ver as diferenças que lhes pertencem formalmente entre si. Existem habitualmente quatro diferenças enumeráveis. A p rim eira é da parte da causa, porque a apercepção intuitiva é produzida pela presença do objecto, enquanto a apercepção abstractiva é produzida pelas espécies deixadas para trás pelos objectos que já não estão presentes. A segunda é da parte do efeito, porque a apercepção intuitiva é mais clara, e, logo, mais certa que a apercepção abstractiva. A terceira é do ponto de vista da ordem, porque a apercepção intuitiva ê anterior à apercepção abstractiva. Com efeito, toda a nossa cogniçâo nasce de algum sentido externo mediante uma cogniçâo intuitiva. A quarta é da parte do sujeito, porque a apercepção intuitiva pode ser encontrada em todas as potências cognitivas, sejam sensitivas, sejam intelectivas, mas a apercepção abstractiva não p od e ser encontrada nos sentidos externos. Ora estas quatro diferenças supõem uma diferença principal, que é derivada da coisa atingida e é explicitamente dada nas definições destes tipos de apercepção, nomeadamente que a apercepção intuitiva é de uma coisa presente, enquanto a abstractiva é de uma coisa ausente. E certamente as primeiras três diferenças não são tão in trínsecas que não possam algumas vezes faltar a estas apercepções, em bora sejam diferenças muitas vezes encontradas na nossa experiência. Pois a espécie representando abstractivamente alguma 256
coisa ou essência, incluindo mesmo a presença da coisa ao modo de uma essência, pode ser infundida por Deus antes que alguma coisa seja representada intuitivamente; nem pode alguém atribuir menos claridade e certeza às apercepções abstractivas do que às apercepções intuitivas, assim como o próprio Deus não conhece as coisas possíveis com menos claridade que as coisas futuras. Donde as principais diferenças são reduzidas a estas duas: no meadamente, da parte do objecto, que a apercepção intuitiva versa acerca da presença da coisa; e da parte do sujeito, isto é, das potências cognitivas, nas quais tais apercepções podem ser obtidas. Acerca disto levanta-se uma questão sobre os sentidos externos: saber se uma apercepção abstractiva pode ocorrer neles. Acerca da primeira destas duas diferenças há muitos que julgam que para a apercepção intuitiva basta a presença da coisa objectiva, mas que não é requerida a presença da coisa física, isto é, basta que a presença seja conhecida, mas não é requerido que seja coexistente com a própria apercepção. Disto se segue que pode essenciaimente ser dada uma apercepção intuitiva da coisa fisicamente ausente. E acerca da segunda, alguns julgam que é possível, pela potência de Deus, que a coisa física ausente seja atingida pelo sentido externo, se essa coisa é representada como presente. Acerca disto vejam-se os Conimbricenses no seu comentário ao D e A n im a aristotélico, cap. m, q. 3, art. 1 e 2. Brevemente contudo (pois este assunto pertence mais aos livros D e A n im a ), a resposta a estas opiniões é dupla: A primeira: A co g n içâ o in tu itiv a n ã o só p ed e a p re s e n ça o b je ctiv a d o seu objecto, m as tam bém fís ic a , e assim n ã o é d a d a n en h u m a in tu iç ã o d o passado e do fu tu ro , excepto se f o r re d u zid o a a lg u m a m edida n a q u a l esteja presente. Esta conclusão é com um m ente deduzida da doutrina d e S. Tom ás na Sum a Teológica, I, q. 14, art. 13. E ao comentar esta passagem, aqueles que aprenderam com S. Tomás, para porem em Deus a visão dos eventos futuros, geralmente dizem que as coisas futuras devem estar fisicamente presentes na eternidade, pois d o futuro com o futuro não p od e ser dada alguma visão. E certamente o argumento de S. Tom ás naquele artigo necessariamente requer a presença física do futuro na eternidade. Pois S. Tomás prova qu e Deus con h ece todas as coisas futuras com o presentes, porque não as conhece nas suas causas, mas em si próprias, segundo cada uma delas está em acto em si própria, e porque a Sua cogniçâo é medida pela eternidade, mas a eternidade abrange a totalidade d o tempo, e assim todas as coisas que são no tempo são presentes a Deus pela eternidade. Este argumento, se é apenas sobre a presença objectiva, é completamente 17
257
ineficaz, porque provaria o mesmo através do mesmo, uma vez que como tenta provar que Deus vê as coisas futuras com o presentes em si próprias, o que é ter a sua presença na cogniçâo e objectivamente, provaria isto, que porque as coisas futuras estão presentes na eternidade objectivamente, estão presentes à cogniçâo, e assim provaria que são presentes objectivamente, porque estão presentes objectivamente. E o fundam ento da conclusão é tom ado disto, que todos concordam que uma apercepção intuitiva deve respeitar um objecto presente. Pois a visão deve atingir as coisas em si próprias, e segundo existem fora do sujeito que vê, já que uma visão intuitiva funciona como uma cogniçâo experimental, ou antes, é a experiência ela própria. Mas não se entende que seja dada experiência, excepto de uma coisa presente, pois de que m odo pode cair sob a experiência a ausente enquanto ausente? Mas disto, sobre a própria visão, que é conhecido por todos, deduz-se manifestamente que é requerida a presença física do objecto, nem pode ser entendido que baste a objectiva. Pois a presença da coisa pode ser conhecida apenas de duas maneiras, seja significada em acto, com o um tipo de essência, ou enquanto é exercida e afecta a própria coisa, tomando essa coisa presente em si. E o primeiro modo de conhecer serve abstractivamente para uma apercepção, porque é próprio de uma cogniçâo abstractiva considerar a coisa ao m odo de uma essência e natureza. Logo, considera a própria presença também com o uma coisa e com o um tipo de essência ou carácter definível, sendo uma cogniçâo abstractiva preservada mesmo a respeito de uma presença considerada enquanto é um tipo de coisa e com o um objecto de discurso. Isto é patente, por exemplo, quando intelecciono através do discurso ou através da fé que Deus está presente, e que a minha alma está presente em mim, e contudo eu não vejo Deus nem a alma intuitivamente. Mas é requerido para a razão do intuitivo o segundo m odo de presença cognoscente, ou seja, é requerido que alguma coisa seja atingida sob a própria presença, atingida enquanto é afectada pela própria presença e enquanto a presença é fisicamente exercida na própria coisa. Mas se a presença é atingida deste modo, não pode ser atingida tal como existe no interior das causas e ao m odo de alguma coisa futura, nem enquanto passou e teve o m odo de alguma coisa passada, porque nenhuma destas coisas é ver uma coisa em si própria, ou ser movido por ela ou ser atingido excepto segundo é em outro. Pois o futuro sob a razão do futuro não pode ser inteleccionado excepto nas causas na quais está contido. Com efeito, o futuro exprime essencialmente aquilo que não está ainda fora das suas causas, mas se encontra ainda no interior dessas causas, que
258
são, contudo, ordenadas para produzir a própria coisa. Logo, envol vería uma contradição conhecer alguma coisa enquanto futura, excepto como estando no interior das suas causas ou numa ordem para elas; pois por este próprio facto que é concebido em si e separado das causas, cessa de ser concebido como futuro. Semelhantemente, alguma coisa passada enquanto passada não pode ser concebida excepto segundo a razão de uma existência anterior. Logo, já não é concebida como em si, porque em si não tem entitatividade nem existência; logo, o passado é concebido como despojado de presença e existência. Donde não pode representar excepto mediante algum efeito ou traço de si deixado para trás, ou mediante a determinação de uma espécie para a existência que teve — a totalidade do que não é ver uma coisa em si própria segundo o ser que tem em si fora do sujeito que vê, mas segundo está contido em outro e exprime uma condição e hábito relativamente a outro. Logo, com o a visão intuitiva é feita na coisa presente, enquanto a presença afecta essa coisa em si, e não enquanto essa coisa é contida noutra ou enquanto a própria presença é conhecida como sendo um tipo de coisa e essência, a conclusão manifesta é a de que a intuição é feita a partir da presença física, enquanto fisicamente funciona da parte d o objecto, e não apenas enquanto está objectivamente presente à potência cognitiva. Com efeito, isto que é estar objectivamente presente, é preservado mesmo numa apercepção abstractiva, que pode conhecer a presença não enquanto pre sencialmente terminando a apercepção, mas enquanto contida ou deduzida de algum princípio, seja representada enquanto é -um tipo de essência, com o quando conhecemos abstractivamente que Deus está presente a nós. Isto é optimamente coligido por Caetano no seu C om entário à Suma Teológica, I, q. 14, art. 9, onde pôs duas condições para que aiguma coisa seja dita ser vista por si e imediatamente: Prim eiro, que esteja presencialmente objectifícada ao que vê, isto é, objectificada através da presença, e não enquanto contida noutro, mas enquanto afecta a própria coisa em si. Segundo, que a coisa vista tenha existência fora do sujeito que vê, uma condição que S. Tomás também tinha posto no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 14, citado acima. Por esta razão, não basta que o objecto de uma apercepção intuitiva tenha existência no interior d o sujeito que vê por m eio de uma representação intencional de si, mas deve também ter existência fora da pessoa que vê, o que é ser um objecto físico, para o qual a apercepção é terminada. Mas se perguntas: onde está a contradição em supor que Deus podería infundir na mente de alguém a representação de uma coisa
259
futura, com o por exem plo a do Anticristo, enquanto é em si futuro, e segundo uma existência distinta das causas, contudo com uma ordem e um hábito relativamente às causas, assim com o as próprias coisas existentes também exprimem um hábito relativamente às suas causas: a esta questào responderemos na solução d o primeiro contra-argumento abaixo. Segunda conclusão: É im possível qu e seja en con tra d a no sentido e x te rio r um a apercepção abstractiva, isto, é um a apercepção da coisa ausente. Tratamos desta conclusão nos livros D e A n im a , q. 6, art. 1, e os Conimbricenses mencionados acima concordam com ela, embora difiram enormemente na razão que dão, e julgam possível que uma coisa fisicamente ausente seja sentida desde que seja representada com o presente. Contudo, a nossa conclusão é a mais comum entre os autores, especialmente junto dos tomistas; e a opinião de S. Tom ás pode ser vista na Sum a Teológica, Dl, q. 76, art. 7, e no seu C om entário às Sentenças de P ed ro Lom bardo, IV, dist. 10, q. 1, art. 4, quaestiunc. 1. Será óbvio que a coisa ausente não pode ser vista, porque os sentidos externos devem receber espécies dos objectos. Mas se os objectos não são presentes aos próprios sentidos, não podem m ovê-los e. produzir espécies. Logo, ao menos para isto a presença física de um objecto é requerida. Depois, nos sentidos requerendo um contacto físico para produzir a sensação, com o é o caso do tacto e do gosto, é manifesto que a presença física d o objecto é essencialmente requerida, porque o contacto é requerido, pois é através desse contacto que a própria sensação é intrinsecam ente produzida. Mas o contacto requer essencialmente a presença dos contactantes, porque não p od e ser feito entre coisas distantes; logo, muito menos entre coisas ausentes, porque todo o ausente in re está distante. Mas se alguém toca, não a própria coisa, mas algo no lugar dessa coisa, então ele não é dito tocar aquela coisa, mas aquilo que é sub-roga d o em seu lugar, assim com o alguém que tem a língua infectada por um humor amargo prova esse humor antes d o sabor de outra coisa que lhe parece amarga: donde a amargura, que ele sente, está presente. Acerca d o resto dos sentido externos prova-se também: tanto a p o steriori, porque toda a cognição do sentido é experimental e indutiva, uma v e z que a certeza d o intelecto é ultimamente resolvida nessa cognição. Mas é impossível que seja feita uma experiência acerca da coisa ausente, porque, enquanto está ausente, necessita de outro m eio a partir d o qual a sua cognição seja recebida. Logo, al guma coisa lhe falta ainda para a experiência, porque a experiência
260
subsiste na própria coisa, segundo o que é em si; com efeito, assim, uma coisa é sujeita à experiência quando é atingida em si. Isto é também provado a p r io r i porque uma cognição exterior d o sentido deve necessariamente ser terminada para algum objecto, não com o representado no interior d o sentido, logo, com o situado fora dessa potência sensitiva. Mas aquilo que é posto fora d o sujeito que v ê tem uma existência física, ou, se não existe, por este próprio facto o sentido carecerá de um objecto terminante, e logo, não terá um objecto acerca d o qual verse, o que é uma contradição. A premissa m enor é provada p elo facto de que os sentidos externos não formam um ídolo, para que a cognição seja aperfeiçoada no interior do próprio sentido c o m o num term o intrínseco, com o será p rovad o mais largamente nos livros D e A n im a . A razão pela qual o sentido externo não forma a sua espécie final é que as coisas qu e são sentidas são sensíveis em acto último fora d o próprio sentido, assim com o a cor se torna ultimamente visível por m eio da luz, daí que o sentido não necessite de alguma espécie para que nessa espécie o objecto seja tom ado formado com o sensível em acto último. Nem, novamente, pertence aos sentidos externos a memória, que possam recordar-se de coisas ausentes, com o sucede com os sentidos internos; logo, não existe neles nenhuma razão para formar uma espécie expressa ou palavra. Portanto, neste princípio com o numa raiz, é fundada a .impossibilidade de conhecer uma coisa ausente através do sentido externo, para que o sentido não careça de um objecto terminante, supondo que um sentido externo não forma no interior de si a espécie na qual a cognição é terminada. Mas se o objecto existe em alguma coisa produzida por si com o numa imagem ou efeito, não será visto imediatamente, mas com o contido na imagem, enquanto é a própria imagem que é vista.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Argumenta-se em primeiro lugar: uma apercepção intuitiva p od e salvar-se sem a presença física do objecto, mas apenas com a presença objectiva; logo, a presença física não é requerida para que seja dada uma apercepção intuitiva. A antecedente é provada por muitos exemplos: primeiro, porque Deus p od e produzir uma espécie representando alguma coisa futura, por exem plo o Anticristo tal com o ele é em si, e com tanta evidência e certeza com o se ele estivesse presente. Na verdade é provável que Cristo Nosso Senhor visse intuitivamente coisas futuras através d e
261
um conhecimento infundido. Logo, p od e ser dada uma cognição in tuitiva que ‘represente alguma coisa ausente. A antecedente prova-se porque o facto de tal coisa futura ser representada não en volve em si uma contradição maior d o que uma coisa passada ser representada, sendo contudo dada uma espécie propriamente representativa da coisa passada. Depois porque aquela espécie que o Anticristo emite a partir de si quando for presente pode ser produzida por Deus independentemente d o Anticristo; logo, então o Anticristo será representado intuitivamente antes que exista em si. E o m esm o argumento se mantém acerca das espécies dos anjos, que são infundidas neles antes de as coisas serem produzidas, e representam as coisas sem nenhuma variação intrínseca, quer as coisas existam, quer não; logo, as espécies representam sempre in tuitivamente. Pois uma apercepção intuitiva é ou a mesma cognição que uma apercepção abstractiva, ou uma cognição diferente. Se é a mesma, já será dada uma apercepção intuitiva de uma coisa ausente, porque a mesma apercepção continua quando a coisa está presente e quando está ausente. Se é diferente, então a representação num anjo é variada quando v ê a coisa intuitiva e abstractivamente, enquanto a espécie é, apesar de tudo, inteiramente a mesma. O segundo exem plo está em Deus, que v ê as coisas futuras intuitivamente, antes que elas existam em si próprias; de outro m odo a sua apercepção dependería, para que fosse intuitiva, da presença física da coisa. N em p od e ser dito que as coisas futuras são presentes fisicamente na eternidade. Tanto porque isto não é certo, e o oposto é mais provável; com o porque mesmo se coisas futuras não existirem na eternidade, elas serão ainda vistas p o r Deus intuitivamente. E ainda porque as coisas futuras existem na eternidade com o numa causa, da qual depende a sua duração no tempo, pois elas existem num acto estranho de ser e numa medida estranha. Logo, para uma apercepção da coisa ser intuitiva, a existência física da coisa em si não é requerida, mas uma existência em outra basta. Finalmente, p orqu e as coisas existindo apenas condicionalm ente são vistas intuitivamente, com o não são atingidas por uma intelecção simples, e contudo não têm presença em acto, nem em si, nem na eternidade, mas teriam essa presença se a condição fosse preenchida. Logo, uma apercepção intuitiva não requer a presença actual da coisa em si. O último exem plo pode ser visto no nosso próprio intelecto, que conhece as coisas intuitivamente, e contudo não tem a espécie representativa da coisa singular, e consequentemente não tem a espécie da presença enquanto coexistente, a qual apenas convém à coisa singular. Logo, uma cognição intuitiva não requer que a presença física seja atingida.
262
Respondemos que nestes exem plos são tocadas muitas coisas que pertencem às matérias teológicas, e por essa razão não podem os tratá-las muito longamente. Brevemente, contudo, responde-se ao primeiro exem plo que não pode ser dada uma espécie da coisa futura que represente essa coisa com o é em si, se a qualificação «em si* expressa a coexistência da própria presença e a terminação da cognição por essa própria presença imediatamente, contudo pode bem existir uma espécie qu e represente a coisa futura com o é em si, se a qualificação «em si* expressar a própria essência da coisa futura com o pertencendo ao m otivo e especificativo da cognição. Logo, a própria essência d e uma coisa futura p od e ser representada, quanto à sua substância e acidentes, ao m odo de uma essência, e isto com maior certeza e evidência do que se fosse vista intuitivamente, porque a evidência e a certeza são derivadas d o lado da luz e d o m eio pelo qual a cognição é feita, não da parte da terminação. D onde o fiel está mais certo d o mistério da Encarnação d o que eu estou deste papel que vejo. Mais ainda, da parte d o m odo de terminar nunca p od e o futuro ou o passado ser conhecido segundo a presença, com o é em si, mas com o é em outro, seja porque é representado nalguma coisa semelhante, seja na imagem formada dessa coisa futura, ou em alguma causa na qual está contida uma dada coisa futura, ou nalguma revelação e teste munho de um falante, ou em alguma outra coisa semelhante. Logo, este m odo da cognição, que é terminar tal cognição pela própria presença da coisa, nunca é encontrado excepto numa cognição intuitiva, não importa quão abstractiva e clara seja da parte d o m eio e da luz, que fazem a cognição. D onde aparece a resposta para as provas aduzidas em apoio d o nosso exem plo. Pois dizem os que de uma coisa passada p od e ser dada uma representação própria da coisa em si, porque ela já se mostrou a si própria, e assim p od e terminar a representação de si; mas não p od e terminar através de si própria tal com o é requerido para uma apercepção intuitiva, mas em algo produzido por si, com o dissemos acima. Para segunda prova diz-se que a espécie p od e ser produzida por Deus, assim com o seria produzida pelo Anticristo quanto ao ser entitativo da espécie, mas não podería ter o m esm o exercício de representar o Anticristo com o se fora presente, tal com o é requerido para uma intuição, especialmente da parte da terminação pela presença de si. Assim a cognição apenas poderia ser terminada para a coisa futura tal com o é em outro e mediante outro. E por esta razão é impossível que a cognição tida por tal espécie da coisa enquanto futura, se fosse tomada presente e feita intuitivamente, não fosse 263
variada intrinsecamente, devido à diferença entre a terminação para uma coisa em si ou em outro, e à diferença na atenção que tal diferença na terminação exige. Donde no sentido externo não poderia ser posta uma espécie ímediatamente representando o Anticristo como coisa futura. E semelhantemente, para prova acerca das espécies dos anjos, diz-se que eles não podem representar coisas futuras por uma terminação para essas coisas em si, mas enquanto contidas nas suas causas. Mas então as coisas futuras terão primeiro começado a ser representadas em si próprias, quando existem em si, e cessam de ser futuras, o que não requer um acto de representação distinto da parte da espécie quanto à razão de representar e à coisa representada, mas quanto ao m odo de terminar deste objecto, em cuja terminação a semelhança da espécie é extrinsecamente completada, com o diz S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 57, art. 3, e q. 64, art. 1, resp. obj. 5- Logo, se as coisas futuras estão contidas nas causas contingente mente, um anjo não pode, não importa quanto possa compreender a sua espécie, conhecer essas coisas com o determinadamente existentes, mas apenas indeterminadamente, porque elas não estão de outro modo contidas na causa representada nessa espécie, embora o anjo pudesse conhecer propriamente a sua essência. Mas deste facto, que a cognição de um anjo é variada quando é tomada intuitiva, não se segue que a sua espécie impressa seja variada essencialmente, mas apenas a terminação da coisa representada; com efeito, a espécie que representa a coisa e a presença também coexiste com a coisa presente. Para o segundo exemplo a resposta é que esta opinião acerca da presença física requerida por uma intuição não pode ser sustentada, a não ser que as coisas futuras sejam postas com o fisicamente coexistindo na eternidade, em cuja medida podem as coisas coexistir fisicamente com a cognição divina antes que existam numa medida própria, e assim, por esta razão, supomos ser esta a opinião mais certa, podendo ser vista a explicação de tal opinião nos intérpretes da Sum a Teológica de S. Tomás, I, q. 14, art. 13, particularmente a interpretação de Caetano; e na Suma contra os Gentios, I, cap. 66. Donde nem mesmo Cristo Nosso Senhor era capaz de ver coisas futuras intuitivamente através de um conhecimento infundido, a não ser que aquela cognição pudesse ter sido medida pela eternidade, o que, contudo, não parece possível admitir, com o no caso da visão dos Beatos, que claramente manifesta Deus ele próprio, e conse quentemente a sua eternidade em si, na qual as coisas futuras estão contidas.
264
E para prova deste exemplo diz-se que as coisas não estão contidas na eternidade apenas com o numa causa eficiente, mas com o numa medida superior medindo a duração das coisas ainda não existentes na sua própria medida; de outro modo, a eternidade não seria imutável e indivisível ao medir, se só medisse coisas em acto quando mutavelmente existem em si próprias, e não as medisse se não existissem assim, o que está contra a razão da medida da eternidade, medida essa que é imutável e indivisível mesmo ao medir. Donde todas as coisas estão na eternidade com o numa medida estranha, contudo de tal forma que não estão nela como no interior das causas, mas com o em si, todavia não como produzidas na sua própria medida e segundo uma ilação de recepção e mutação, mas como atingidas por uma duração imutável e eterna, enquanto são atingidas pela acção eterna de Deus sob o aspecto da acção, não sob o aspecto da recepção. Pois a acção de Deus não é sempre conjunta com a recepção e consequência de um efeito numa mutação própria, com o S. Tomás diz na Sum a Teológica, I, q. 46, art. 1, resp. obj. 10. E, contudo, em si, a acção de Deus é sempre uma acção eterna, e sob este aspecto eterno diz respeito ao termo e eleva-o a medida da acção eterna na razão da acção, e diz-lhe respeito não apenas com o estando contido no interior das causas. Mas destas distinções tratam os teólogos mais detalhadamente. Para a outra prova acerca das coisas futuras condicionadas, a resposta é que essas coisas não são atingidas por Deus intuitivamente, porque verdadeiramente elas não existem, mas poderíam ter existido. Mas elas são atingidas por uma intelecção simples, não enquanto a intelecçâo simples exclui um decreto da vontade mas enquanto exclui a visão. Pois uma intelecção é dita ser simples, seja porque não envolve alguma coisa da presença física que pertence à visão, seja porque não envolve alguma coisa de uma ordem para a vontade, que pertence à decisão, como S. Tomás ensina em D e Veritate, q. 3, art. 3, resp. obj. 8. E a respeito do condicionado contingente da verdade terminada, é dado um decreto determinando aquela verdade, mas não quanto à consequência que, quando a condição e a aplicação da concorrência de Deus são postas, se toma uma proposição de verdade necessária. Mas o decreto salvaguarda a natureza do sujeito livre, que não é suficientemente determinada pelo mero preenchi mento dessa condição, mas por decreto e vontade de Deus. Donde esta determinação não é atingida por uma intelecção simples, enquanto a qualificação «simples» é oposta a uma ordem para a vontade, mas é uma intelecção simples enquanto oposta a uma presença física em acto.
265
Para o último exemplo respondemos, em primeiro lugar, que em bora o nosso intelecto não tenha uma espécie impressa directamente representando o singular, contudo tem uma concomitante, pela ordem e reflexão para o fantasma, um conceito propriamente representando o singular, com o explicamos mais largamente nos livros da Física, q. 1, e nos livros D e A nim a, q. 10. Isto basta para do intelecto ser dito ter uma apercepção intuitiva da coisa presente, ou seja, mediante tal conceito. Ou, em segundo lugar, diz-se que deste próprio facto de que o intelecto conhece com uma continuação e dependência dos fantasmas, enquanto os fantasmas são coordenados com os sentidos, porque um fantasma é o movimento produzido por um sentido em acto, com o é dito no tratado de Aristóteles D e A nim a, III, cap. 3, segue-se que embora a cognição intelectual seja feita por uma espécie não directamente representando o singular, pode contudo pelo menos indirectamente conhecer esse singular por meio das suas coordenação e continuação relativamente aos sentidos. Isto basta para do mesmo modo o intelecto ter uma apercepção intuitiva. Argumenta-se em segundo lugar que pode existir uma apercepção abstractiva no sentido externo, porque um infiel ou herético não acreditando que Cristo é tornado presente na Eucaristia pela consagração, continua a ver e julgar do pão da mesma maneira que antes, e é assegurado da presença do pão da mesma forma que antes, nomeadamente por meio daqueles acidentes. Mas antes que exista uma apercepção intuitiva, não apenas dos acidentes, mas também do pão através dos acidentes; logo, a apercepção intuitiva acerca de tal objecto permanece tal com o antes. Pois se fosse abstractiva, seria outra apercepção ou outro julgamento, e contudo o pão está ausente, logo é dada uma intuição da coisa ausente. Confirma-se porque no espelho é dada a apercepção intuitiva da própria coisa aí representada, uma vez que é feita através das espécies emitidas do objecto e reflectidas do espelho para o olho. Mas uma apercepção que é feita por meio das espécies conservadas e emitidas pelo próprio objecto, é uma cognição intuitiva. E contudo a presença física do homem não é dada no espelho porque, por exemplo, ele pode estar por trás e não em frente da pessoa que v ê quando é visto como um objecto no espelho, e por esta razão o pão visto no espelho não está apto para a consagração, porque não está presente aí. Se fosse dito que a própria coisa representada não é vista no espelho, mas apenas é vista a sua imagem, seria uma dificuldade a esta passagem de S. Tomás no D e Veritale, q. 2, art. 6, onde ele diz que «por meio da semelhança que, do espelho, é recebida na vista, a vista é directamente levada à cognição da coisa reflectida, mas
266
através de um tipo de reversão é levada, por m eio da mesma semelhança recebida, para a própria semelhança que está no espelho-. Logo, segundo S. Tomás, o acto de ver não apenas vê a semelhança no espelho, mas também a própria coisa representada. A resposta a isto é que é dada em nós, a respeito d o pão consagrado, uma dupla cognição: uma pertence ao olho exterior a respeito do objecto que vê; a outra é um julgamento que é feito no intelecto acerca da substância da coisa vista. A primeira cognição permanece intuitiva tal como antes, igualmente para o fiel e o não fiel do mistério da Eucaristia, porque permanece invariante acerca do objecto primário e essencial, que é alguma coisa colorida. Mas a respeito do objecto sensível acidental, que é a substância, essa visão não permanece, porque o sentido não é actuado por alguma coisa acidentalm ente sensível, co m o diz o F ilósofo nos livros D e A n im a, II, cap. 6, e como pode ser visto na lect. 13 d o comentário de S. Tomás aos livros D e A nim a. Logo, ao sentido externo, enquanto é externo, pertence apenas atingir intuitivamente a coisa colorida segundo a sua aparência exterior, mas o que lhe é interior, a própria substância da coisa, uma vez que é acidentalmente vista, é também acidentalmente atingida intuitivamente pelo sentido. Donde, quando tal substância é removida, não continua a ser vista acidentalmente, mas o próprio acto da visão externa não é intrinsecamente variado como consequência deste facto, porque aqueles aspectos das coisas ' que são acidentais a uma dada cognição não variam intrinsecamente a cognição. Mas o julgamento do intelecto pelo qual o herético decide que aquela substância é pão, nunca foi intuitivo em si imediatamente, mesmo antes da consagração, porque a substância da coisa não é vista em si. Nem é um julgamento propriam ente intuitivo ou abstractivo, excepto por razão dos extremos, a partir dos quais é estabelecido; pois -intuitivo» é dito da apercepção simples, não da apercepção judicativa, a qual formalmente não versa acerca da coisa enquanto presente, mas enquanto coincidente com outra. O mesmo julgamento acerca da substância do pão pode, deste modo, ser continuado antes e depois da consagração, embora a verdadeira intuição do pão, cuja substância foi vista acidentalmente e não em si, seja interrompida, porque o que é visto apenas acidental e intuiti vamente, não pertence à cognição intrinsecamente, mas extrinsecamente, tal com o sucede com a verdade ou falsidade. E do mesmo m odo, se uma substância nua pudesse permanecer quando os acidentes fossem removidos, a sua cognição continuada no intelecto não seria intuitiva; assim, invertendo-se a situação, quando os acidentes permanecem mas não a substância, a sua cognição no intelecto não é intuitiva, e contudo é a mesma cognição. 267
Para confirmação, a resposta é que no espelho não é vista intuitivamente a própria coisa, mas a sua imagem, que é formada no espelho pela refracção das espécies e da luz. Que uma imagem é gerada, ensina S. Tomás no C om entário às Sentenças de Ped ro Lombardo, IV, dist. 10, q. 1, art. 3, quaestiunc. 3, e na Suma Teológica, III, q. 76, art. 3; e no C om en tá rio ao Tratado A ris to té lico da M eteorologia, III, lect. 6, num tipo de digressão acerca das cores do arco-íris, q. 4, resp. obj. 2. N o espelho, logo, pela luz refractada juntamente com as espécies que são feitas com essa luz, a imagem é gerada e resulta, assim como de uma nuvem oposta ao Sol resultam as cores do arco-íris. E aquilo que o olho vê no espelho é a imagem formada aí, a qual o olho mais definidamente vê intuitivamente; mas as coisas espelhadas só são vistas enquanto estão contidas na própria imagem do espelho. Contudo, do olho é dito ver por m eio das espécies emitidas pelo objecto e refractadas, não porque formalmente e imediatamente veja por meio das espécies enquanto emitidas pelo objecto, mas pelas espécies da própria imagem formada no espelho pelas espécies que são originadas pelo objecto, resultando as outras espécies através da refracção. Mas quando S. Tomás diz que o acto de ver é feito directamente na cognição da coisa espelhada por meio de uma semelhança que, a partir do espelho, é recebida na vista, ele não fala de ver apenas em termos de cognição sensitiva exterior, mas em termos do todo da cognição, tanto interior como exterior, a qual ê recebida do espelho e não subsiste na própria imagem do espelho, mas na coisa espelhada, para a qual essa imagem conduz; e esta totalidade é nomeada acto de ver ou visão. Em terceiro lugar argumenta-se: alguma espécie representando uma coisa ausente pode ser colocada no sentido externo por Deus ou por um anjo; logo, essa coisa ausente será, então, vista pelo olho. A consequência é clara, porque um olho formado por uma espécie, especialmente quando a luz exterior permanece, pode produzir um acto de visão; pois para nada mais é requerido um objecto presente do que para fornecer a especificação ao olho. Logo, quando as espécies são postas sem o objecto, a visão eliciará um acto de ver. A antecedente prova-se: Prim eiro, porque não é impossível que Deus conserve as espécies sem o objecto, pois as espécies dependem desse objecto apenas na ordem de uma causa eficiente, que Deus pode suprir. Segundo, porque algumas aparências acerca dos corpos são muitas vezes vistas quando nenhuma mudança é feita nos corpos, mas apenas no sentido da pessoa que vê, como é claro quando a forma de um homem jovem ou da carne aparece na Eucaristia, como S. Tomás ensina na Suma Teológica, III, q. 77, art. 8. E quando Cristo foi visto pelos seus discípulos noutna forma, com o S. Tomás ensina
268
no mesmo trabalho, q. 54, art. 2; q. 55, art. 4, isso sucedeu através da produção de uma semelhança no olho, como se fosse naturalmente produzida, com o S. Tomás ensina no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 10, q. 1, art. 4, quaestiunc. 2. Mais ainda, algumas ilusões são feitas da mesma maneira através da actividade dos demônios, quando as espécies contactam os órgãos dos sentidos exteriores e as coisas são vistas como se estivessem exteriormente presentes, com o S. Tomás ensina no seu C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, II, dist. 8, q. 1, art. 5, resp. obj. 4. Isto é confirmado pelo facto de que Deus pode elevar uma coisa sensível para que opere em alguma coisa distante, e mesmo operar instrumentalmente em alguma coisa espiritual. Logo, da mesma forma, não é impossível para Deus ou para um anjo elevar o sentido externo para que possa operar por um acto imanente dizendo respeito a alguma coisa não presente, uma vez que a razão da presença ou ausência não está fora do seu objecto adequado. A resposta ao argumento principal é que Deus pode na verdade preservar a espécie no olho quanto à sua entitatividade, suprindo a eficiência do objecto, assim com o a luz pode conservar-se no ar sem o Sol. Mas o olho actuado por tal espécie não pode tender para o objecto não presente, assim como não pode ver sem a luz exterior, porque sem a luz exterior ou objecto presente o olho carece de forma ou termo da sensação experimental e externa, uma vez que nenhum ídolo é formado no interior do sentido externo pelo qual a cognição possa ser aperfeiçoada independentemente de um objecto sensível exterior terminante, com o vimos acima. Donde "envolve contradição uma coisa ser conhecida pelo acto de sentir e experienciar de uma sensação externa, que difere da sensação imaginativa, excepto atingindo alguma coisa externa em si própria, e não com o formada no interior d o sentido. Para segunda prova diz-se que estas aparências externas apenas podem ser feitas de duas maneiras: seja através da eliciação de uma visão externa, ou através da eliciação de uma visão imaginativa, que considera ou se julga a si própria para ver externamente, enquanto as espécies que existem interiormente descem para os órgãos dos sentidos; seja dos sentidos comuns ou dos sentidos externos, e movida por aquelas espécies a percepção imagina que vê por uma visão externa, porque é movida pela própria visão, isto é, pelas espécies que m ovem a visão. Se as aparências são feitas do primeiro modo, sempre é dada alguma mudança no meio ou em algum corpo exterior, por uma perturbação do ar e pelo aparecimento da cor, assim com o o fumo algumas vezes faz as suas colunas parecerem serpentes, ou vinhas, ou coisas semelhantes. E deste modo não é impossível para 269
algumas aparições ocorrerem na Eucaristia ou acerca do corpo de Cristo, não porque uma mudança toma lugar no próprio corpo, mas no ambiente circundante, contudo não porque o olh o possa ver alguma coisa sem existir um visível exterior, seja aparente ou verdadeiro. A mesma coisa sucede sempre que coisas visíveis sâo vistas multiplicadas por uma refracção das espécies. N o segundo m odo a visão não é formada pelo próprio olho, mas a imaginação é enganada ou movida tomando-se a si própria para ver coisas que não vê, assim com o nos ébrios as espécies são duplicadas pela imaginação com o consequência da com oção excessiva dos espíritos animais, e os demônios muitas vezes as usam deste m odo para enganar e iludir a imaginação. Mas porque isto é feito através dos estímulos das espécies ou ícones que estão nos espíritos da potência imagina tiva, descendendo até aos órgãos externos, com o resultado de que a potência imaginativa parece então ser movida, por essa razão S. Tom ás diz qu e aquelas espécies contactam os órgãos d o sentido externo, nomeadamente ao descerem da cabeça para os sentidos, para qu e então possam ser novamente levadas para a imaginação, e assim alguma coisa parecería ser vista. Para confirmação, a resposta é que é díspar a razão entre os agentes por uma acção transitiva ou qualquer causa eficiente, e a cognição d o sentido externo. Pois a causa eficiente, a presença da coisa para ser agida pelo agente, é apenas uma condição para o agir pertencendo à conjunção do que recebe, não à espécie formal de agir, e lo g o essa condição pode ser suprida preservando a razão essencial de agir. Mas para os sentidos, por contraste, a presença do objecto não pertence à conjunção d o que recebe, mas à conjunção do termo especificando a acção, termo esse de que a cognição essen cialmente depende. Assim com o uma acção transitiva depende do efeito produzido, assim uma acção imanente depen de da coisa conhecida, mesmo se não p od e ser dado um acto de intelecção sem uma palavra, seja unida ou produzida; mas para os sentidos externos, no lugar da palavra, é dada a coisa sensível, presente no exterior. Mas se a visão fosse fortalecida para ver alguma coisa muito distante, que de outro m odo lhe estaria ausente, isto não é ser elevado a ver uma coisa ausente, o que sucede é que pela força da visão a coisa é tomada presente, e não o estaria para uma potência mais fraca.
270
Capítulo n i
DE QUE MODO DIFEREM OS CONCEITOS REFLEXIVOS DOS CONCEITOS DIRECTOS
Três coisas provocam dificuldade neste capítulo: P rim e iro , existe a questão de saber se o conceito reflexivo se distingue realmente do conceito directo, e qual é a causa desta diferença. Segundo, o que é conhecido por m eio de um conceito reflexivo, e de que tipo são os objectos que eles têm. Terceiro, se os conceitos directos e reflexivos diferem essencialmente. Relativamente à primeira causa de dificuldade, alguns são de opinião que para conhecer o seu próprio conceito não é necessário formar outro conceito dele, com o pode ser visto em Ferrariensis, no C om entário à Sum a con tra os Gentios de S. Tomás, I, cap. u ii . Começa com «mas quando é objectado». Mas S. Tomás diz expressamente na Sum a Teológica, I, q. 87, art. 3, resp. obj. 2, que «o acto p elo qual alguém intelecciona uma pedra é um acto, o acto pelo qual alguém se intelecciona a si próprio inteleccionando é outra coisa bem diferente»; logo, o conceito reflexivo é um conceito distinto de um conceito directo, porque actos distintos produzem conceitos distintos. Isto é mais claramente expresso por S. Tomás em D e Poten tia , q. 9, art. 3, onde diz: «Quanto a isto, não faz diferença se o intelecto se intelecciona a si próprio ou a alguma coisa diferente de si. Pois assim com o quando intelecciona alguma coisa diferente de si forma um conceito dessa coisa, coisa essa que é significada pela voz, assim, quando se intelecciona a si próprio forma uma palavra expressiva de si, a qual também pode ser expressa pela voz.»
272
Alguns autores laboram para dar a razão e a necessidade deste conceito reflexivo para que alguém inteleccione os seus próprios conceitos. Mas vê-se claramente que isto pode ser deduzido das pa lavras de S. Tomás, na passagem eitada da Suma Teológica, I, q. 87, art. 3, resp. obj. 2. Supomos que apenas uma potência intelectiva, não uma sensitiva, pode ser reflexiva, isto é, capaz de reflectir sobre si, primeiro porque a potência do intelecto respeita universalmente todos os seres, logo, também se respeita a si, mas a potência sensitiva, no seu acto é despida daquilo que conhece; por exemplo, o acto de ver não tem a cor em si, e assim não se atinge. Novamente, porque um corpo não pode agir sobre si próprio com o um todo, mas uma parte sempre age sobre outra parte; uma parte de um órgão, contudo, não basta para eliciar a cognição. Neste ponto as observações de S. Tomás no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, II, dist. 19, q. 1, art. 1, e III, dist. 23, q. 1, art. 2, resp. obj. 3, devem ser consultadas; bem com o o que nós próprios dizemos nos livros D e A nim a, q. 4. Na potência intelectiva toda a razão da reflexão é originada disto, que o nosso intelecto e o seu acto não são objectivamente inteligíveis nesta vida, excepto dependentemente das coisas sensíveis, e assim os nossos conceitos, embora estejam formalmente presentes, não são contudo presentes objectivamente enquanto não são formados ao m odo de uma essência sensível, a qual apenas pode ser feita por m eio de uma reflexão tomada a partir de um objecto sensível. Mas no caso dos anjos e das substâncias separadas tal conceito reflexivo não é necessário, porque os anjos conhecem directamente a sua própria substância e o seu próprio intelecto, e as coisas que estão em si com o acidentes da sua substância, e logo, através da mesma espécie pela qual se conhecem a si podem também atingir aqueles acidentes. Mas não se conhecem a si próprios reflexivamente, logo, nem os seus próprios conceitos porque, quando são produzidos, os conceitos deles próprios são inteligíveis pelo seu intelecto não menos que a sua própria substância. A razão para isto é então tomada da passagem supramencionada da Suma Teológica, I, q. 87, art. 3, resp, obj. 2, porque cada coisa é conhecida segundo aquilo que é em acto. Mas a perfeição última do intelecto é a sua operação, porque pela operação não é ordenado para aperfeiçoar outro, como sucede na acção transitiva. Logo, isto é a primeira coisa que é inteleccionada pelo intelecto, nomeadamente, o seu próprio acto de inteleccionar, porque isto é o que é mais actual no intelecto e consequentemente de si primeira e maximamente .inteligível. Contudo, este facto é diferentemente compreendido em diferentes ordens do intelecto. Pois existe uma inteligência, nomea 272
damente a divina, que é em si o seu próprio acto de inteleccionar, e assim, para Deus, inteleccionar-se a Si próprio inteleccionando, e inteleccionar a Sua essência são uma e a mesma coisa, porque a Sua essência é o Seu acto d e inteleccionar. Existe também outra inteligência, nomeadamente a angélica, que não é o seu próprio acto de inteleccionar, mas onde, contudo, o primeiro objecto do seu acto de inteleccionar é a sua própria essência. Assim, embora para um anjo inteleccionar-se a si próprio inteleccionando, e inteleccionar a sua essência, seja distinto segundo a razão, contudo um anjo intelecciona ambos ao mesmo tempo e pelo mesmo acto, porque inteleccionar a sua própria essência é a própria perfeição da sua essência, mas, simultaneamente e por um acto, a coisa com a sua perfeição é inteleccionada. Mas existe uma outra inteligência, nomeadamente a humana, que nem é o seu próprio acto de inteleccionar, nem o seu primeiro objecto é o acto de inteleccionar a sua própria essência, mas o primeiro objecto do intelecto humano é alguma coisa extrínseca, nomeadamente a natureza da coisa material; e logo, aquilo que é primeiramente conhecido pelo intelecto humano é este tipo de objecto, e o próprio acto pelo qual o objecto material é conhecido é conhecido secundariamente, e através do acto é conhecido o próprio intelecto do qual o próprio acto de inteleccionar é a perfeição. Disto manifestamente se segue que toda a raiz da reflexão de um conceito sobre o próprio acto e a potência de inteleccionar deriva da própria razão objectiva do intelecto, porque embora o conceito e a cogniçâo estejam formalmente presentes à potência, contudo não são presentes objectivamente; nem uma presença formal basta para que alguma coisa seja directamente cognoscível, com o é notado por Caetano no seu Com entário à Suma Teológica, I, q. 87, art. 3, resp. obj. 2. A presença objectiva é requerida. Mas uma coisa não pode estar objectivamente presente a não ser que se revista das condições de um objecto de uma dada potência. Como o objecto do nosso intelecto é a essência da coisa material segundo ela própria, aquilo que não é uma essência da coisa material não é directamente presente ao intelecto objectivamente, e para que se revista de tal carácter necessita da reflexão. E assim os nossos conceitos, embora sejam inteligíveis segundo eles próprios, contudo não são inteligíveis segundo eles próprios ao m odo de uma essência material, e logo não são primária e directamente presentes objectivamente, excepto quando são recebidos ao m odo de uma essência sensível, m odo que, sem excepção, deve ser recebido de um objecto sensível. E porque recebem isto, no interior da potência, a partir de um objecto exterior directamente conhecido, são ditos serem conhecidos 18
273
reflexivamente, e serem tornados inteligíveis pela inteligibilidade de um ente material. A totalidade do que nâo ocorre no caso dos anjos nem n o de Deus, que directa e primariamente inteleccionam a sua própria essência e o que quer que esteja nela. Mas se perguntas, que espécie impressa serve para a cognição reflexiva do conceito, responde-se a partir de S. Tomás, em D e Veritate, q. 10, a rt. 9, resp. obj. 4 e 10, que aquelas coisas que sâo conhecidas através da cognição reflexiva não são conhecidas através da sua essência ou por meio de uma espécie própria, mas por conhecer o objecto, isto é, através da espécie daquelas coisas acerca das quais versam o acto e o conceito, a partir do facto de que o conceito e o acto necessitam da reflexão enquanto necessitam de ser formados ao m odo de um objecto sensível, acerca do qual o conceito directo versa. Logo, a cognição reflexiva necessita da espécie de tal objecto para ser formada à semelhança desse objecto e para que conheça. Donde S. Tomás diz, no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 23, q. 1, art. 2, resp. obj. 3, que «o intelecto conhece-se a si próprio assim com o conhece outras coisas, porque claramente conhece por m eio de uma espécie, não de si, mas do objecto, que é a forma daquilo a partir de que o intelecto conhece a natureza do seu próprio acto, e a partir da natureza do acto, conhece a natureza da potência, e a partir da natureza da potência, conhece a natureza da essência, e consequentemente das outras potências. Não que o intelecto tenha semelhanças diferentes para cada um destes, mas porque no seu objecto o intelecto não só conhece a razão do verdadeiro, mas toda a cognição que está nele». Aqui S. Tomás ensina claramente com o a espécie do objecto serve para a cognição do acto, nomeadamente enquanto representa no seu objecto a razão de uma coisa conhecida. Com efeito, permanecem na memória espécies não apenas representando um objecto, mas também representando o próprio facto de que foi conhecido, e deste hábito do conhecido regride o intelecto para a própria cognição e para os seus princípios. Donde também através de tal espécie a própria espécie pode ser atingida reflexivamente, não imediatamente em si, mas enquanto é alguma coisa do objecto conhecido. Contudo posterior mente nâo é contraditório que o intelecto possa separadamente formar espécies do conceito, da potência, e de outras coisas semelhantes, do mesmo m odo que forma outras espécies a partir de espécies previamente conhecidas; por exemplo, por meio das espécies da montanha e do ouro, forma a espécie da montanha de ouro, com o S. Tomás ensina na Suma Teológica, I, q. 12, art. 9, resp. obj. 2. Acerca da segunda dificuldade, importa explicar duas coisas: primeiro, quanto ao objecto material da cognição reflexiva, existe a 274
questão de saber sobre quais coisas versa a cognição reflexiva. E para isto brevemente respondemos que são todas aquelas coisas que são encontradas na alma e se revestem, como resultado da cognição do objecto material, da representação e do m odo de uma essência sensível, e assim o intelecto regride para conhecer não apenas o conceito e o acto de conhecer, mas também o hábito, a espécie, a potência, e a própria natureza da alma, com o diz S. Tomás na passagem recentemente citada do livro in do seu C om entário às Sentenças de Pedro Lom hardo, dist. 23, q- 1, art. 2, resp. obj. 3. E quando é dito, na definição do conceito reflexivo, que é um conceito de outro conceito, entende-se que é também um conceito de todas as coisas que concorrem no interior da alma para produzir o conceito, como dissemos no primeiro livro das Súmulas, cap. 3. Ou é dito que o conceito reflexivo é um conceito de outro conceito porque a primeira coisa que é atingida pela reflexão é outro conceito, depois a potência, e a alma, e assim por diante. A segunda coisa que deve ser explicada pertence à razão formal pela qual um conceito reflexivo diz respeito a algo. E assim também dizemos brevemente, a partir do mesmo texto de S. Tomás, que o conceito reflexivo formalmente diz respeito ao conhecimento da natureza daquilo sobre que reflecte, ao modo no qual essa natureza pode ser conhecida através dos seus efeitos, ou conotativamente ao modo de uma essência sensível. E embora os conceitos estejam ■presentes no intelecto fisicamente, contudo, porque não são tomados presentes objectivamente por m eio deles próprios, mas por meio da semelhança e da conotação com uma essência sensível — -o que é atingir essa presença com o se fora em outro e não em si própria — não é dito que vejamos os nossos conceitos intuitivamente. Disto segue-se que por meio de um conceito reflexivo, enquanto regride para um conceito directo, esse próprio conceito é representado como um tipo de qualidade e a imagem significada em acto ao modo da essência de uma imagem; e consequentemente a coisa significada por meio do conceito directo não é representada aí, no conceito reflexivo, excepto muito remota e indirectamente. E a razão é que no conceito reflexivo a própria coisa significada funciona como termo a partir do qual a reflexão se inicia; logo, o conceito reflexivo não representa essa coisa com o seu objecto e com o termo no qual a representação é feita, mas apenas conotando essa coisa como termo a partir do qual a reflexão principiou. E embora o conceito reflexivo atinja o conceito directo enquanto este é um tipo de imagem, e o movimento na imagem esteja também na coisa a partir da qual a imagem é feita, contudo, isto só é inteleccionado quando a imagem não é considerada separadamente e segundo ela própria, mas 275
enquanto exerce o oficio de conduzir para o seu protótipo, como ensina o Filósofo no seu livro A cerca da M em ória e da Rem iniscência, e como S. Tomás explica no seu comentário, lect. 3- Mas num conceito reflexivo o movimento é feito de m odo oposto, isto é, a partir do objecto para a imagem; pois por conhecer um objecto directamente, reflectimos para conhecer o conceito, que é imagem do objecto, e logo, o intelecto é levado, por meio de tal reflexão, para uma imagem ao m odo de uma essência sensível, e para atingir essa imagem significada em acto. Consequentemente, o intelecto não necessita de tender através dessa imagem para a coisa significada, embora indirectamente, com o dissemos, também atinja esse significado, enquanto este é o termo a partir do qual é feito este movimento reflexivo. Acerca da última dificuldade, responde-se brevemente que embora as qualificações «directo» e «reflexivo», enquanto significam certos movimentos do intelecto, não pareçam implicar diferenças essenciais da cognição, assim como o conhecimento enquanto formado através do discurso e sem ele, se é acerca do mesmo objecto, não varia a natureza essencial do conhecimento, contudo, enquanto os conceitos reflexivos e directos importam diversas representações e diversos objectos representados — porque o conceito directo é uma semelhança do objecto, enquanto o conceito reflexivo é uma semelhança do próprio conceito, ou de um acto, ou de uma potência — por esta razão devem diferir simplesmente em tipo; assim com o sucede com as outras cognições e representações que versam acerca de objectos diversos.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Contra isto que resolvem os acerca da primeira dificuldade, argumenta-se em primeiro lugar com base em que o intelecto intelecciona pelo mesmo acto o conceito ou palavra, e o objecto representado nesse conceito. E, semelhantemente, o intelecto é con duzido pelo mesmo acto para o objecto e para o acto de conhecer, com o ensina S. Tomás no C om en tá rio às Sentenças de Ped ro Lom bardo, 1, dist. 10, q. 1, art. 5, resp. obj. 2. Logo, o intelecto não necessita do acto reflexivo para discernir entre o conceito e o acto. Isto é confirmado porque o conceito e o acto estão muito mais intimamente presentes e unidos ao intelecto do que o próprio objecto, que é unido à potência mediante tal conceito. E, semelhantemente, o conceito e o acto são ímateriais e inteligíveis em acto último, e por essa razão o conceito é comparado à luz, pela qual o próprio objecto 276
é iluminado, como S. Tomás diz no Opúsculo 14; mas o que é inteligível em acto último não necessita de outro conceito ou forma inteligível para que seja conhecido. Donde a luz é conhecida pelo olho através da sua essência, e não por meio da semelhança, o que S. Tomás expressamente diz no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, 2, dist. 23, q. 2, art. 1, onde distingue entre o m odo como a luz é vista, e o m odo como a pedra é vista, dizendo que a luz não é vista pelo olho por meio de alguma semelhança de si deixada no olho, mas informando o olho através da sua essência; embora uma pedra seja vista por m eio da semelhança deixada no olho. O mesmo significa esta passagem da Suma Teológica, I, q. 56, art. 3. A mesma coisa é também habitualmente dita de uma espécie impressa, que de si própria já é cognoscível. Logo, a fo rtio ri, o conceito, que é espécie expressa, está mais em acto do que uma espécie impressa. A resposta ao argumento principal é que a potência é levada para o objecto e para o acto pelo mesmo acto, segundo o acto é razão de conhecer, mas não segundo é a coisa conhecida; pois deste m odo o acto necessita d o conceito reflexivo. E é deste m odo que S. Tomás é entendido no texto citado pelo contra-argumento: ele fala acerca do acto de inteleccionar segundo é atingido com o razão de conhecer o objecto directo; pois é deste modo que o acto de inteleccionar é atingido pelo mesmo acto com que o seu objecto é atingido. E o mesmo é verdadeiro quanto ao conceito ou palavra; pois o conceito 'e a coisa representada são inteleccionados pelo mesmo acto, segundo a palavra é tomada como razão expressando o objecto da parte do termo. Por este motivo, também a própria palavra é algumas vezes dita ser conhecida como aquilo que é apreendido quando um objecto é conhecido, isto é, porque é conhecida como estando da parte do termo que é apreendido, e não com o estando da parte d o princípio, ou com o aquilo por que a coisa é conhecida. Para confirmação respondemos, a partir de S. Tomás em D e Veritate, q. 10, art. 8, resp. obj. 4, e do Com entário à Sum a Teológica de Caetano, I, q. 87, art. 3, que a palavra ou conceito está presente ao nosso intelecto formalmente, mas não objectivamente; com efeito, é uma forma inerente pela qual um objecto é conhecido, contudo não é em si um objecto dado com aquela inteligibilidade que é requerida pelo nosso intelecto, ou seja, inteligibilidade ao m odo de uma essência sensível, não sendo o conceito por essa razão nem inteligível nem inteleccionado em acto por meio de si a respeito do nosso intelecto. Mas no caso de substâncias separadas, o conceito é por si próprio inteligível formal e objectivamente, porque substâncias separadas não inteleccionam apenas essências sensíveis, mas tudo o que é puramente espiritual. 277
E para aquilo que é acrescentado acerca da luz, respondemos, a partir de S. Tomás, em D e Veritate, q. 10, art.8, na resposta à objecçâo 10 da segunda série de objecções, que a luz não é vista através da sua essência, excepto enquanto é razão de visibilidade e um tipo de forma dando ser visível em acto. Mas a luz, segundo está no próprio Sol, não é vista excepto pela semelhança dele no olho, tal como a pedra é vista. Logo, quando S. Tomás diz, no liv. n, dist. 23, q. 2, art. 1, do seu C om entário ás Sentenças de Ped ro Lom bardo, que a luz é vista através da sua essência, o sentido da frase é que a luz é forma de visibilidade através da sua essência, e precisamente porque é tal forma, dando visibilidade actual à cor, não é vista por m eio de uma semelhança distinta daquela que a própria cor que toma visível emite. Mas da espécie impressa dizemos que é cognoscível através de si própria com o aquilo «pelo que», mas não como aquilo «que», e como a coisa conhecida; e deste m odo a espécie impressa necessita do conceito reflexivo. Argumenta-se em segundo lugar, porque as coisas espirituais, Deus e os anjos e o que quer que não tenha essência material, não podem ser atingidas pelo intelecto, excepto revestindo-se do m odo de um objecto sensível, e contudo não são conhecidas por uma cognição reflexiva. Logo, nem os nossos conceitos nem os nossos actos são inteleccionados reflexivamente com o consequência do facto de que são conhecidos ao m odo de um objecto sensível. Pois se fossem conhecidos tal com o são em si, seriam conhecidos directamente pelo mesmo m odo pelo qual os anjos os conhecem. Isto é confirmado porque os conceitos reflexivos e directos são formados através de espécies distintas, uma vez que uma coisa é a espécie representando o conceito, outra a espécie representando o objecto, assim como as próprias coisas representadas são também diversas. Logo, não funcionam com o movimento reflexivo e directo; com efeito, o movimento reflexivo deve necessariamente ser contínuo com o movimento directo e ser proveniente do mesmo princípio. Pois se movimentos distintos procedem de princípios distintos, um não é reflexivo a respeito do outro. A resposta a isto é que para a razão do conceito reflexivo não basta conhecer alguma coisa à semelhança de outra, mas é necessário que aquilo que é conhecido se tenha da parte do princípio do conhecer. Pois deste modo é feita a regressão de um objecto para a cognição, ou princípio da cognição. Mas quando algum objecto real é revestido, através da construção do nosso intelecto, do m odo de outro objecto, haverá aí uma ordem ou comparação de um com outro, mas não uma reflexão.
278
Para confirmação, a resposta é que, seja ou não o conceito conhecido por m eio de espécies distintas das espécies do objecto, contudo é dito ser conhecido reflexivamente, porque tal movimento da cognição tem a sua origem a partir do objecto, e a partir da cognição do objecto a pessoa é movida para formar a cognição do conceito e das espécies, pelas quais o objecto é conhecido. Donde esta distinção dos princípios não remove o carácter reflexivo da cognição, mas conduz ainda mais para isto, porque os próprios princípios de conhecer ou espécies, são formados por aquele movimento reflexivo continuado e derivado da cognição do objecto.
279
Capítulo IV
QUAL É A DISTINÇÃO ENTRE CONCEITO ULTIMADO E NÃO ULTIMADO
O ultimado e o não ultimado são expressos, respectivamente, com o fim e como meio. E assim, geralmente, pode ser dito conceito ultimado qualquer conceito que é termo e fim de outro, para que um conceito seja ordenado para outro; e assim uma operação do intelecto é ordenada para outra, os princípios são ordenados para as conclusões, e o raciocínio discursivo para o julgamento perfeito; e em todos estes casos é encontrada alguma coisa na qual a cognição subsiste, e isto é chamado ultimado; e alguma outra coisa é encontrada, através da qual a cognição tende para tal termo, e isso é chamado meio ou termo não ultimado. Entre os dialécticos, que lidam com nomes e discursos significativos, os conceitos ultimado e não ultimado são distinguidos através disto: o conceito ultimado versa sobre as coisas significadas, enquanto o não ultimado versa sobre as próprias expressões ou palavras signifícantes. Com efeito, esta forma de distinguir o ultimado e o não ultimado oferece uma maneira de distinguir entre o objecto da Lógica, porque o dialéctico não trata das coisas elas próprias, enquanto são coisas, à maneira de como o físico trata delas, mas dos instrumentos pelos quais as coisas são conhecidas, os quais, na maioria das vezes, são palavras significativas correctamente arranjadas e ordenadas. D e tudo isto deduz-se que o ultimado e o não ultimado por si e formalmente não são diferenças essenciais dos conceitos, porque não se têm da parte do próprio objecto, enquanto exprime a razão
280
do cognoscível, mas têm-se antes da parte da ordem de um conceito ou cognição para outro, e assim apenas acrescentam ao conceito relações ou modos de ser para os objectos, não enquanto os objectos são cognoscíveis e especificantes, mas enquanto são ordenados como meio e termo. Mas uma diferença essencial na cognição é tomada a partir do objecto enquanto motivo e especificativo e cognoscível; todas as outras diferenças são modos de ser acompanhantes ou conotações. E contudo, pressupostamente, sucede algumas vezes que estes modos de ser acompanhantes supõem a distinção de objectos, embora formalmente não constituam essa distinção, e é deste m odo que o ultimado e o não ultimado, de que falamos no presente contexto, são exercidos entre conceitos distintos, dos quais um versa sobre a coisa significada, o outro sobre a expressão ou voz significante. E por esta função, porque o conceito ultimado e não ultimado têm objectos diferentes acerca dos quais versam, são conceitos distintos pressupostamente, não formalmente e por virtude do ultimado ou não ultimado. E não pode ser dito que o conceito da voz significativa significa convencionalmente o objecto do conceito ultimado, com o ensinam alguns autores, não porque o próprio conceito não ultimado seja imposto para significar, mas porque o seu objecto, nomeadamente a expressão ou voz, significa a coisa convencionalmente. Mas isto é impossível, porque o conceito é uma semelhança natural de um •objecto, que de nenhum m odo retira do objecto uma significação convencional, mas o próprio conceito não ultimado significa natu ralmente aquela significação da voz, que é convencional, com o uma imagem daquela significação; e assim a significação convencional da voz não é o exercício de significar o conceito, mas um objecto signi ficado pelo conceito. Permanece portanto dúbio na presente questão saber se um conceito não ultimado da vo z representa apenas a própria voz, mas não a sua significação, ou se tal conceito representa tanto a expressão como a sua significação. E quase todos concordam que alguma ordem para a significação é requerida para que um conceito seja não ultimado. Pois se a vo z é nuamente considerada como um certo som feito por um animal, é evidente que pertence a um conceito ultimado, porque deste m odo é considerada enquanto é um tipo de coisa, isto é, do m odo como a Filosofia trata aquele som. Contudo, alguns dizem não ser necessário que a significação da expressão seja representada num conceito não ultimado, bastando que aquela significação seja exercida ou que seja suposto ser habi tualmente conhecida.
281
Mas a opin iã o mais verdadeira é a que sustenta que a p róp ria significação deve também ser representada no conceito não ultim ado, porque é dito ser não ultimado enquanto é concebida alguma coisa na qual a cognição não cessa, mas que é tomada com o meio para um termo ulterior. Mas apenas a significação da voz constitui a aquela voz na razão do meio a respeito da coisa significada. Logo, se a significação não é concebida, também não é concebido aquilo através do que a expressão é constituída na razão do meio ou não ultimado. Nem basta dizer que a significação em questão é exercida, porque o que sucede é, antes, que a voz, enquanto representada no conceito não ultimado, não exerce a sua significação convencional. Pois tudo o que é exercido em tal conceito é de significação natural; logo, a significação convencional da vo z concebida não é exercida, mas representada, embora não seja necessário atingir a própria essência da significação convencional e a relação de imposição, mas basta conhecer a significação quanto ao facto de que existe. Menos ainda basta a apercepção habitual de significação ou imposição para um conceito não ultimado, porque a apercepção habitual só é apercepção em acto primeiro; logo, a não ser que a apercepção surja em acto segundo, não pode ser dita ser um conceito em acto não ultimado, porque o conceito actual é uma representação. Logo, o conceito actual não ultimado não pode ser denominado a partir de uma apercepção habitual de significação. Mas objectas: certamente o homem rústico, ouvindo esta expressão latina «animal», cuja significação ignora, forma um conceito não ultimado dessa enunciação, porque não passa para a coisa significada, e contudo ignora a significação. Logo, a representação da significação não é requerida para o conceito não ultimado. Esta objecção é confirmada porque o conceito significa a mesma coisa junto de todos os homens, com o diz o Filósofo no primeiro livro do tratado D e Interpretatione, cap. t Mas as significações das vozes não são as mesmas junto de todos os homens; logo, os conceitos não ultimados não representam as significações das vozes, de outro m odo não significariam a mesma coisa para todos os homens. A resposta a isto é que o rústico ouvindo a expressão latina ou conhece que é significativa, porque vê os homens usarem aquela expressão no discurso embora ignore o seu significado; ou então, de nenhum m odo está ciente de que aquela expressão é significativa. Se ele apreende a voz do primeiro modo, forma um conceito não ultimado, porque verdadeiramente conhece aquela palavra com o significativa. Se apreende do segundo modo, o conceito que forma será um conceito ultimado, porque apenas representa a expressão ou voz enquanto é um tipo de sçm, não com o signo e m eio
282
conduzindo para outro. Mas quando percebe a significação no que toca ao facto de existir, sem contudo conhecer para que fim essa significação é imposta, em tal caso o conceito é chamado não ultimado, porque embora de facto não conduza para a coisa significada como para a coisa última em particular, contudo conduz para uma coisa significada pelo menos em geral e de um modo confuso surgido da deficiência do sujeito ignorante da significação. Para confirmação dizemos que os conceitos significam a mesma coisa para todos quando são acerca do mesmo objecto e formados do mesmo modo; pois são semelhanças naturais. E assim todos os conceitos não ultimados representantes de expressões ou palavras enquanto significativas representam a mesma coisa junto de todos aqueles entre os quais são assim formados. Mas se não são assim formados entre todos os homens, devido ao facto de que nem todos conhecem a significação das vozes, então não serão conceitos da mesma coisa, e assim não significarão a mesma coisa junto de todos. Argumenta-se em segundo lugar: se o conceito não ultimado representa a própria significação de uma expressão ou voz, então segue-se que quando representa um termo equívoco, ou vários conceitos são formados dessa expressão, ou apenas um. Se apenas um, será dado um equívoco na mente, porque o conceito não ultimado significa uma expressão com várias significações não subordinadas. Se há vários conceitos formados, segue-se que não é dado na mente um conceito de um termo equívoco, porque uma v o z nunca é representada com várias significações, e logo, um termo equívoco poderá ser originado pela enunciação de uma expressão vocal, porque não se pode enunciar salvo o que é concebido pela mente; mas nesse caso não é concebido algum termo equívoco, porque vários conceitos são formados da expressão ou termo em questão, cada um dos quais tem apenas uma significação, e assim será unívoco. A resposta é que o conceito de um termo equívoco, com o por exem plo o de cão, é apenas um conceito não ultimado, porque representa uma expressão ou voz tendo várias significações, assim como o conceito que representa o homem tendo vários acidentes é apenas um conceito; nem se segue disto que exista um equívoco nesse conceito, porque estas várias significações não estão no conceito formalmente, mas objectivamente. Com efeito, o conceito em questão representa um objecto que tem várias significações, nomeadamente a expressão ou v o z em questão, mas fá-lo por uma única semelhança natural representando uma única expressão afectada por várias imposições. Um equívoco na mente, contudo, seguir-se-ia apenas quando um conceito tivesse várias significações formais, as quais são
283
semelhanças naturais; pois estas não podem ser multiplicadas num conceito. Mas que um conceito represente várias significações de uma expressão ou signo enquanto coisa representada não apresenta nenhum inconveniente, porqu e isto é fe ito p o r uma única representação formal. Mas se insistes: o conceito não ultimado do termo equívoco é ordenado para vários conceitos ultimados, porque é ordenado para várias coisas significadas, e não por uma única ordenação, mas por várias, as quais pertencem à representação do conceito ultimado. Logo, assim com o existe um equívoco, na expressão por causa de várias significações relativas a vários significados, assim o conceito dessa expressão deve ser chamado equívoco, devido a ter várias relações com vários conceitos ultimados. A resposta a isto é que o conceito não ultimado é ordenado para vários conceitos ultimados por uma única ordenação da parte da representação formal, mas por várias ordenações da parte do objecto representado. Com efeito, representa por uma única significação e representação natural uma expressão ordenada para várias coisas significadas como resultado de várias imposições, e assim, da parte d o seu objecto, representa as várias relações pertencendo a uma expressão coincidindo com várias coisas e com vários conceitos ultimados, pelo que o conceito não ultimado expressa várias relações enquanto representadas; mas formalmente tem uma única representa ção daquela vo z ou expressão assim afectada por várias relações. Finalmente, argumenta-se que um conceito não ultimado não precisa de representar o facto de que uma expressão é significativa, porque o mesmo conceito não ultimado da voz, pelo mero facto de que aquela vo z é retirada da sua significação, continuará com o conceito ultimado, porque então significará essa voz como uma coisa na qual a cognição ultimamente subsiste. Logo, o conceito não ultimado não é distinguido essencialmente de um conceito ultimado, uma vez que sem nenhuma mudança intrínseca pode ser tornado ultimado. Nem pode ser dito que, porque se representa a si, a expressão ou v o z em questão terá a capacidade de fazer as vezes do termo a respeito de si; pois assim qualquer coisa que se representasse a si teria um conceito não ultimado, enquanto se representa a si própria. A resposta a isto é que estes conceitos não diferem essencialmente, devido precisamente ao facto de que um é ultimado enquanto o outro é não ultimado, como já foi mostrado, mas devido ao facto de que eles são pressupostos serem de diversos objectos, a partir dos quais a diferença essencial é derivada. Donde, no caso de expressões privadas da sua significação, se o ^intelecto conhece esse facto e
284
forma o conceito da expressão como não significante, esse conceito é já distinto do conceito não ultimado que foi previamente formado daquela vo z como significativa, porque então será um conceito ultimado da expressão como coisa, não como signo. Mas se o intelecto não está ciente de que a expressão perdeu a sua significação e mantém o conceito previamente formado daquela vo z como som significativo, o conceito permanece não ultimado tal como antes, embora falso, e então será mudado quanto ã falsidade, não quanto à sua representação essencial. E nota que as relações do ultimado e do não ultimado, embora possam ser distinguidas em tipo como diversos modos de conceitos, contudo não funcionam enquanto especiflcantes dos próprios conceitos formalmente. E assim causam os próprios modos a serem distinguidos em tipo, mas não a própria razão intrínseca dos conceitos, excepto porque os conceitos, com outros fundamentos, têm objectos distintos em espécie.
285
GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS POR JOÃO DE SÃO TOMÁS
Absoluto — O que é considerado isoladamente em si, e não relacionado com outra coisa. É aquilo que não depende de nada extiínseco a ele próprio nas suas constituição e especificação. Opondo-se ao absoluto estão os relativos, que constituem relações secundum esse, têm todo o seu ser para outro e dependem dele inteiramente. Há ainda coisas que são médias entre estas, que constituem relações secundum d ici: são as que têm em si algo de absoluto, e contudo nas suas constituição e espe cificação dependem de outro que lhe é exterior para agir ou causar al guma coisa. É o caso da potência cognitiva a respeito dos objectos que atinge, e que por isto tem uma ordem transcendental para aqueles. Acidente — E o que sobrevêm a um sujeito, pertencendo-lhe como atributo, sem modificar a sua essência. O acidente não pode subsistir por si, mas necessita de um sujeito — substância — para ser capaz de existência. Para Aristóteles, que será, neste ponto, retomado por S. Tomás de Aquino, a substância é a primeira categoria ou gênero supremo, po dendo as restantes nove categorias, quantidade, qualidade, relação..., ser subsumidas sob o conceito de acidente. Acto — Só pode ser concebido em relação com o conceito de potência. Para resolver o problema do movimento — que já fora objecto de soluções tão radicais quanto a de Parménides, que simplesmente o negava — Aristóteles vai defender que o movimento é consequência da passagem de potência a acto; sendo a potência todo o manancial de possibi lidades contido numa substância, e o acto a actualização de uma dessas possibilidades. Representa «a perfeição realizada pela acção e possuída pelo agente» \ O movimento é a consequência do perpétuo
1 Celestino Pires, 1989, «Acto», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasíleira de Filosofia, Verbo, Lisboa, p. 63.
287
devir executado por tudo aquilo que existe em potência a fim de poder passar a acto. Analogia — O termo ser aplicado às criaturas tem um significado não idêntico, mas semelhante ou proporcionalm ente coincidente com o ser de Deus. Esta é a relação de analogia, que não é identidade, nem diferença, mas semelhança sob uma certa proporção. É que o ser das criaturas é separável da essência, e portanto é criado, ao passo que o ser de Deus, sendo idêntico à essência, é necessário. É por isso que estes dois significados de ser não são unívocos, nem equívocos; são análogos, isto é, semelhantes mas de proporções diversas. «Só Deus é ser por essência, as criaturas têm o ser por participação; as criaturas, enquanto são, são semelhantes a Deus, que é o prim eiro princípio universal de todo o ser, mas Deus não é semelhante a elas: esta relação é a analogia. A relação analógica estende-se a todos os predicados que se atribuem ao m esm o tem po a Deus e às criaturas; porque é evidente que na Causa agente d evem subsistir de m od o indivisível e simples aqueles caracteres que nos efeitos são divididos e m últiplos»2. Anjo — Substância que é forma pura, inteligência pura, sem matéria. Um anjo não tem com posição de matéria e forma, mas tem a de essência-existência. A essência de um anjo está em potência em relação à existência, e por isso esta última requer o acto criador d e Deus. Já em Deus a essência é a própria existência, porque Deus é por essência. Em Deus, não há uma essência que seja potência, por isso se diz d'Ele que é acto puro. Apercepção — É a apreensão simples ou o acto p elo qual é form ado o termo mental, e com preende tanto a apreensão intelectiva com o a dos sentidos externos. N ão é tanto, com o o termo parece sugerir, o próprio acto de o sujeito se aperceber de alguma coisa, mas sobretudo o conteúdo dessa apercepção, a noção que é gerada ou «termo mental», com o João de São Tom ás tão bem explica. Apercepção abstractiva — Trata-se da apercepção de uma coisa ausente, sem existência física. Apercepção intuitiva — É a apercepção de uma coisa fisicamente presente no exterior da potência cognitiva, com portando assim existência real e física. Conceito directo — O conceito pelo qual se conhece algum objecto, sem reflectir sobre o próprio acto de conhecer. Conceito reflexivo — Trata-se d o conceito p elo qual o hom em conhece que conhece. T em por objecto o próprio acto cognitivo da potência cognoscente, daí ser reflexivo. Este conceito reflexivo não está, obviamente, acessível às operações dos animais nem dos sentidos externos. Conceito ultimado — É o conceito da coisa significada por um termo.
2 Nicola Abbagnano, 1985, H istória da Filosofia, vol. iv, cap. xv, sobre S. Tomás de Aquino, Editorial Presença, Lisboa, p. 36.
288
Conceito não ultimado — É o conceito pelo qual um term o é tido com o significante, ainda que se desconheça qual o seu significado. Conotação — Acto de apreender uma coisa não através d e um conceito próprio, absolutamente, mas conotativamente e a respeito de outro, à semelhança d o qual o objecto é concebido. Denominação extrínseca — A cto p elo qual se atribui um nom e às coisas, nom e esse que só exprim e relações com outros objectos. Denominação intrínseca — Acto pelo qual se atribui um nom e às coisas quando exprim e propriedades intrínsecas de um objecto. Ente de razão — Ens ra tion is é o que depende da razão, opondo-se ao ente real porque não tem nenhum ser nem existência fora d o intelecto, mas só objectivamente — enquanto conhecido — reside na razão. É um tipo de ente, embora com um caracter entitativo mínimo, porque é conhe cido com o se fora um ente real, mas não tem existência física nas coisas d o mundo. T o d o o ente de razão resulta da actividade cognitiva, pois é o próprio m od o de conhecer d o hom em que constrói apreensivamente com o ente o que não é ente, p e lo que tod o o ente d e razão resulta da cognição. Há dois tipos de ente de razão: negação e relação, sendo este último que ocupa João de São Tomás. A relação é um ente d e razão, porque é puro «ser para» e portanto não pode ser concebida absoluta mente (e m si), nem em outro sujeito, mas com o «em direcção a outro». Equivoco — N om e que é comum a várias realidades distintas, opondo-se a unívoco. Trata-se da utilização de um mesmo e único nom e para denominar coisas inteiramente diferentes; é o caso, por exem plo, da palavra ca n is em latim, que tanto p od e significar «cão» com o «cons telação». Espécie — É a semelhança ou im agem das qualidades sensíveis d e um ser que é imprimida nos sentidos para que o objecto possa ser percebido. N ão há percepção nem experiência sem as espécies emitidas pelo objecto. A etim ologia de species vem de forma, semelhança, imagem-, é aquilo que faz as vezes d o objecto tom ando-o presente ao sujeito cognoscente. «Para S. Tomás e seus comentadores trata-se de ‘formas sem matéria’, ‘semelhanças individuais sem matéria', qualidades sensíveis ou inteligíveis...» 3. Essência— Conjunto das determinações de um ser que fazem com qu e este seja aquilo que é. É o que resta de um ser quando é despojado dos seus acidentes. A essência, para S. Tomás de Aquino, não é separada, existe no objecto e p od e ser abstraída pelo pensamento. Trata-se d o sujeito ou substância que é substrato d e acidentes, e engloba todas as determi nações à falta das quais a coisa deixaria d e ser aquilo que é. Fantasma— São as espécies ou imagens produzidas pela imaginação que são submetidas à acção iluminadora do intelecto. C om o o fantasma é um
3 Manuel Morais, 1990, «Espécie», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa, p. 219. 19
2 89
signo formal, não é constituído propriamente p e lo ícone mental (caso em que seria signo instrumental), mas pela relação de substituição entre as imagens e aquilo qu e representam. Indução— E o acto de ascender dos singulares para os universais (in d u c tio p e r ascensum ); e dos universais descender aos singulares (in d u c tio p e r descensum ). Intenção objectiva — E a própria relação d e razão que é atribuída a uma coisa conhecida. Intenção form al — Trata-se d o conceito pelo qual a intenção objectiva é formada. Meio n o qu al— E aquilo em que outra coisa é vista, assim com o, por exem plo, quando o hom em é visto no espelho — e esse espelho é m eio n o qu a l. Pode ainda ser material e exterior ao sujeito cognoscente, com o no caso d o espelho; ou intrínseco à potência cognitiva, com o sucede no caso da forma expressa ou palavra mental. M eio pelo qu al— E a espécie através da qual o objecto é visto. M elo sob o qu al— Trata-se das condições sob as quais alguém apreende um objecto, assim com o a luz permite a apreensão das cores. Operações do intelecto — São três as operações d o intelecto. A primeira é a apreensão dos termos, sem que nada se afirme ou negue sobre eles. A segunda é a com posição ou divisão, que forma a proposição atri buindo ou negando algo ao termo. A terceira é a elaboração d o discurso ou raciocínio, quando da verdade d e uma proposição se infere outra verdade aí não presente. Potência — N oção introduzida por Aristóteles que surge para solucionar o problema d o m ovim ento e da multiplicidade n o ponto — extre mamente com plicado — em que os eleatas o haviam deixado, negando pura e simplesmente a sua existência ou possibilidade. Para explicar a mudança, Aristóteles vai imaginar os seres constituídos, simultanea mente, d e potência e acto. O acto é a determinação, aquilo que um ser num dado
m omento é; enquanto a potência é
a indeterminação
determinável, o conjunto d e possibilidades que uma coisa, por acção do acto, p o d e vir a ser. Em João d e São Tomás, todavia, este termo é fundamentalmente usado para se referir às potências cognitivas, e abrange tanto os sentidos internos — o intelecto propriam ente dito — quanto os sentidos externos — visão, olfacto, tacto, gosto... Razão — Pode ser a faculdade d e pensar, mas, n o sentido mais comum em que João de São Tomás utiliza o termo, é razão e causa de porque uma coisa é tal com o é. Costuma ser, também, definida com o natureza ou essência. Sendo ra tio aquilo p elo que a realidade é o que é, confunde-se com ideia, natureza, essência, mas é também princípio d e inte ligibilidade, logos, razão imanente, essencial e substancial das coisas. Trata-se d o princípio imanente das coisas determinando-as na sua essên cia e actualidade. Relação — Trata-se de um ente de razão que é constituído unicamente com o ser p a ra um outro, daí ter um carácter entitativo mínimo. A relação é a ligação entre duas ou mais coesas que recebem o nom e d e termos;
290
é portanto a referência de um sujeito a um termo. Consta d e três elementos, um su jeito — aquilo que é referido, o qu e é form ado e denom inado pela relação; um term o — aquilo a que o sujeito se relaciona ou para que tende; e um fu n d a m e n to — aquilo p e lo que o sujeito se refere ao termo, e que é razão e causa de on de as relações obtêm existência. Relação categorial ou predicamental — E a relação em qu e o fundamento se distingue d o sujeito relacionado e o termo se distingue do sujeito. Na relação categorial, sujeito, termo e fundamento são reais e realmente existentes.
Além
disso,
os
relacionados, sujeito
e
termo,
têm
de
pertencer à mesma ordem. Relação de razão — E a relação lógica que se dá em virtude das operações mentais d e um sujeito que relaciona idéias ou conceitos. As relações de razão pertencem às coisas segundo o ser objectivo, e são apenas afecções mentais pelas quais as coisas são comparadas umas com as outras. Relação real — É a relação que se dá nas coisas, independentem ente da operação mental que pode, ou não, apreendê-las. E o caso da relação de paternidade, que existe, ou não, independentem ente d e ser conhe cida. Relação segundo o ser ou ontológica — Integram relações secundum d ic i aquelas coisas cuja totalidade d o seu ser se orienta para outro, com o é o caso d o signo; e com preendem tanto as relações reais co m o d e razão, com fundamento real ou sem ele. A sua essência é referir-se, ser referência a outro. Relação transcendental ou segundo o ser dito — E aquela na qual o sujeito da relação se identifica com o fundamento. Na relação secundum d ic i o relacionado é uma coisa absoluta conhecida por com paração cpm outro. A o contrário da relação secundum esse, aqui temos uma ordem para outro derivada de um sujeito absoluto. A totalidade d o ser da relação transcendental não é «ser para outro», mas mantém em si algo de relativamente independente... Com o tal, têm um ser absoluto e não são totalmente para outro. Segunda intenção — Trata-se da afecção qu e pertence à coisa segundo o m od o com o é conhecida; enquanto a que pertence às coisas tal com o são em si constitui as primeiras intenções. As segundas intenções, que são relações de razão, constituem propriamente o objecto da Lógica, porque a tarefa da disciplina é ordenar as coisas enquanto existem na apreensão. A distinção entre primeiras e segundas intenções baseia-se na distinção entre os dois estados sob os quais a matéria p o d e ser considerada: tal com o é em si, quer na existência quer na essência; ou tal com o é na apreensão. Este último estado é segundo relativamente ao ser em si, que é primeiro, pois ser conhecido é posterior ao ser em si d o objecto. Semelhança — E a espécie de um ser que é produzida ou emitida p elo objecto e imprimida nos sentidos do sujeito, a fim d e que este possa conhecer essa realidade que lhe é exterior.
291
Signo — A lg o que representa ao intelecto uma coisa diferente d ele próprio, sem que constitua, necessariamente, uma realidade material e física, pois só assim a definição de signo abrange tanto o formal com o o instru mental. O signo comporta tanto uma relação com outro, ao qual representa, co m o dependência desse outro — o seu objecto — pois é sem pre mais im perfeito do que aquilo que representa e manifesta ao sujeito cognoscente. O signo relaciona-se assim com o objecto com o seu substituto e subordinado, e a representação é tanto mais perfeita quanto mais próxim o este estiver d o objecto significado, com o qual tem, ne cessariamente, alguma conexão ou proporção. Signo consuetudlnário — Representa, a partir do uso, por um costume amiudadamente repetido, mas sem «imposição da autoridade pública» para significar. Signo convencional— Considera a relação d o signo co m o seu objecto, e qu e a capacidade de tal signo representar algo distinto d e si se d eve a uma im posição convencional ou acordo estabelecido entre os homens, com o é o caso das palavras. Signo form al— O signo formal determina-se pela relação d o signo à potência cognoscente. É a apercepção que representa algo a partir d e si própria, e não mediante outro, com o é o caso dos conceitos. Signo instrum ental— Classifica-se a partir da relação d o signo com a potência. O signo instrumental representa algo a partir d e uma cognição pré-existente d e si. Funciona com o instrumento para conhecer a cois$ que significa, assim com o o vestígio do lobo, se d ele já tivermos uma imagem, significa o animal que o produziu. Substância — Trata-se do substrato dos acidentes de um ser. A substância «está sob os acidentes, é fonte d e acção, revela aquilo que a coisa é [...] é aquilo que é em si e não noutro; é o que subsiste em si [...] aquilo d e qu e em prim eiro lugar e principalmente se diz que é, porque é, no plano ontológico, sujeito d e todas as determinações; porque é natureza, isto é, centro d e actividade, e essência, isto é, o qu e determina o ser a ser aquilo que é» . Termo — É o último elem ento que forma a proposição e oração simples. Trata-se d o signo convencionalm ente significativo a partir d o qual se elabora a proposição, e com preende tanto o termo mental, quanto o pronunciado ou escrito.
4 Celestino Pires, 1992, «Substância», in Logos— Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa, p. 1330.
292
•
B IB L IO G R A F IA D E ESTUDOS SOBRE J Ó Ã O D E S Ã O TO M Á S
A. G., 1944, -Notas: na Passagem do Terceiro Centenário da Morte de João de São Tomás», in Lum en, Revista de C u ltu ra d o C lero,
x ii ,
Lisboa,
pp. 661-663. A nônim o , A., 1944, «Traços Biográficos de João de São Tomás, Insigne Filó sofo e T e ó lo g o Português», in Estudos, Revista de C u ltu ra e F orm a çã o C atólicas, número especial 8-9, Coimbra, pp. 331-348. .A n ô nim o , B., 1944, -A Obra Filosófica e T eológica do Padre Mestre Frei João de São Tomás», in Estudos, Revista de C u ltu ra e F orm a çã o Católicas, número especial 8-9, Coimbra pp. 401-408. A lmeida , Fortunato de, 1970, H istória da Ig reja em P o rtu g a l, livro m, Livraria Civilização, Porto. A lves, Gabriel do Rosário, 1985, -Frei João de São Tom ás e S. Tom ás de Aquino. O Tratado da Aprovação», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa,
pp. 231-238,
B elisario, D. Tello, 1954, -El ente de razón según Juan de Santo Thomás», in Philosophia, pp. 344-351. B f.iif .ratf., Bruno, 1955, -Principais Contributos de Frei João de São Tom ás à Doutrina da Analogia d o Cardeal Caetano», in Revista Portuguesa de F ilosofia , xi, Braga, pp. 344-351. --------- , 1985, «Conceito de Existência em João de São Tomás», in A n to lo g ia de Estudos sobre João de Santo Tomás, org. d e Jesué Pinharanda Gom es, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 167-184, B lanes, Guil, 1956, «Las raices de la doctrina d e Juan d e Santo Tom ás acerca dei universal lógico», Estúdios F ilosóficos, Las Caldas de Besaya, pp. 418-421. Bo n d i , Eugene, 1966, *A study o f predication based on the Ars Lógica o f John o f St. Thomas», in The Thom ist, 30, pp. 260-294.
293
Carvalho , José G onçalo Herculano de, 1969, «Segno e significazione in Joâo de S. Tomás», in Estudos Linguísticos, vol. n, Atlântida Editora, Coimbra, pp. 131-168. --------- , 1995, «Poinsot’s Semiotics and the Conimbricenses», in Ensaios de H om enagem a Thom as Sebeok, Cruzeiro Semiótico, n.051 25-26, coord. Norm a Tasca, Fundação Eng. Antônio de Almeida, Porto, pp. 129-138, D eely, John, 1985, Tractatus de S ig n is — the S em iotic o f Joh n P oin sot, University o f Califórnia Press, Berkeley. D eusdado , Manuel Ferreira, 1978, A F ilosofia Tom ista em P o rtu g a l, Lello & Irmão, Porto. D oyle , John, 1953, “John o f St. Thom as and Mathematical Logic», in The New Scholasticism , 27, pp. 3-38. Fidalgo , Antônio, 1995, Sem iótica, a Lógica da C om u n ica çã o, Universidade da Beira Interior, Covilhã. Furton , Edward James, 1997, A M ed ieva l Sem iotic: R eference a n d Representa tio n in Joh n o f St. Thom as Tbeory o f Signs, Peter Lang, N ova Iorque. G arcia , Mário, 1985, -Reflexão sobre a Natureza e a Divisão d o Sinal na Lógica de João d e São Tomás», in A n tolog ia de Estudos sobre João de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gom es, ed. d o Instituto Amaro da Costa, Lisboa, pp. 277-281. G arcia , Prudêncio Quintino, 1886, «Comentários feitos à Sum m a Theologica de Santo T h om a z d ’A qu in o p o r T h e o lo g o s Portuguezes», in In s ti tu ições Christãs, revista da Academia de Santo Thom az d ’Aquino, vm,. Coimbra. --------- , 1979, A Teologia Tom ista em P o rtu g a l’ Lello & Irmão, Porto. --------- , 1985, «Fr. Joâo de São Tom ás e o Primado do Tomismo», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 197-214. G arrigou -Lagrange , R., 1945, «João de São Tomás, T e ó lo g o Português», in Verdade e Vida,
v ii ,
Lisboa, pp. 396-404.
G lanville , John, 1958, «Zabarella and Poinsot on the Object and Nature o f Logic», in R eadings in Logic, ed. Roland Houde, W illiam Brown, Dubuque. G omes, Jesué Pinharanda, 1985, Joã o de Santo Tom ás n a F ilosofia P ortu gu e sa d o Século XVII\ col. Biblioteca Breve, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa. G onçalves, Antônio Manuel, 1955, «Actualidade de Frei Joâo de São Tomás», in Revista Portuguesa de F ilosofia , xi, Braga, pp. 586-591. --------- , 1957, F re i Luís Poinsot, M estre C oim brão, sep. d o t. m das publi cações d o X XIII Congresso Luso-Espanhol, Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Coimbra, pp. 5-12. --------- , 1971, «Posição Doutrinai de Frei João de São Tomás», in A rqu ivos do C en tro C u ltu ra l Português, vol. íu, pp. 672-681, Fundação Calouste Gulbenkian, Paris. --------- , 1985, «O Tom ism o Indefectível de Frei João de São Tomás», in A n to lo g ia de Estudos sobre João de Santo Tom ás, org. de Jesué Pinharan da Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 85-92.
294
--------- , 1985, “O Curso F ilosófico de Frei João de São Tomás», in A n tolog ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 93-104. H ellin, José, 1957, La M etafísica de la Possibilid ad ’ Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Coimbra. K ane , Declan, 1959, “T h e Subject o f Predicamental Action according to John o f St. Thomas», in The Thom ist, 22, pp. 366-388. La v au d , M.-Benoit, 1928, «Jean de Saint-Thomas, Thom m e et 1’oeuvre», in In tro d u c tio n à la tb é o lo g ie de S a in t Thom as, André Blot, Paris, pp. 411-446. --------- , 1926, «Les maítres et modéles: Jean d e Saint-Thomas», in La Vie S piritu elle, pp. 387-415. M aritain , Jacques, 1922, A n tim od em e, Éditions de ia Revue des Jeunes, Paris. --------- , 1985, «Jean d e Saint-Thomas», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de S anto Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 267-276. M artins , Antônio Manuel, 1989, «Conimbricenses», in Logos, E n ciclop éd ia Luso-B rasileira de F ilosofia , Verbo, Lisboa. Martins , Mário, «Frei Joâo d e São Tom ás na História das Idéias Estéticas na Península», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 185-196. M asson , Richard, s. d., «Duns Scotus according to John o f St. Thomas: an appraisal», in D e D o ctrin a Joa n n is D u n s S coti (Acta Congressus Scotistici Internationalis O xon ii et Edinburghi), vol. iv, pp. 517-534. M enéndez-Reigada , Frei Ignacio, 1944, «Os Dons do Espírito Santo e a Con tem plação segundo Frei João de São Tomás», in Lum en, Revista de C u l tu ra d o C lero, xn, Lisboa, pp. 677-689. --------- , 1944, «No Terceiro Centenário da M orte de João de São Tomás», in A cçã o C a tólica , B oletim A rqu id iocesa n o, n.° 12, Braga, pp. 629-635. M ercier, Dume, 1903, «Prefácio», in Curso de P h ilosophia, Typographia da «Revista Catholica», Viseu, pp. 11-24. M ininni , Giuseppe, 1983, aIl Pensiero Linguístico in Tom m aso d ’Aquino», in L in g u ística M edievale, Adriatica Editrice, Bari, pp. 55-122. M o n d in , Battista, 1996, «Giovanni di S. Tommaso», in S toria delia Teologia, vol. ni, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, pp. 279-283. M orlion , Félix, 1944, «A Dialéctica de João d e São Tom ás Aplicada aos Problemas Actuais», in Estudos, Revista de C u ltu ra e F orm a çã o Católicas, número especial 8-9, Coimbra, pp. 349-362. M orency , Robert, 1946, V a ctiv ité a ffective selon Jean de S a in t Thomas, Editions de 1'Université Lavai, Quebeque. M oreno , Alberto, 1959, «Implicación material en Juan de Santo Tomás», in Sapientia, 14, pp. 188-191. --------- , 1963, «Lógica proposicional en Juan de Santo Tomás», in S a pientia, 18, pp. 86-107.
295
Múrias, Manuel, 1923, O Seiscentismo em Portugal, Tipografia da Gazeta dos Caminhos de Ferro, Lisboa. -------- , 1925, Cultura Peninsular no Renascimento, ed. da revista Nação Portuguesa, Lisboa. N oel, Léon, 1944, «A Obra Filosófica e Teológica de Frei João de São Tomás», in Estudos, Revista de C ultura e Form ação Católicas; número espe cial 8-9, Coimbra. O liveira , P.e João de, 1944, «Realismo de João de São Tomás e Nominalismo de Descartes», in Estudos, Revista de Cultura e Form ação Católicas, número especial 8-9, Coimbra, pp. 363-394. -------- , 1944, «Os Requisitos para Ser Verdadeiro Discípulo de São Tomás, segundo João de São Tomás», in Lumen, Revista Católica do Clero, viii, Lisboa, pp. 415-422. ---------, 1944, «Síntese Teológico-Filosófica do Conhecimento através da Obra de João de São Tomás», in Lumen, Revista Católica do Clero, xn, Lisboa, pp. 690-702. O nofre, Antônio de Jesus Soares, 1944, «Frei João de São Tomás, o Homem, a Obra, a Doutrina», in Lum en, Revista de Cultura do Clero, xn, Lisboa, pp. 664-676. P aquin , Jules, 1932, La lum ière de g lo ire selon Jean de Saint-Thom as, L'Imaculée-Conception, Montréal. Pola, M., G., 1972, «Juan de Santo Tomas o Juan Poinsot», in D iccion a rio de Historia Eclesiástica de Espana, vol II, Instituto Enrique Florez, Consejo* Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. Pontes, José Maia da Cruz, 1981, A n tôn io de Sena: um Português na História do Tomismo, Guimarães. ---------, 1992, «Tomismo em Portugal», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa. Prieto del Ray , Maurilio, 1965, «Significación y sentido ultimado: la noción de suppositio en la lógica de Juan de Santo Thomás», in Convivium , 19-29, pp. 45-72. Rendeiro, Francisco, 1944, -João de São Tomás Interpretando a Doutrina da Imaculada Conceição segundo S. Tomás de Aquino», in Lumen, Revista Católica do Clero, u, Lisboa, pp. 703-709. Romeo, Luigi, 1979, «Pedro da Fonseca in Renaissance Semiotics: A Segmen tai History os Footnotes», in Ars Semeiotica, 11, John Benjamin, Amesterdão. Salgueiro, Manuel Trindade, 1940, O Conhecim ento Intelectual na Filosofia de Fr. foã o de São Tomás; separata da Bihlos, vol. xvi, t. n, Coimbra. ---------, 1985, «Intelecto Agente e Intelecto Possível», in A ntologia de Estudos sobre fo ã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. do Instituto Amaro da Costa, Lisboa, pp. 105-118. Silva, Paula Oliveira, 1991, «João de São Tomás», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa. T homas, Ivo, 1950, «Material implication in John o f St. Thomas», in D om inican Studies, n.° 3.
296
T homas, John o f St., 1955, Outlines o f Form al Logic, trad. Francis Wade et al., col. Medieval Philosophical Texts in Translation, Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin. -------- , The M aterial Logic o f John o f St. Thomas — Basic Treatises, trad. Yves Simon, John Glanville, Donald Hollenhorst, The University o f Chi cago Press, Chicago, Illinois. T omás, Joâo de São, 1930-1937, Cursus Philosophicus Thomisticust Ars Ló gica Seu de Form a et Matéria Ratiotinandi, vols. i-rri, ed. P. Beato Reiser, Marietti, Sancte Sedis et Sacrae Rituum Congregationis Typographi, Turim. ---------, 1931-1964, Cursus Theologicus — opera et studio m onachorum quorum dan solesmensium, vols. i-v, Parisiis: Typis Societatis S. Joannis Evangelistae. -------- , 1944, «Habitação da Santíssima Trindade na Alma Justa», trad. anô nima, in Lumen, Revista Católica do Clero, xii, Lisboa, pp. 710-716. -------- , 1944, «A Acção Imanente», trad. anônima, in Estudos, Revista de Cultura e Form ação Católicas, número especial 8-9, Coimbra, pp 395400. -------- , 1951, The Gifts o f the H oly Ghost hyJohn o f St. Thomas, trad. Dominic Hyhes, Dominic, Sheed & Ward, Nova Iorque. -------- , 1930, Les dons de Saint-Esprit, trad. Raissa Maritain, Raissa, Éditions du Cerf, Juvisy. Vaz , Luís, 1985, «Lovaina, Encruzilhada do Espírito», in A ntologia de Estudos sobre João de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. do Instituto Amaro da Costa, Lisboa, pp. 65-72. V entosa, Enrique Rivera de, 1982, «Significación de Juan de S. Tomás en la historia dei pensamiento», in Actas do I Congresso Luso-Brasileiro de Filosofia, Revista Portuguesa de Filosofia, 38-n, Braga, pp. 581-592. V ílanova, Evangelista, 1987, H istoria de la Teologia Cristiana, .t. i e n, Biblioteca Herder, Sección de Teologia y Filosofia, Editorial Herder, Bar celona. W inance , Eleuthére, 1985, «Echo de la querrelle du psychologisme et de 1’antipsychologisme dans YArs Lógica de Jean Poinsot», in Semiótica. W inter, William, 1958, The M otive and the A ct o f D ivine Faith A ccording to John o f St. Thomas, Pontifícia Universitas Gregoriana, Roma. W o l ic k a , Elzbieta, 1979, «Notion o f Truth in the Epistemology o f John o f St. Thomas», in The New Scholasticism, n.° 53, pp. 96-106.
297
colecção
PENSAMENTO PORTUGUÊS
Últimas obras publicadas: LE A L CONSELHEIRO D om Duarte Edição critica, introdução e notas de Maria Helena Lopes de Castro Prefácio de Afonso Botelho O BRA FILOSÓFICA Francisco Sanches Prefácio de Pedro Calafate Tradução de Giacinto Manuppella, Basílio de Vasconcelos e M iguel Pinto de Meneses E N SAIO SOBRE A PSICOLOGIA, NOÇÕES ELEMENTARES DE FILOSOFIA E OUTROS ESCRITOS FILOSÓFICOS Silvestre Pinheiro Ferreira Prefácio de Maria Luísa Couto Soares Tradução de Rodrigo S. Cunha POESIA DO DIREITO. ORIGENS POÉTICAS DO CRISTIANISM O. AS LE N D A S CRISTÃS T e ó filo Braga Prefácio de M aria da Conceição Azevedo N O T A S SOBRE A N TE R O , C AR TAS DE PRO B LEM ÁTIC A E OUTROS TEXTOS FILOSÓFICOS A n tôn io Sérgio Introdução de Antônio Pedro Mesquita D IÁLO G O S DE A M O R Leão Hebreu Apresentação de João Vila-Chã, S. J. T R A T A D O DOS SIGNOS João de São Tomás Tradução, introdução e notas de Anabela Gradim Alves
Esta edição de T ra ta d o dos S ign os
foi executada na IMPRENSA NACIONAL-CASA D A MOEDA com uma tiragem de oitocentos exemplares. Orientação gráfica do Departamento Editorial da INCM. Acabou de imprimir-se em Novem bro de dois mil e um. ED. 130 000 2080 C Ó D . 245 023 000 ISBN 972-27-1100-8 Depósito legal n .° 172 125/01 www.inem .pl E-mail: [email protected] E-mail Brasil: [email protected]
TRATADO DOS SIGNOS Tradução, introdução e notas de ANABELA GRADIM ALVES
ÍNDICE
Introdução de A nabela G radim A lves ...........................................................
9
TRATADO DOS SIGNOS P re fá cio .......................................................................................................
37
Prólogo a toda a dialéctica em dois prelúdios............................... .............
39
ARTE DA LÓGICA
Livros das Sú m u l a s .................................................................................
Art.
L ivro
47
I. Definição do termo.............................................................
49
Art. II. Definição e divisão do signo........................... ..................
52
Art. III. Algumas divisões dos termos..................... ........................
55
Acerca do ente de razão e da categoria de relação ........................
65
zero .
Cap.
I. O que é em geral um ente de razão e quantos há............
69
Cap. II. O que é a segunda intenção, a relação de razão lógica, e quantas existem .........................................................
78
Cap. III. Por que potência e através de que actos é feito o ente d e ra zã o ..... ................................
83
7
Cap. IV. Se da parte das coisas reais se dão relações que sejam formas intrínsecas..............................................................
93
O que é requerido para que alguma relação seja categorial
100
Ltvro I. Do signo segundo a sua natureza.....................................................
111
Cap. V.
Cap.
£ Se o signo está na ordem da relação...............................
113
Cap.
II. Se no signo natural a relação é real ou de razão.............
128
Cap. III. Se é a mesma a relação do signo com o objecto e com a potência........................................................................
141
Cap. IV. De que modo são os objectos divididos em motivos e terminativos..................................................................
151
Cap. V. Se significar é formalmente causar alguma coisa na ordem da causalidade eficiente...................................................
166
Cap. VI. Se a verdadeira razão do signo se encontra no com portamento dos animais irracionais e nas operações dos sentidos externos.......................................................
175
Consequência e apêndice a todos os livros.................................................
185
Livro n. Acerca da divisão do signo..............................................................
189
Cap. Cap.
I. Se é correcta e unívoca a divisão do signo em formal e II.
instrumental.....................................................................
191
Se o conceito é signo form al...........................................
205
Cap. III.
Se a espécie impressa é signo form al.............................
213
Cap. IV.
Se o acto de conhecer é signo form al............................
220
Cap. V. Se é apropriada a divisão do signo em natural, con vencional e consuetudinário............................................ Cap. VI.
Se um signo consuetudinário é verdadeiramente signo ...
L ivro UI. Acerca das apercepções e con ceitos................................................ Cap.
225 231
237
I. Se as apercepções intuitiva e abstractiva diferem essen cialmentena natureza da cognição...................................
241
Cap. II. Se pode ser dada uma cognição intuitiva da coisa fisicamente ausente, seja no intelecto seja no sentido externo.............................................................................
256
Cap. III. De que modo diferem os conceitos reflexivos dos conceitos directos.............................................................
271
Cap. IV. Qual é a distinção entre conceito ultimado e não ultimado.................................................................................
280
Glossário............................................................................................................
287
B ib lio g ra fia .......................................................................................................
293
INTRODUÇÃO
I. VIDA
João de São Tomás 1 nasceu em Lisboa a 9 de A b ril de 1589, filh o de uma portuguesa, M aria Garcês, e de um diplomata austríaco, p ro vavelmente de origem francesa, Pedro Poinsot, então ao serviço do arquiduque Alberto da Áustria como secretário. Ainda m uito novo, João, também conhecido enquanto estudante como Ponçote ou Peixoto, segue para Coimbra c o m o irmão mais velho, Luís, inscrevendo-se na Faculdade de Artes da Universidade. Em 11 de Março de 1605fa z exame para bacharel, ficando aprovado nemine discrepante. Trindade Salgueiro 1 2, citando Q uètife alguns biógrafos, diz que recebeu o grau de laurea artium; outros, e, entre eles, Maritain, dizem -no mestre em Artes. O que recebeu de certeza, segundo os documentos do Arquivo da Universidade de Coimbra, fo i, com a idade de 16 anos, o grau de bacharel. Nesse mesmo ano, a 16 de Outubro, matriculou-se na Faculdade de Teologia, frequentando as aulas até finais do ano seguinte. Após
1 João d e Sào Tomás é o nome religioso adoptado por João Poinsot quando entra para a Ordem dos Dominicanos. Nos registos da Universidade de Coimbra encontra-se também o aportuguesamento do patronímico sob a forma de João Peixoto, ou Ponçote. Registe-se que, nessa época, dois outros homens utilizavam o mesmo nome religioso: Daniel Rindfleisch, um protestante polaco que acabará por tomar o hábito dos dominicanos (1600-1631); e um religioso espanhol que, pela mesma altura, ensina teologia em Salamanca (v. Francis W ade et al., John o f St. Thom as O utlines o j F orm a l L og ic Translator's In tro d u ctio n , Marquette University Press, 1955, Milwaukee, Wisconsin). 2 Salgueiro, Manuel da Trindade, 1940, O Conhecim ento Intelectual na Filosofia de Fr. João de S. Tomás, separata da Biblos, vol. xvi, t. ii , Coimbra, p. 16.
9
1606, nada mais consta nos arquivos universitários referente a João Poinsot, ao con trá rio do que sucedeu com o seu irm ão, Luis Poinsot, que também frequ en tou a universidade coim brã. O irm ã o m ais velho de João, Luís, n u n ca chegaria a s a ir de Portugal. Form ou-se bacharel em Artes e prestou provas n o mesmo dia que o seu irm ão. Nesse ano, a 14 de Outubro, no arquivo da universidade fa z-se referência à sua m a tricu la com o ou vin te de Instituta. N o p rim e iro dia do mês de O utubro de 1610, tom a a fa z e rs e referência ao seu nome, quando se m atricula na Faculdade de Teologia, agora já com o religioso da Ordem da Santíssima Trindade. Luís form ou -se em 2 7 de O utubro de 1618, vind o alguns anos m ais tarde a ser nom eado professor da mesma fa cu ld a d e onde estudara, em 1637. Q uanto a João Poinsot, Trindade Salgueiro 3, ao com entar as razões que o levaram a d eixa r o País, supõe que s ó em 1608p a rtiu pa ra a Bélgica, cham ado p o r seu p a i, que pa ra a li havia acom panhado o arquiduque Alberto, nom eado em 15S>8governador dos Países Baixos, depois de.casar com a in fa n ta D . Isabel, filh a de F ilip e Uk A panhar-se-á d e.novo o rasto de João em Lovaina, ã época um im portante centro teológico-filosófico da escolástica, e onde João cursa Teologia, tendo sido con d iscíp u lo de C om élio Jansénio. N a qu a lid a d e de. candidato ao bacharelato bíblico, que acabaria p o r com pletar em 12 de Fevereiro de 1608, João fa z ia na Universidade de Lovaina um p rim eiro exam e sobre o tema D e concursu liberi arbitrii. Pou co tempo depois, ainda em Lovaina, vem a conhecer Tomás de Torres, um mestre célebre no seu tempo, dom inicano espanhol e antigo aluno do convento de Santa M aria de Atocha, em M adrid.João, ligado p o r fortes laços de am izade ao d om inicano, resolveu, certam ente p o r sua in fluência, en tra r na Ordem dos Pregadores. P o r p o u co tempo, pois, esteve P o in s o t em L ova in a depois de te r co n c lu íd o o seu bacharelato bíblico, já que o vamos en con tra r em 17 de Julho de 1609 a tom a r o hábito d om in ica n o em Santa M a ria de A tocha, escolhendo o nom e com que passará a ser conhecido — João de São Tomás. Passado um ano, fa z ia a sua profissão religiosa. O Iisbonense prossegue os seus estudos e é nom eado le ito r de Artes e mestre de estudantes de Atocha. O D ou tor Profu n d o in icia va a sua vida de m agistério a ensinar Teologia, ca rreira que p o r um breve p eríod o prosseguiu em Placência, sendo cham ado novam ente para A tocha, sempre com o professor de lições teológicas. Os seus dotes intelectuais acabaram p o r não passar despercebidos aos demais e em
1625f o i enviado pa ra A lca lã de Henares, em cujo convento ensinou p o r longo tempo, p rim eiro Filosofia e m ais tarde Teologia. Em 1630, Pedro de Tapia deixou a cadeira de Véspera pa ra passar à de Prim a, e p a ra o seu lu ga r f o i convidado o d om in ica n o português. D urante onze anos regeu João de São Tomás essa cadeira, passando em 1641 pa ra a cadeira de Prim a, m udança essa provocada pela p rom oçã o de Pedro de Tapia a bispo de Segóvía. A fa m a da profundidade e subtileza do d om in ica n o cresce e João vai conhecer, p o r nom eação de Filipe IV, um novo pa pel — o de in qu isid or de Costela e Aragão. Não é de surpreender que lhe fosse com etida ta l tarefa, pois a Ordem dos D om inicanos quase detinha o m onopólio do exercício do braço arm ado da Igreja. Em meados de 1643, os traços de personalidade de João de São Tomás concorreram , definitivam ente, p a ra a decisão de Filipe IV em escolhê-lo p a ra seu confessor p a rticu la r. João tentou tudo p a ra evitar que se cum prisse esta decisão régia, chegando mesmo a alegar que, p o r serportuguês, não era personagem indicada p a ra o cargo. Debalde tentou evitar a honra, pois acabaria p o r ter de submeter-se à disciplina religiosa, nada m ais lhe restando senão abandonar a quietude dos claustros e acom pa n h a r o re i à sua corte. Reiser, referindo-se à biografia elaborada p o r Ram írez, confrade e contem porâneo de João de São Tomás, conta que, desesperado, quando recebe ordem definitiva de segu ir p a ra a corte, terá exclam ado: -Actum est, patres, de vita mea. Mortuus sum. Orate pro me.» Estas palavras prem onitórias leva ram mesmo alguns biógrafos posteriores a supor qu e João tivesse sido assassinado p o r envenenam ento, todavia parecem não sub sistir quaisquer fundam entos pa ra esta suspeita. A in d a de acordo com Ram írez, João de São Tomás só se irritou , verdadeiram ente, duas vezes em toda a sua vida. Q uando os padres capitulares de A tocha o elegeram, p o r duas vezes, p rio r. D e ambas recusou veementemente, p ois gostava demasiado de A lca lã e do ensino para os troca r p elo governo das com unidades religiosas. Com o tal, não é de estranhar a sua perplexidade quando soube do interesse do rei em nom eá-lo p a ra um cargo de tanta responsabilidade e a que estava conferido m uito poder. Além do mais, a época de tais sucessos era conturbada e o rein o atravessava um a verdadeira convulsão. A independência de Portugal, em 1640, a revolta separatista da Catalunha, qu e teve o apoio de Richelieu, o inevitável afastam ento do conde-duque de Olivares, qu e d irig iu com mão de fe rro os negócios do Estado com o prim eiro-m in istro, caído em desgraça, m arcavam a turbulenta con ju n tu ra qu e se vivia então. Sem dúvida, João de São Tomás, que n unca tinha dem onstrado qu a lqu er interesse pela vida fo ra da quietude dos claustros, sofreu
11
um grande desgosto quando f o i sondado, em 1643, p elo m inistro Luis de H aro, p a ra v ir a ocu pa r o cargo de confessor régio. A o m inistro, João respondera que havia um assunto prévio a resolver, a saber: se o rei estava disposto a o u v ir a verdade e a segui-la. F ilip e TV parece não se ter ofendido com tal exigência e deixou o d om in ica n o regressar a A lca lá pa ra recom eçar as aulas, mas com ordem expressa de se apresentar em M ad rid no D om in go de Ramos. A vida dedicada ao ensino tinha term inado e o fra d e português viu-se num ápice a p a r ticip a r num a vida p ú b lica de que semprefiz e ra questão de se alhear. D ois pedidos ao re i in icia m esla travessia: p rim eiro, que ja m a is se lem bre de lhe conceder qualquer dignidade; e em segundo lu g a r que lhe seja d im in u íd o o seu vencim ento anual, red u zirid o-o ao estri tam ente indispensável. O resto do dinheiro, o re i m a n d á -lo-ia d ar aos pobres. P o r p ou co tempo f o i João confessor do rei. A 2 0 de M a io de 1643 recebera em A lca lá a missiva régia nom eando-o confessor de F i lipe IV , com ordem de se apresentar na ca p ita l nesse mesmo dia. Passados escassos dezoito mesesJoão de São Tomás v iría a sucum bir em Saragoça, acom etido de altas febres, com a idade de 5 5 anos. Conta ainda R am irez que fa leceu na p len itu d e da sua crença e f é inabaláveis e que, pressentindo a chegada da hora fa tíd ica , ocupou os seus últim os momentos orando.
n. OBRA
As p rin cip a is obras deJoão de São Tomás fo ra m redigidas durante os anos de docência, e publicadas, p a rte delas, ainda em vida do autor. Os trabalhos fundam entais que d eixou são os m onum entais cursos Filosófico e Teológico, mas o a u tor escreveu a ind a pequenos estudos de m enor fôlego, casos de Explicación de la Doctrina Cristiana, que conheceu várias edições4, nom eadam ente Valência (1644), Alcalá (1645), Saragoça (1645), A ntuérpia (1 6 5 1 ) e Rom a (1633)- Esta obra teve a ind a um a tradução latina, Compendium Doctrinae Christianae, editada em Bruxelas em 1658; e um a versão portuguesa que recebeu o títu lo Explicaçam de Doutrina Christâ, publica d a em Lisboa em 1654. Segue-se Pratica y Consideración para Ayudar a Bien Morir, editado em Saragoça em 1645, que conheceu ain d a um a edição italiana, pu blicad a em Florença e datada de 1674, Pratica e Con-
4 Isto seguindo o trabalho Frei
João de São Tomás»,
Coimbra, 1944.
12
«A
Obra Filosófica e Teológica do Padre Mestre
publicado no número especial 8-9 da revista Estudos,
siderationi per Ajutare e per Disporsi a Ben Morire. O ú ltim o destes pequenos tratados, João p u b lica -o já na qualidade de confessor do rei. Trata-se do Breve tratado y muy importante, que por mandado de su Magestad escrevio ei reverendissimo Padre Fray Juan de Santo Tomas, para saber hacer confessión general. O trabalho de Estudos que temos vindo a acom panhar refere ainda q u e «escreveu um a carta ao Padre G eral a defender-se e a explicar-se sobre as afirm ações que fiz e ra no Cursus Theologicus sobre a D o u trin a da Im a cu la d a C onceição, assunto sobre qu e tinha sid o d en u n cia d o n a cú ria generalícia. João fo ra acusado de ensinar um a d ou trin a con trá ria à de São Tomás-. O Curso T eológico é considerado a p rin cip a l obra do D o u to r Profundo, tendo sido parcialm ente — três dos oito volum es que o constituem — editado em vida do autor. Este trabalho, à sem elhança do Curso Filosófico, conheceu várias edições de con ju n to, das quais se destacam: a de Lyon, em 1663, em sete volumes; a de Colônia, publica d a em 1711, em oito volumes; e um a publica d a em Paris, conhecida com o edição de Vivés, publicada em dez volumes entre 1883-1886. Finalm ente surgiu, em 1933, o cuidada edição dos Be neditinos de Solesmes que, à sem elhança do trabalho de Réiser pa ra o Curso Filosófico, preserva o texto clássico da obra do d om inicano. Q uanto ao Curso Filosófico, ele constitui a p rim eira obra de fo ã o de São Tomás. Tendo sido in icia lm e n te p u b lica d o em volum es separados, conhecerá depois várias edições gerais, três das quais publicadas a ind a em vida d o a u tor e p o r ele revistas: A lcalá, 1631-1635; Roma, 1637-1638; e C olônia, 1638. Editada pela últim a vez p o r Reiser, nos anos 30, com o nom e de Cursus Philosophicus Thomisticus, a obra, em três volum es que perfazem 2215páginas, encontra-se dividida em Artis Logicae e Naturalis Philosophia; sendo que a Lógica com porta tam bém duas divisões. D e dialecticis institutionibus, quas summulas vocant e De instrumentis logicaltbus ex parte materiae. Estes textos de filosofia , que versam sobre as m atérias leccionadas p o r João de São Tomás, são m aioritariam ente compostos p o r com entários às obras de Aristóteles, adoptando um pon to de vista m uito p ecu lia r: o Filósofo é com entado e ilum inad o a p a rtir da d ou trin a de S. Tomás de A qu in o, de quem João se considerará toda a vida um hum ilde discípulo. A ordem de exposição e tratam ento adaptada também é tipicam ente escolãstica: cada Livro ou Quaestio tem p o r tem a g en érico um a questão, que ê explorada em artigos, também eles subordinados a um problem a p a rticu la r. N a p rim eira parte de cada artigo, João de São Tomás responde à questão que lhe dá tema, enum era as posições mais com uns sobre o assunto, m uitas vezes de adversários que não
13
cuida de identificar, as quais pode ou não con firm a r com as suas conclusões, e trata de estabelecer com segurança e clareza a posição que considera dever ser mantida. Num segundo momento, solvuntur argumenta, levanta e resolve, de acordo com a doutrina que sustenta, as objecções que poderíam surgir ãs posições adaptadas. As duas divisões da Lógica correspondem ã lógica fo rm a l e ã ló gica m aterial. Como João de São Tomás explica no seu prefácio, -•resumimos as divisões da Lógica em duas partes: na prim eira tratamos de todas as coisas que pertencem à form a da arte Lógica e ã prim eira resolução, das quais trata Aristóteles nos livros De Interpretatione e nos A nalíticos Anteriores, e que nas Súmulas tratamos para p rin cipiantes. Na segunda parte tratamos do que pertence ã matéria lógica ou à resolução posterior, especialmente na demonstração, para a qual principalm ente é ordenada a Lógica.» Esta vocação de m anualpara estudantes do Curso Filosófico notas e bem no estilo de João de São Tomás, claro, pedagógico, descom prom etido, cheio de redundâncias destinadas a d irim ir obscuri dades, frases longas e, p o r vezes, mesmo circulares. Tal não surpreende num homem que declara p u b lica r apenas para s e rv ir a in qu iriçã o da verdade, que d iz respeito à doutrina e não a pessoas», e que acredita que nos «ouvintes» *a d ou trin a é m ais fa cilm e n te ins-, tilada quando é estudada não em termos de discussões de autores e autoridade, com o quando é estudada somente em termos de luta pela verdade». Além de sucessivas edições após a morte do autor, as obras deJoão de São Tomás conheceram também um núm ero sign ifica tivo de traduções. D o Curso Teológico f o i realizada um a versãofrancesa do tratado -Os dons do Espírito Santo», pertencente ao tom o v e surgida em Paris em 1930, tradução essa elaborada p o r Raíssa M aritain. Em 1928 surge em Paris um a edição parcial, em francês, do volume i; e em 1948 é dada à estampa em M adrid uma edição p a rcia l do tom o v, em espanhol. Em 1951 é editada em Nova Iorqu e uma versão am ericana do mesmo tom o do Curso Teológico. D o Curso Filosófico existem três traduções parciais, todas elas edi tadas nos Estados Unidos e consultadas na realização deste trabalho. Trata-se, em p rim eiro lugar, de uma versão p a rcia l da segunda parte da Lógica, que f o i publicada em Chicago em 1955 com o título de The Material Logic o f John o f St. Thomas — Basic Treatises5; no
5 Thomas, John o f St., 1955, The Material Logic ofjohn ofSt. Tbomas— Basic Treatises, trad. Simon, Yves, Glanville, John, e Hollenhorst, Donald, The University o f Chicago Press, Chicago, Illinois.
14
mesmo ano surge, pela mão de Francis Wade, uma tradução p a rcia l da p rim eira parte da lógica, Outlines o f Formal L o gicfin a lm en te, à segunda parte da Lógica pertence também o Tractatus de Signis — the Semiotic o f John Poinsot, edição bilingue am ericana do Tratado dos Signos, da autoria de Jobn Deely, surgida em Indiana em 1985 e que constitui a últim a edição de um texto de João de São Tomás. Os melhores trabalhos do autor, e porventura os mais acessíveis, datam dos anos 30 e são compostos quer pela cuidada edição de Reiser do Curso Filosófico, quer pelo trabalho dos Beneditinos de Solesmes na preparação de uma edição geral do Curso Teológico, que se fa z acom panhar p o r copiosos estudos sobre o dom inicano. O Cursus Philosophicus Thomisticus não com enta apenas Aris tóteles, mas p o r vezes também outros clássicos de lógica, com o o Isagoge, de Porfirio. João não cuida de inovar, apenas comentar, explicitar e tom a r claros osfilósofos ã lu z dos ensinamentos de Tomás de Aquino, de quem deseja -não só seguir a solidez e im ita ra doutrina, mas também em ular a ordem, brevidade e modéstia-. E éprecisamente no que respeita ao Tratado dos Signos que se afasta do esquema do com entário, tão caro a toda a Idade Média. João já a n u n cia ra que trata as questões m ais simples, para principiantes, nas Súmulas, e que explora os aspectos mais complexos e intricados destas na quaestio correspondente. Assim fa rá também com o signo, um a questão que apresenta tantas dificuldades que, em Vez de um com entário ao De Interpretatione, de Aristóteles, decide p u b lica r um tratado separado, versando só esse tema: o Tratado dos Signos, que apresenta na segunda parte da Ars Logicae, dividido em três quaestiones: De Signo Secundum Se, De Divisionibus Signi e De Notitiis et Conceptibus.
n t EDIÇÃO DO TRATADO DOS SIGNOS
Apesar de pertencer ao século xvu, João de São Tomás perm anece um m edieval no espírito, estilo, convicções e form a de expressão, e o seu trabalho representa o que de mais apurado a escolástica peninsular produziu. Todavia, em termos de condições de produção, João deve decididam ente ser classificado entre os modernos, p ois a sua obra já não está lim itada pelas restrições que se im punham aos autores6
6 Thomas, John o f St., 1955, Outlines o f Formal Logic, trad. Wade, Francis, et al., col. -Medieval Philosophical Texts in Translation-, Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin
25
medievais: idealização, realização de m anuscritos e cópia laboriosa dos mesmos. Estefa c to acabou p o r sim p lifica r o presente trabalho. Na verdade, não existem origin a is da obra de João de São Tomás, dado qu e o a u to r acom panhou e pôd e rever p e lo m enos as p rim eira s três edições do seu Curso Filosófico, e terá destruído ou ignorado os m anuscritos p o r os considerar de pou ca im portância após p u b li cados. Assim sendo, a tradução e edição a q u i apresentada baseia-se na segunda reimpressão do Curso Filosófico, editada p o r Reiser e publica d a em Itá lia p o rM a rie tti, entre 1930-1936. Trata-se da últim a edição com pleta do Curso Filosófico, que levou perto de sete anos a ser preparada p o r Reiser, e onde se fix a o que pode ser considerado o texto clássico d o D o u to r Profund o. Q uanto à p rim e ira p a rte da Ars Logicae, Reiser u tilizo u p a ra a fix a çã o do texto a edição de Rom a de 1637, enquanto pa ra a segunda p a rte u tiliza a edição de M ad rid de 1640, explicando ta l decisão p elo fa c to de serem estes os trabalhos m ais fiá veis surgidos em vida do autor, «cui ultima ipsius auctoris manus accessit*. Refira-se ainda que Reiser, no seu trabalho, cita, em nota de rodapé, as variações relevantes ao texto que trabalha, surgidas nas edições de Lyon de 1663, e de C olônia em 1638; notas essas que fo ra m ignoradas, n o presente trabalho. P erten ce tam bém a Reiser o m on u m en ta l trabalho de re fe rir as referências bibliográficas, p o r vezes obscuras, que João de São Tomás fa z a outros autores, ã obra e respectivo loca l onde pod em ser encontradas, socorrend o-se p a ra tanto, fu n d a m entalm ente, da edição Rom ana Leonina e da edição de Parm a da obra de S. Tomás de A qu ín o. Seguindo-se fielm en te o texto de Reiser, ã excepção das notas, tom aram -se a qu i com o boas as referências a essas obras. Im portante é saber quem descobriu ou cu n h ou a expressão Tratado dos Signos p a ra designar a centena e m eia de páginas dedicadas p o r João de São Tomás a este assunto. Apesar de os prim eiros trabalhos sobre o tem a rem ontarem a M a rita in 7, Deely, que editou e tra d u ziu pela p rim eira vez a obra, tom ou a expressão, retirada do p róp rio Cursus Philosophicus Thomisticus, de uso corrente. Nesta p rim eira edição autônom a do Tratado dos Signos, o Tractatus de Signis — the
7 Maritain, Jacques, 1939, *Signe et Symbole*, incluído na obra Quatre essais sur Vesprit d a m sa condition chamelle, Paris; e Herculano de Carvalho, 1969, «Segno e significazione in João de S. Tomás*, Estudos Linguísticos, vol. n, pp. 131-168, Atlântida Editora, Coimbra; e os caps. 7 e 8 da Teoria da Linguagem: Natureza do Fenômeno Linguístico e Análise das Línguas, t. i, Atlântida Editora, 1967, Coimbra.
16
Semiotic o f John Poinsot, dada à estampa em 1985, D eely explica cjue as Quaestiones XXI, XXII e XXIII do Curso Filosófico, que o compõem, fo ra m assim baptizadas pelo próprio João de São Tomás. De fa cto , o dom inicano, na introdução a toda a Lógica, d irigid a ao leitor, e tam bém na in trod u çã o à segunda p a rte da Lógica, d iz claram ente que em vez de um com entário ao D e Interpretatíone aristotélico, que se lim ita rá a resum ir em poucas páginas, prefere p u b lica r ,u m «tratado acerca dos signos e apercepções», que remete para o fin a l da segunda pa rte da Lógica, devido às extraordinárias dificuldades que ta l assunto encerra, dando contudo ao tema um tratam ento m uito geral, pa ra principiantes, no in íc io dos livros das Súm ulas8. A expressão Tractatus de Signis f o i pois inventada e proposta inicialm ente p o r João de São Tomás, segundo o qual, além das a lu sões feita s ao tema nos três p rim eiros artigos das Súmulas, o Tratado dos Signos é composto p e t o Quaestiones XXI, XXII eXXHI da segunda parte da Lógica do Curso Filosófico, intituladas, respectivamente, Do signo segundo a sua natureza, Acerca da divisão do signo e Acerca das apercepções e conceitos. John Deely, porém , fa z uma selecção m ais abrangente na sua apresentação do Tratado dos Signos, considerando, além das três quaestiones expressamente nomeadas p orJoã o, ser necessário atentar ainda, na segunda p a rte da Lógica, nos artigos i, n e tv da Quaestio II — D e ente rationis logico e nos artigos i, n e m da Quaes.tio XVII — De praedicamento relationis. Nesta sua opção, Deely segue
8
«Quanto a estas dificuldades metafísicas e outras d os livros D a Alma, que
o ardor das disputas levou a introduzir no início dos livros das Súmulas, levei-as para local próprio, e desenvolvemos na Lógica, acerca d o D e InterpretatUme, um tratado acerca dos signos e apercepções*; .Cobrimos aqui, como prometemos, as várias questões tradicionalmente tratadas na primeira parte da Lógica, excepto, p or boas razões, o Tratado dos Signos, cheio com tantas e tão extraordinárias dificuldades; e assim, para libertar os textos introdutórios da presença destas dificuldades incomuns, decidimos publicá-lo separadamente em lugar de um comentário ao D e Interpretatíone e junto com as questões d o s Analíticos Posteriores; e para um uso mais conveniente separamos o Tratado dos Signos da discussão das Categorias* (João de São Tomás, in Tratado dos Signos). -Ad baec metaphysicas dijficultates pluresque alias ex tibris de Anima, quae disputantlum ardore in ipsa Summularum cunabula irruperant, suo loco am andavim us et tractatum d e signis et notitiis in Lógica super lib m m Periherm enias expedimus*; «Q u o d in prima Logicae p a rte prom isim us de quaestionibus plutíbus, quae íbi tractari solent, bic expediendis, plane solvimus, excepto qu od íustis de causis tractatum de signis, pluríbus nec vulgaribus dijjicultatlbus scaturientem, ne bic itiiectus aut sparsus gravaret tractatus alio satis p e r se graves, seorsum edendum duxim us loco com m entarU in llbros Perihermenias simul cum quaestionibus in libros Posteriomm, etpro commodiori libri usu a tractatu Praedicamentomm seiimximus.»
17
as instruções de João de São Tom ás no p re fá cio à 4.a ed içã o da segunda p a rte da Lógica, onde a firm a qu e o Tratado dos Signos só d everá ser a b ord a d o «d epois d o co n h e cim e n to h a in d o a c e r ca d o en te de ra zã o e ca te g o ria de rela çã o» 9, p recisa m en te as duas Quaestiones onde D eely fa z um apanhado dos artigos m ais relevantes, transform ando-os, respectivam ente, e m «First Pream ble: O n m in d -d e p e n d e n t b ein g »; e «S econ d P rea m b le: O n re la tio n », qu e apresenta separadam ente dos três livros qu e constituem o Tratado p rop ria m en te d ito. Esta opção e d ito ria l é absolutam ente necessária, já que seria praticam ente im possível com preender o Tratado dos Signos sefPi p rim eiro,in vestiga r o q u e é d ito no Curso Filosófico sobre o ente de ra zã o. e a ca tegoria de relação. P o r esta ra zã o, os c in c o artigos m ais im portantes dessas duas questõesfo ra m in trod u zid os na presente ed içã o d o Tratado sob a designação de Livro Zero, sendo im porta n te sa lien ta r que este Livro Z e ro n ã o perten ce p rop ria m en te ao D e Signis, mas a grupa alguns artigos das Quaestiones II e XV II da segunda p a rte da L ó g ica , respectivam ente D e ente rationis lo g ic o e D e praedicamento relationis, e que constituem um m ín im o fu n d a m e n ta l p a ra a com preensão e in terpreta çã o do Tratado, em bora ta l selecção n ã o esgote, de todo, o m a n a n cia l de problem as e in form a çã o qu e p od ería ser extra íd o do Curso Filosófico.
9
«M as p o rq u e todas estas coisas sâo tratadas nestes livros p o r m eio d a
interpretação e significação, e visto qu e o instrumento da lógica é o signo, d e qu e constam todos os seus instrumentos; p òr isso, paréceiTrhelhor agora, em vez d á doutrina destes livros, apresentar aquelas coisas destinadas a ex p o r a natureza e divisão d os signos, qu e nas Súmulas foram introduzidas, e para aqui, portanto, foram reservadas. Agora porém neste lugar com toda a razão se introduzem, depois do conhecimento havido acerca do ente de razão e categoria da relação, dos quais principalmente depende esta inquirição sobre a natureza e essência dos signos. Para q u e o assunto mais clara e frutuosam ente seja tratado, achei p or bem separadamente acerca disto fazer um tratado, em vez de reduzir e incluir a questão na categoria da relação, p ara q u e a discussão d a re laç ão n ão se tornasse redundante e enfadonha pela introdução deste tema exterior; e tam bém para qu e a consideração d o signo n ão se tomasse mais confusa e breve» (itálico nosso) (João d e Sâo Tomás, in Tratado dos Signos). - Sed tamen, qu ia ha ec om n ia tractaritur in his libris p e r m o d u m interpretationis et significatíonis, com m un e siquidem Logicae instrumentum est signum, q u o om n ia eius instrumènta constat, idcirco visum est in praesenti pro doctrina horum librorum ea tradere, quae a d explicandatn naturam et divisiones signorum in Summulis insinuuta, b u c vero reservata sunt. N u n c autem in hoc loco g e n u in e introducuntur, post notitiam h a bita m d e en te rationis et praedicamento relationis, a quibusprincipaliter dependet inquisitio ista de natura et quidditate signorum. Ut autem clarius et uberius tractaretur, visum est seorsum d e hoc edere tractatum, nec solum adpraedicam entum relationis illud reducere, tum ne iUiuspraedicamenti disputatio extraneo hoc tractatuprolixior redderetur et taediosior, tum ne istius considerado confusior esset et brevior. *
18
P o r ú ltim o, resta re fe rir as alterações à fo rm a do Curso F ilosófico a que se p roced eu nesta apresentação d o D e Signis. Os três p rim eiros capítulos das Súm ulas; passaram , n a versão portuguesa, a artigos, devido à sua extensão m ín im a . ^45 três Quaestiones q u e com põem o Tratado dos Signos recebem a q u i o n om e de Livros, tendo-se-lbe alterado a num eração o rig in a l p a ra i, u e in. O L iv ro Zero, com o já f o i dito, é con stitu íd o pela a glu tin a çã o de alguns artigos de duas Quaestiones distintas e é, de certa fo rm a , e x te rio r ao qu e João de São Tomás pretend ia fosse o seu tratado. Q uanto aos artigos que, na versão la tin a , com põem um a Quaestio, são a q u i cham ados capítulos, p o r ser essa a divisão m ais n o rm a l e corren te de um livro.
IV. O TR A TA D O DOS SIGNOS
O Tratado dos Signos, que ocupa p erto de cen ten a e m eia de páginas do Curso Filosófico, é riquíssim o em term os de conteúd o e, é im p orta n te fris á -lo , a despeito das intenções e m odéstia de João, p rofu n d a m en te o rig in a l no tratam ento de alguns conceitos. Q p a n to à origin a lid a d e, podem os con sid era r que a sua in ova çã o1' m ais ra d ica l está em ter, pela p rim eira vez, en ca ra d o a sem iótica corno um a p rob lem á tica a utônom a da q u q lto ã ó s o s outrõs tipos de con h ecim en to dependem : as m odelizaçoes do m und o dependem d o ' uso adequado de sisnos form ais, enquanto os d om ínios qu ese prendem 'com a intejsubjeçtjvid qd e_e com -a s form a s d e^Q rn u m cõçã n estãn , deperidentes^ dos signos instrum entais. A semiose é en tã o con d içã o p ré v ia à in tera cçã o com o m u n ã õ ê fjc T n u m p q ta m a r su p erior de percepção, à com u n ica çã o en tre indivíduos. João de São Tomás com preendeu, e isso n u n ca a té en tã o sucedera, que a Lógica precisava de re cu a r p a ra um p o n to a n te rio r ao q u e era o tratam ento habitual, de inspiração aristotélica, dado a esta ciên cia : análise dos term os eproposições, das categorias e tipos de ra c io c ín io 10. D a í que «et in universum omnia instrumenta quibus ad cognoscendum et loquendum utimur, signa sunt, ideo, ut logicus exacte cognoscat instrumenta sua, oportet qu od etiam cognoscat quid sit signum» con stitu a o cerne do progra m a de estudos que orien ta a exploração d o Tratado. É nova esta tom ada de con sciên cia do ca ra cte r p ro p ed êu tico d a sem iótica relativam ente a todas as outras ciências, bem com o a id en tifica çã o, p o r M ia dos signos form a is, de toda a vida p síq u ica com processos de semiose. João irá su b su m ir toda a vida
10 D eely, John, 1985, Tractatus de Signis — University o f Califórnia Press, Berkeley.
tbe Semiotic õ f John Poinsot,
19
m ental à u tiliza çã o de signos, p o r m eio dos quais, e m eio exclusivo p elo qual, o hom em conhece. E esta é a razão da im portância fu n d a dora que a trib u i à sem iologia, e que o m otiva p a ra escrever o tratado. P o r ou tro lado, e fru to da im portância que lhe atribu i, é notável a extensão e o vigor da sua preocupação sem iológica, e esta é também um a inovação ra d ica l inteiram ente da lavra de João de São Tomás. O Tratado dos Signos ocupa perto de centena e m eia de páginas do Curso Filosófico, fa d o que só assume o devido relevo se se recordar que, p o u co antes, Pedro da Fonseca, nas Instituições Dialécticas, dedica perto de cin co páginas a analisar o signo e os problem as a ele atinentes, ao passo que Sebastião do Couto e Pedro M argalho lhe concedem ainda menos espaço. A p rim e ira preocupação do Tratado dos Signos, seguindo aliás um a te rm in o lg ia já estabelecida na escolástica p e n in s u la r, é taxonóm ica. Os tipos e qualidades de signos segundo João de São Tomás são analisados no segundo a rtigo das Súmulas, no in íc io da Ars Logicae. Signo é definido com o a qu ilo que representa à p otên cia cognoscente algum a coisa diferente de si, fó rm u la que encerra um a crítica explícita à d efinição agostiniana de signo, a q u a l ao in voca r um a fo rm a (species) presente aos sentidos, se refere ao signo ins trum ental, mas não ao form al, que é in terior ao cognoscente e portanto nada acrescenta aos sentidos. Ê assim que, n o dom ínio da significação, aquele onde surgem os diversos tipos de signos, só se pode operar fo rm a l e instrum entalm ente, p orqu e sig n ifica r é to m a r algum a coisa distinta de s i presente ao intelecto, e desta fo rm a o acto de sig n ifica r e x clu i a representação, porqu e a í um a coisa «significa-se» a si própria. É nesta crítica explícita a Agostinho que o p rojecto de João se virá a assum ir com o um a proposta sem iológica suficientem ente abrangente p a ra ser considerada m oderna, p ois p ela p rim e ira vez se intenta fo rn e c e r um a explicação com pleta dos fen ôm en os sem ióticos. A o considerar estas duas e tão distintas espécies de signos, o trabalho do D o u to r P rofu n d o contem pla, sim ultaneam ente, a vertente da sign i fica çã o — a qu ilo pelo que o signo sign ifica algo e a fo rm a com o nos perm ite estruturar a experiência hum ana — e a da com u n ica çã o— enqu a n to veículos que servem a to m a r o objectivo e o subjectivo intersubjectivos. A o estabelecer que nem só a qu ilo que representa outro de fo rm a sensível é signo, consegue-se u n ir na mesma ordem de fenôm enos sem ióticos palavras e idéias, vestígios e conceitos, os quais servem, respectivam ente, p a ra co m u n ica r e p a ra estruturar um a im agem do m undo. João de São Tomás divide e classifica os diversos tipos de signos, que se situam no d om ín io da significação, adoptando duas pers pectivas distintas. D a perspectiva do sujeito cognoscente, enquanto o
20
signo é encarado na sua relação a o intelecto que conhece, divide-se o signo em fo rm a l e instrum ental. O signo fo rm a l é constituído pela apercepção, que é in te rio r a o cognoscente, n ã õ é con scien te e representa algo a p a rtir de si. Tem porta n to a capacidade de to m a r presentes objectos diferentes de s i sem p rim eiro te r ele p ró p rio de ser objectifiçado. O signo instrum ental é o objecto ou coisa que, exterior ao cognoscente, depois de conscientem ente conhecido lhe representa algo distinto de si próprio. A segunda perspectiva adoptada p o r João de São Tomás pa ra classificar os signos é o p on to de vista em que estes se relacionam ao referente. Nesta perspectiva, d ividem -se os signos em naturais, convencionais e consuetudinários. O signo na tu ra l é aquele que pela sua p róp ria natureza sign ifica algum a coisa d istinta de si, e isto independentem ente de qu a lqu er im posição hum ana, razão pela qu a l sign ifica o mesmo ju n to de todos os botnens. O signo con ven cion a l é aquele que sign ifica p o r im posição e convenção hum ana, e assim não representa o mesmo ju n to de todos os homens, mas só significa pa ra os que estão cientes da convenção. O signo consuetudinárto é aquele que representa em virtude de um costume m uitas vezes repetido, mas que não f o i objecto de um a im posição p ú b lica explícita. Depois das definições introdutórias dadas nas Súmulas, João de São Tomás passa a exp lica r em que consistem as relações secundum esse / secundum díci, que u tiliza pa ra analisar os signos, conceitos estes que sefilia m directam ente na d ou trin a aristotélica sobre o tema. Contra os nom inalistas e os que defendem que só existem relações secundum dici, isto é, relações que são form as extrínsecas aplicadas às coisas com o num a com paração, João de São Tomás vai sustentar que já Aristóteles estabelecera a existência de relações secundum esse, isto ê, relações cujo carácterfu n d a m en ta l é ser p a ra outra coisa, não à m aneira de uma denom inação extrmseca, mas enquanto traço essencial cio seu p róp rio modo de existir. E assim que os termos cuja substância é a de serem ditos dependentes de ou tros ou a eles referenciãveissão relativos secundum esse. P elo con trá rio, as relações secundum dici são aquelas onde subsiste algu m a coisa de relarivam ente independente — absoluto — entre os relacionados, e porta n to a totalidade do seu ser não ê ser pa ra ou tro; ao passo que nas relações secundum esse todo o seu ser consiste em ser pa ra outro, com o sucede, p o r exemplo, no caso da semelhança ou da paternidade, pois toda a essência de tais relações se orienta p a ra o termo, de form a que, desaparecendo o termo, a p róp ria relação não subsiste; mas quando existe, possui realidade ontolôgica autônom a e p rópria , isto é, independeu temente de ser ou não conhecida. Para João de São Tomás, a relação é uma categoria que se distingue das restantesformas. Em p rim eiro lugar, está m ais dependente e requer
21
(
et
I (•
com m a ior necessidade o fund am ento, porqu e é m ovim ento de um sujeito em direcção a um termo, enquanto as outras categorias retiram a sua entitatiindade e existência do sujeito. Depois, a relação não depende nem pode ser encontrada num sujeito da mesma fo rm a que as outras categorias, mas depende essencialmente do fu nd am ento que a coordena com um term o e a fa z existir «com o um a espécie de entidade terceira -. A relação transcendental ou secundum dici é porta n to um a fo rm a assim ilada ao sujeito que o conota com algo extrínseco, ao passo que na ontológica ou segundo o ser, a essência da relação é ser relação. O utra categoria im portante é a diferença entre relações reais e de razão, e é a q u i chegado que João de São Tomás la n ça fin a lm en te lu z sobre o mecanism o, a lógica das relações, que lhe vai p e rm itir d a r conta de todos os tipos de signos que já enum erou. A divisão entre relações reais e de razão só é encontrada nas relações segundo o ser, d iz. As relações segundo o ser podem então ser reais ou de razão, sendo que, n o caso de um a relação secundum esse real e fin ita nos encontram os perante um a relação categorial. O signo, com o bem se co n clu i da p róp ria definição, pertence à ordem do relativo. Mas não só. Preenche, além disso, todas as con dições p a ra ser relativo secundum esse, e é ao inseri-lo nesta categoria de seres cu ja essência é orientarem -se p a ra um term o, qu e João descobre um a fo rm a satisfatória de exp lica r o seu estatuto ontológico, sem com prom eter as posições gnosiológicas e m etafísicas que, com o bom tomista, perfilh a . Se nos relativos secundum esse se podem dar tanto relações reais com o relações de razão, então as relações segundo o ser são a estrutura ideal pa ra abranger tanto os signos naturais cóm o os.convencionais. Une-se assim num a mesma categoria as ordens opostas do que é real e do que é de razão, que é precisam ente a fo rm a com o, fu n cio n a n d o na sua vertente sign ifica tiva e com unicativa, os signos se entrelaçam com o m undo. É o fa c to de a ordem das relações secundum esse u n ir em si tanto o qüe é rea l com o o que é de razão, que vai p e rm itir a explicação cabal de todos os sistemas e tipos de signos, p orqu e signos há que constituem com os seus objectos relações reais, caso dos naturais; e ou tros relações de razão, caso dos con ven cion a is; mas todos são relações segundo o ser — isto é, a sua essência é serem p a ra outra coisa 11.1
11
N ão é inocente esta formulação joanina, qu e envolve opções políticas e
metafísicas de importância extrema. O que João de São Tomás faz ao dizer que os signos naturais estão unidos ao seu objecto por uma relação real (que nâo é denominação extrínseca e existe independentemente de ser apreendida) é tomar p osição na polêm ica
22
reales/nominales qu e abala
o seu tem po,
É p o r isso que as questões introdutórias do Tratado dos Signos se ocupam , em p rim e iro lugar, de saber se o signo pertence ã categoria da relação, e se essa relação é secundum esse ou secundum dici. A conclusão do dom inicano de que o signo é um a relação secundum esse p orqu e a sua essência é orientar-se e ser relação p a ra outra coisa, a qu ilo que representa, p erm itir-lb e-á d a r conta da existência de todos os tipos de signos, sem a bd icar de um a posiçã o realista nesta m atéria. D a í que, estabelecido o mecanismo, ]'ã se.possa a firm a r que a relação do signo n a tu ra l ao obfecto é necessariamente real, e não de razão, porqu e é fu n d a d a em algo real, proporção e conexão com 3 coisa represen tada----assim se e x p lica qu e a pega d a d o lobo represente antes o lobo que a ovelha— em bora depois a o representar à potência, objectificando-se, o signo estabeleça com ela um a relação de ra z ã o 12. Esta dupla relação do signo, ao referente e a o intelecto que conhece, oferece razão p a ra equívocos, d iz João de São Tomás, pois não poucos autores, ao verificarem que a apreensibilidade do signo é um a relação de razão Julgam que a p róp ria razão do signo é simplesmente um a relação de razão-, M as jã n a liga çã o dos signos convencionais ao objecto essa relação é, sem qu a lqu er dificuldade, de razão, fu n d a d a na "instituição p ú b lica - de um a convenção. A univocidade da relação que o signo estabelece entre p otên cia e objecto é a questão que ocupa o terceiro capítulo do Tratado dos Signos. Os signos externos também se relacionam à p otên cia com o ■objectos, e essa relação é idêntica ã que com ela estabelecem m uitos outros objectos que não são signos. O que se trata então de a p u ra r é se significativam ente, enquanto signo, essa relação é distinta daquela que estabelece com o referente, ou se, p o r hipótese, nos encontram os perante três relações: duas estabelecidas com o cognoscente — en quanto objecto e enquanto signo — e um a terceira relativam ente ao referente. A questão é subtil, pois a relação do signo à p otên cia é, com o já se viu, de razão, enquanto ao objecto sign ifica d o é real; ou
descortinando-lhe, à sua medida, uma solução. Note-se que o problema está longe de se encontrar resolvido, e ainda nos dias de hoje um semiólogo e medievalista tão conceituado como bm berto Eco opta, precisamente na questão da relação d o signo natural ao objecto, por uma posição nominalista, ao defender a impossibilidade de distinguir signos motivados de imotivados (v. Eco, Umberto, O Signo, 4.% ed., 1990, Editorial Presença, Lisboa, pp. 57 e segs.). 12 A realidade de tal relação tem fundas implicações gnosiológicas, já que nela reside a cognoscibilidade dos entes. -Para que alguma coisa em si própria seja cognoscível, não pode ser simples produto da razão; e que seja mais cognoscrvel relativamente a outra coisa, tornando-a representada, é também alguma coisa real n o caso dos signos naturais. Logo, a relação d o signo, nos signos naturais, é real-, afirma João de São Tomás.
23
(
____ s— <------- ^ A
então, são distintas as relações do signo pa ra um e ou tro term o, e esta plu ra lid a d e de relações na sua essência e x clu i-lo -ia da categoria de relação. João de São Tomãs resolve a d ificuldade considerando que essa relação é um a e a mesma, sendo que a relação ao referente toca -o directam ente, enquanto a potên cia é tocada indirectam ente. Se p otên cia e objecto significad o fossem considerados com o termos directam ente atingidos pela relação, isso exigiría necessariamente que ta l relação fosse distinta num term o e noutro, mas em ta l caso o signo referir-se-ia à potên cia com o objecto — o que, já vimos, tam bém su'cede— e não form alm ente com o signo. Tal conclusão— que a mesma relação a um term o é directa, a outro indirecta — prova-se p orqu e o signo d iz respeito ao seu significad o directam ente com o a qu ilo que deve ser representado ao cognoscente; enquanto ta l relação toca indirectam ente a potência, através de um a relação real, p orqu e ela é a q u ilo em qu e ta l objecto sign ifica d o ê representado. A mesma relação que atinge directam ente o objecto atinge indirectam ente a p otên cia enquanto o ser m anifestável à p otên cia está in clu íd o no p róp rio objecto 13. A relação do objecto com a p otên cia é de razão (n ã o existe antes da operação do intelecto), relação esta que, ocorrendo necessariamente no signo, não é todavia a relação que lhe é p ró p ria porqu e este p a r tilh a -a com todos os cognoscíveis que não são signos. Contudo, a relação do signo à potên cia é indirectam ente real, porqu e em bora este não lhe diga respeito (d irecta m en te) p o r um a relação real, ser m anifestável à p otên cia é, no objecto, algo de rea l (existe antes da operação do intelecto). D onde a relação do signo à potência, que ele
13 *E assim, como o objecto não é respeitado com o sendo alguma coisa de absolutamente em si, mas como manifestável à potência, necessariamente a própria potência é tocada obliquamente por aquela relação, a qual atinge o objecto não por subsistir nele precisamente como é em si, mas enquanto é manifestável à potência, e assim de alguma maneira a relação do signo atinge a potência na razão de alguma coisa manifestável a outro [...]. Pois com o um objecto diz respeito à potência é uma coisa, outra bem diferente é o que, num objecto, é ser manifestável à potência. Ser manifestável e objectificável é alguma coisa de real, e é aquilo de que depende a potência e pelo qual é especificada; antes, é porque um objecto é assim real que não depende da potência por uma relação real. Donde, como o signo, sob a formalidade d o signo, não diz respeito à potência directamente — pois isto é a formalidade do objecto — mas diz respeito à coisa significável ou manifestável ã potência, assim a potência enquanto indirectamente inclusa naquele objecto manifestável é atingida p or uma relação de signo real
relação essa que nada mais é que o facto de o objecto lhe
ser realmente manifestável, embora a própria manifestação em acto — que é feita enquanto este assume a forma de um objecto — deva necessariamente revestir-se da forma de uma relação de razão.
24
a tin g e in d irecta m en te, é real, em bora a sua apreensibilidade, ehquanto objecto, que já constitui um a outra relação, seja de razão. Pa ra responder â questão, se o acto de s ig n ifica r — constituído pela condução ou exibiçã o do objecto à p otên cia — pertence ã ordem da causalidade eficiente, João de São Tomás distingue três elementos inerentes ao acto de representar ou significar: a prod u çã o de espécies ou im agens das qualidades sensíveis do objecto extrín seco que estim ulam o cognoscente; o estím ulo da potên cia p a ra qu e receba a espécie — e este é um m om ento a n terior ã p róp ria recepção; e p o r ú ltim o o concurso do signo com a p otên cia p a ra p ro d u z ir um a apercepção. É neste ú ltim o pon to que a questão se com plica, p ois João de São Tom ãs preten d e a verig u a r se o a cto de s ig n ific a r — a representação do objecto ã p o tê n cia — que ele adm ite ter uma causa eficiente, provém eficientem ente do signo. A descoberta do dom inicano sobre este p on to é não ser o signo causa eficiente da significação, pois s ig n ifica r não é p ro d u z ir um efeito, e isto p o r três ordens de razões: S. Tomás aponta com o causa eficiente do conhecim ento a próp ria ra zã o ou in telecto do cognoscente; os objectos, enqu a n to form a s extrínsecas, não produzem eficientem ente conhecim ento, antes as suas espécies são impressas na potência p o r um a outra causa eficiente; e o signo instrum ental, p o r d efin içã o, fu n c io n a com o instrum ento su bstitu in te do objecto, n ã o um in stru m en to eficie n te . 0 sign o representa um referente à m aneira de um objecto, donde a emissão de espécies, ta l com o no objecto, não ê causada eficientem ente pelo signo, mas objectivam ente, isto ê, en qu a n to se destinam a ser conhecidas. O mesmo argum ento é válido pa ra o signo fo rm a l- esta qualidade de signos representa não eficientem ente, mas a p a rtir de s i objectivam ente, ta l com o sucede nos instrum entais. Representar, ou significar, que é o que convém ao signo enquanto signo, é simplesmente substituir um objecto e to m á -lo presente ã potên cia cognoscente, e isto não é fe ito prod u zin d o efeitos p o r pa rte d o signo, em bora m uitas outras causas que não oriundas do signo con corra m eficientem ente pa ra p ro d u z ir a representação: a que im prim e eficientem ente espécies, a p otên cia que p ro d u z a apercepção... O Livro Ie n ce rra questionando-se se os anim ais irra cio n a is (bruta) e os sentidos externos u tiliza m signos p a ra atingirem as realidades p o r eles significadas. João de São Tomás exclui, eviclentemente, os signos linguísticos e toda a actividade que exija o discurso ou o ra c io c ín io . O qu e p reten d e saber é se sem o d iscu rso e sem a com paração è colação pode o co rre r a utiliza çã o de signos e do seu m odo p róp rio de significar, con clu in d o que os anim ais irra cion a is são capazes de u tiliz a r signos, tanto naturais com a consuetudinários, e fa zem -n o am iúde. É qu e os anim ais recordam , de beneficies ou
25
( 9
4
danos passados, a oportunid ad e ou n ã o de prosseguirem certas a c tividades, e isso épassar de um signo, p o r exem plo o dano, â coisa que o p ro v o c o u ; têm ca p a cid a d e p a ra se e x p rim ir u tiliz a n d o sign os n a tu ra is ; e p od em a in d a a p reen d er certos tip os de sign os c o n suetud inários— há a n im a is que são disciplináveis e podem , m ediante instruções, habituar-se a desenvolver ou e v ita r determ inadas a ctividades14. Q u a n to à segunda p a rte da questão, a resposta é tam bém a firm a tiva : os sentidos externos, tanto dos hom ens com o dos anim ais, u tiliz a m signos instrum entais e são capazes de op era r com diferentes fo rm a s de sign ifica çã o.
/
N o resum o e apanhado g e ra l qu e se segue a todos os capítulos, João de São Tomás insiste fu n d a m en ta lm en te na im p ortâ n cia da d e fin içã o de signo, nas cond ições requeridas p a ra que algu m a coisa seja signo, e com o d is tin g u ir entre um signo e outros m anifestativos que n ã o o são — caso d a im agem , da lu z qu e m anifesta as cores ou do objecto que se m anifesta a si m esm o: é que o signo é sempre in fe rio r ao que designa, p o rq u e n o caso de ser ig u a l o u su p erior d estru iría a 'essência d o signo. E p o r esta ra zã o que Deus não é sign o das criaturas,
i K, r
em bora as represente, e um a ovelha n u n ca é signo de ou tra ovelha, em bora possa ser sua im agem . Assim , as con d ições necessárias p a ra qu e a lg o seja signo são a existência de u m a rela çã o p a ra o objecto. en qu a n to a lgo que é d istin to de si e m anifestável à p o tê n cia ; é a in d a necessário que o signo se revista da natureza do representativo; deverá tam bém ser m ais con h ecid o que o objecto em rela çã o ao su jeito que o apreende; e a in d a in fe rio r, m ais im perfeito, e distinto, qu e a coisa que sign ifica . O L iv ro II, ou Quaestio XXI, tra ta não já da n a tu reza d o sign o mas das suas divisões. Temas fu n d a m en ta is dos seis a rtig os q u e constituem a Quaestio são a adequabilidade da divisão d o sign o em fo rm a l e instrum ental; se os conceitos, as espécies impressas e o p ró p rio a cto de co n h e ce r p erten cem à ca tegoria dos signos fo rm a is ; se é
14
A experiência quotidiana também ensina q u e os animais p o d e m ser
influenciados p o r signos, «naturais — com o os gem idos, o b alido d a ovelha, o canto da ave — com o consuetudinários, com o sucede, p o r exem plo, qu an d o o cão, cham ado p elo nome, é m ovido p elo costume, em bora nào inteleccione a im posição
Para além disto, digo, vem os que um animal irracional, ao ver
uma coisa, tende para outra distinta, assim com o q u an d o a o perceber um odor [de caça, por exem plo] prossegue alguma via (...] o u ouvindo o rugido d o leão treme e foge, e seiscentas outras coisas nas quais não responde dentro dos limites d o qu e percebe pelos sentidos exteriores, mas p elo q u e p ercebe dos sentidos externos é conduzido para outro. O que, claramente, é utilizar um signo, ou seja, a representação de uma coisa n ão só p o r si, mas p or outra coisa distinta d e si» (João d e São Tomás, in Tratado dos Signos).
26
a p ro p ria d a a d ivisã o dos sign os em n a tu ra is, c o n v e n cio n a is e consuetudinários; e se o signo con su etu d in ã rio é verdadeiram ente um signo, o u pod e reduzir-se à ca tegoria dos convencionais. Sobre a divisão dos signos, d a perspectiva d o cognoscente, em fo rm a is e instrum entais, a questão qu e se coloca é a de saber se os signos fo rm a is são verdadeiram ente signos, ou, p o r outras palavras, de qu e m odo se revestem estes das condições necessárias a o signo, nom eadam ente, co n d u z ir a p o tê n cia p a ra um referente e ser m ais im perfeito que a coisa significada. A dificuldade, nestep on to, agud iza-se p o rq u e exige, sem dúvida, fin a s distinções, tais com o e x p lica r de que fo rm a o signo fo rm a l, qu e é in te rio r ao cognoscente e a m a ioria das vezes n ã o é sequer apreendido conscientem ente, é m eio con d u tor p a ra o objecto. S. Tomás explica que o médium in quo d a cogn içã o, ou seja, o objecto no qu a l ou tra coisa é vista, p od e ser ta n to um a coisa m a teria l e x te rio r à p otên cia , com o algo fo rm a l e in trín seco à p o tê n cia — caso da espécie expressa ou pa la vra m ental. D a í qu e o sig n o fo r m a l deva verd a d eira m en te s e r sign o, em bora d ifira do in stru m en ta l n o m odo de representar e sig n ifica r. É evid en te, de resto, qu e os sign os fo rm a is d iferem dos in s trum entais, p o is n ã o se m ostram à m aneira de um ob jecto e x trín seco n o q u a l ou tra coisa é conhecida, mas com o cond uzem à cognição de o u tro — e record e-se q u e o co n ce ito é d is tin to d o a c tc de con h ecer — revestem-se todavia da «ra zã o de signo», a in d a que só form a lm en te, p o is o signo fo rm a l n ã o existe nem estim ula a cogn içã o fo r a da p otên cia . Sendo sim ultâneo o m ovim ento de apreensão do objecto com a apreensão do conceito, o sujeito n ã o terá con sciên cia de q u e se en con tra p era n te duas operações, e é p o r esta ra zã o qu e o signo fo rm a l n ã o representa com o um objecto p rim e iro conhecid o qu e co n d u z a outro, mas essas duas cogniçoes distintas, do p o n to de vista de quem apreende, fu n d em -se num a s ó — é o q u e Joã o de São Tomás q u e r d iz e r qu a n d o refera qu e o con h ecim en to p rop orcion a d o p e lo signo fo rm a l «n ã o acrescenta n u m erica m en te ã cogn içã o*>15.
15
«E assim, quanto ao m od o d e conhecer, com maior propriedade se encontra
a razão d o signo no signo externo e instrumental, enquanto o acto de conduzir' d e uma coisa para outra é mais manifestamente exercido qu an d o d u a s cognições existem, uma d o signo, outra do objecto, q u e quan do existe apenas uma única cognição, caso qu e sucede n o signo formal. [...] D onde, su cede q u e para salvar a propriedade d o signo basta q u e este seja pré-conhecido, o que o signo formal alcança não porq ue seja conhecido com o objecto, mas com o razão e forma pela
qual o objecto é tom ado conhecido n o interior da potência, e assim ê pré-conhecido formalmente, n ào denomina tivamente e com o coisa conhecida* (João d e Sào Tomás, in Tratado dos Szgjios').
21
A questão seguinte é da m á xim a im portâ n cia . Prende-se com a tentativa de a p u ra r se o con ceito ou espécie expressa ê, ou não, um signo fo rm a l. A con clu sã o d o d om in ica n o é qu e a espécie expressa é, p o r excelência, um signo fo rm a l. In stru m en ta l é evidente qu e n ã o p o d e rá ser, p o is em nad a se assem elha a u m ob je cto p rim e iro con h ecid o que co n d u z a ou tro; é, isso sim, term o da in telecçã o qu e to m a a coisa conhecid a. A segunda conclusão de João de São Tomás é que a espécie sensível expressa, nas p otên cia s sensíveis fu n cio n a , em rela çã o a essas potências, com o um signo fo rm a l, e isto q u e r tais espécies sejam p rod u zid a s pelas potências, q u e r se devam a a lgum a causa extrínseca, com o u m a n jo ou um d em ôn io . D iferen te é o caso da espécie impressa — im agem das qualidades sensíveis do objecto qu e fa z as suas vezes u n in d o-se à p o tê n cia p a ra p ro d u z ir a co g n içã o — a qual, defenderá, n ã o é sign o fo rm a l. A n ega çã o da q u a lid a d e de s ig n o fo r m a l à espécie im pressa é defendida com base no seguinte argum ento: o signo é algum a coisa conhecida, que tom a , através de si, um a ou tra coisa conhecid a. Posta a questão nestes termos, resta apenas p ro v a r qu e a espécie impressa n ã o se enquad ra nesta d efin içã o, p o rq u e é apenas um p rin c íp io p e lo q u a l a p otên cia conhece — não é nem objecto, nem term o da cognição. É que a espécie impressa não pod e representar ou m anifestar à p otên cia — isso será fe ito p e la espécie expressa — p o rq u e representar supõe a cogn içã o, e a espécie impressa con stitu i um m om ento a n te rio r: é p rin c íp io da cogn içã o, con corren d o com outros p a ra a p ro d u z ir. A questão d e saber se o a cto de con h ecer; ou seja, a p ró p ria operação de in teleccion a r, qu e se distingue do objecto con h ecid o e das espécies impressas e expressas, perten ce à ca tegoria dos signos fo rm a is ocupa tam bém o d om in ica n o. A resposta é, m ais um a vez, negativa: nenhum a cto de in telecçã o é signo fo rm a l. Ê que o sign o deve ser representativo de outra coisa distinta de si, en qu a n to o a cto de in te le ccio n a r é um a operação que tende p a ra o objecto, m as nada representa.1 6
16
«Tais imagens o u ícones sâo signos formais, porque não conduzem a
potência nem lhe representam o objecto a partir de' um a oiitra cognição d e si pré-existente, m as c o n d u ze m
im ediatam ente p ara
os p ró p rio s ob jectos
representados, p orq ue estas potências sensitivas n ão p od em reflectir sobre elas próprias e sobre as formas expressas que têm. Logo, sem estas espécies expressas sendo conhecidas pelas potências sensitivas, as coisas são tomadas imediatamente representadas às potências; logo, esta representação é feita formalmente e não instrumentalmente, nem de alguma cognição anterior da imagem o u ícone* (João d e São Tomás, in Tratado dos Signos).
28
Um signo con su etu d in ã rio — aquele que sign ifica p o r um costum e am iúd e repetido mas q u e não resulta de um a im posição p ú b lica — sign ifica n a tu ra l ou con ven cion a lm en te? A esta questão João de São Tom ás responderá qu e se o costum e é causa do sign o, então ta l signo será con ven cion a l; mas se o costum e é efeito, expressa ape nas um tipo de uso, uso esse que co n s titu i a coisa com o signo, e en tã o o fu n d a m e n to do s ig n o co n s u e tu d in ã rio será n a tu ra l. O sign o con su etu d in ã rio tem, assim, capacidade p a ra u n ir em s i estas duas ordens, a do c o n v e n c io n a l e a d o n a tu ra l, d epen dendo da perspectiva em q u e f o r tom ad o: co m o efeito o u com o causa 17. N o L ivro I I I João de São Tomás dedica-se, em qu a tro questões, a a cla ra r o estatuto das apercepções e conceitos. E o p rim e iro problem a que o ocupa é o d e saber se as apercepções de um a coisa presente (in tu itiv a ) e ausente (a b stra ctiva ) são distintas. A apercepçâo in tu itiva exige a presença rea l e fís ic a da coisa apercebida, nã o apenas a in ten cion a l, devendo o seu objecto encontrar-se extra videntem; assim, a fo im a m ais com um e adequada de d is tin g u ir en tre a apercepçâo in tu itiv a e a abstractiva é, precisam ente, a qu e considera o term o da cogn içã o com o ausente ou presente. O d o m in ica n o c o n c lu i depois que in tu itiv o e abstractivo origin a m diferentes tipos de apercepçâo acidentalm ente, isto é, p o r o u tro e p o r razão d a q u ilo ao q u a l estão ju n ta s » pois o con h ecim en to da visão ou a percepçâ o in tu itiv a a crescen ta sobre a a p ercep çâ o sim ples ou abstractiva algum a coisa que está fo r a da ordem da apercepçâo, nom eadam ente a existência d a coisa. Logo, São Tom ás sente qu e as razões da a p ercep çâ o in tu itiv a e da a bstra ctiva n ã o expressam diferenças essenciais e intrínsecas, p o rq u e estas razões n ã o estão fo ra da ord em d a apercepçâo, m as p e rte n ce m à p ró p ria ord em d o cognosctvel. M as acrescentar algum a coisa que está fo r a do sujeito q u e vê e fo ra da p ró p ria ordem da cogn içã o, é a crescen ta r algum a coisa a cid e n ta l e extrínseca». D e resto, o in tu itiv o e o abstractivo não consistem sim plesm ente na m era d en om in a çã o extrínseca, defende João de São Tomás, m as são algum a coisa in trín s e ca à p ró p ria
17
«Nem é inconveniente que dois m odos d e significar convenham à mesma
coisa segundo formalidades distintas. D onde, quan do um m od o d e significar é removido, ou outro permanece, e assim o m esmo signo nunca é natural e convencional forma Imente, em bora materialmente seja o m esm o, isto é, a significação natural e convencional convenham n o mesmo sujeito» (João d e São Tomás, in Tratado dos Signos).
29
apercepção, d eform a que quando estas cogniçõespassam de intuitivas a abstractivas dá-se nelas um a m od ificação real. A questão seguinte trata de apu ra r se pod e existir nos sentidos externos um conhecim ento in tu itivo de coisas fisica m en te ausentes, ou seja, se pode ocorrer a í um a apercepção abstractiva. M uitos autores acreditam que pa ra a apercepção in tu itiva apenas ê requerida a presença objectiva da coisa, isto é, basta que a coisa seja conhecida, não se exigind o a sua coexistência fís ica com o próprrio acto de a con h ecer, d onde ê evid ente que, p a ra quem assum e tais p o s i ções, pod erá ocorrer um a apercepção in tu itiva da coisa fisica m en te ausente. Esta não é a posição de João de São Tomás, p a ra quem a resposta ã questão é, evidentemente, n e g a tiv a a apercepção in tu itiva exige não só a presença objectiva (en qu a n to con h ecid a ) d o objecto, mas tam bém a sua presença fís ica . P o r razões semelhantes, também nos sentidos externos é im possível en con tra r apercepções de coisas fisica m en te ausentes. Saber se os conceitos reflexivos (aqueles pelos quais o hom em conhece.que conhece — o seu objecto é o p ró p rio acto cogn itivo da p o tê n cia ) e os conceitos directos (aqueles pelos quais se conhece algum objecto, sem reflectir sobre o p ró p rio acto de con h ecer) se distinguem . realm ente e, caso a resposta seja afirm ativa, q u a l é a causa da diferença entre eles, ê o problem a que a seguir ocupa João de São Tomás. O dom in ica n o defende que as potências intelectivas, mas não as sensitivas, podem reflectir sobre elas próprias, pois com o o intelecto d iz resjpeito universalm ente a todos os seres, tam bém dirá, forçosa mente, respeito a s i próprrio. O p rim e iro objecto dos actos de inlelecção hum anos são as coisas m ateriais extrínsecas, é isso que é p rim eira m en te con h ecid o p elo homem, enquanto o p ró p rio acto de conhecer um sensível extrínseco é apreendido secundariamente, sendo que *através do acto é conhecido o prróprio intelecto do qu a l o próprrio acto de inteleccionar é a perfeição-. Tal sucede porque, em bora os conceitos e a cogn içã o estejam presentes em todo o m om ento na potência, contudo, essa ptresença, a que João de São Tomás cham a f o r m a ln ã o basta p a ra que sejam conhecidos directam enle, porqu e pa ra que pudessem ser conhecidos directam ente precisariam de cu m p rir todas as condições de objecto da p otên cia e essas, já o vimos, são ser algo m aterial e extrínseco, cond ição que o con ceito e o acto de conhecer não preenchem . Assim, p a ra serem conhecidos, exigem reflexão, que pode ocorrer p o r regressão quando um objecto m aterial é conhecido, regressão essa que passa do conceito, ao acto de conhecer, à espécie desse; conceito, até se a tin g ir a p róp ria
essência da alm a 18. Este processo de regressão, que pa rte da coisa m aterial e pode, eventualm ente, a tin g ir a essência ou natureza da alma, é, d iz o dom inicano, tom ado de S. Tomás de A qu in o, e é ele que dá origem ao nom e de •con ceito reflexivo». A d istin çã o entre con ceito u ltim ad o e não ultim ado pod e ser encarada de dois pontos de vista. Em geral, diz-se u ltim ad o um conceito que seja termo, isto é, a qu ilo em que cessa a cognição, onde esta subsiste e se m antém , e não ultim ado o con ceito através do qu a l a cognição tende pa ra um term o; adaptando um a perspectiva diversa — a dos dialécticos — e designando exactam ente o mesmo objecto, cbam a-se co n ce ito u ltim a d o ã quele que versa sobre as coisas significadas (q u e são term o) e não ultim ado ao que se debruça sobre as próprias expressões ou palavras significantes. D e resto, a diferença entre ultim ado e não ultim ado é m eram ente form a l, já que não nos encontram os perante um a distinção essencial entre os dois conceitos, mas perante um a diferença a que João de São Tomás cham a -pressupositiva-, um a vez que se tom a não da próp ria natureza dos conceitos, mas dos objectos acerca dos quais versam, que, esses sim, são distintos, sendo um a coisa presente in re e outro as palavras destinadas a exprim i-la. A té a qu i, as distinções são bastante simples. As d ificu ld a d es com eçam a su rg ir quando se trata de apurar se um conceito não ultim ado da voz, ou seja, uma expressão linguística, representa apenas a p róp ria expressão, ou se representa tanto a expressão com o o seu significado, significado esse que, temos de supô-lo, é distinto da própria coisa sign ifica d a , caso em qu e estaríam os p e ra n te um co n ce ito ultim ado. Em p rin cíp io , d iz João de São Tomás, a significação terã, de algum modo, de ser envolvida no con ceito não ultim ado, p orqu e *se a voz é nuam ente considerada com o um certo som fe ito p o r um anim al, é evidente que pertence a um conceito ultim ado, p o r deste modo ser considerada com o sendo um tipo de coisa, isto é, do m odo com o a Filosofia trata aquele som -. E este será o p on to de vista defendido pelo
18
«E assim os nossos conceitos, embora sejam inteligíveis segundo eles /
próprios, contudo nâo são inteligíveis segundo eles próprios a o m odo de uma 1 essência material, e, logo, não são primariamente e direccamente presentes C objectivamente, excepto quando são recebidos ao modo de uma essência sensível, m odo que, sem excepção, deve ser recebido de um objecto sensível. E porque recebem isto, no interior da potência, a partir de um objecto sensível directamente conhecido, são ditos serem conhecidos reflexivamente, e serem tom ados inteligíveis pela inteligibilidade de um ente material- (João de São Tomás, in Tratado dos Signos).
31
mestre lisbonense na derradeira questão do Tratado dos Signos, que a significação está e é representada no conceito não ultim ado, em bora o cognoscente não necessite de a tin g ir a con ven cion a lid a d e da s ig n ifica çã o , a -rela çã o de im posição-, mas baste qu e lhe seja representado que tal significação existe. É o que sucede n o caso de um hom em ouvindo um a expressão cujo significado não compreende, sabendo, todavia, que ta l significado existe. A explanação da gn osiologia joa n in a , profundam ente enraizada n a d ou trin a tom ista a este respeito, é fe ita p elo d om in ica n o nos livros D e Anima do Curso Filosófico, e não difere em nada da posição que se esperaria de um representante da Segunda Escolástica. Em termos ontolõgicos, a opção de João de São Tomás é m arcadam ente rea lista: os seres existem e oferecem -se ao hom em pa ra que possam ser pensados — é porqu e existem realm ente que podem ser in teleccionados, fund and o-se a q u i a im portância de conceber relações reais e independentes do cognoscente n o signo natural, pois um n om inalista tudo red uziría a relações de razão. Para os medievais, -nada há n o intelecto que não tenha estado p rim eiro•nos sentidos-. D a í que o intelecto só possa conceber Deus e a alm a conotativam ente com os sensíveis; ta l com o só pod e conhecer a p róp ria actividade do intelecto através do con ceito reflexivo (qu e. tem precisam ente a fu n çã o de a •con ota r com os sensíveis-). Com o o hom em ê um a alm a estrita e essencialmente unida a um a realidade m aterial, o seu corpo, só pode conhecer a essência das coisas rece bendo-a dos sensíveis e depurando-a, através de um processo de abstracção, dos aspectos m ateriais do objecto. O instrum ento p a ra co n h e ce r a n a tu reza das coisas sensíveis são as espécies, que representam pa ra os sentidos o que hã de fo rm a l nos objectos. A espécie é o objecto, só que despojado da sua m aterialidade física . É através das espécies impressas e expressas, e p o r um processo de progressiva abstracção, que o hom em acede ao m undo m aterial. Todo o conhecim ento se in icia com a espécie impressa, que éproporcionad a ou im p rim id a nos sentidos externos. O hom em recebe então nos sentidos as espécies impressas, que representam o objecto despido das suas condições m ateriais mas ainda claram ente individualizado. Estas espécies serão trabalhadas pelo intelecto agente ou activo, um a das faculdades da alm a, que as depura transform ando-as em espécies expressas, isto é, prod u zin d o o conceito, que é signo form a l, através do qu a l o homem conhece. A espécie expressa é depois trabalhada p elo intelecto passivo, produzindo-se, da sua con ju n çã o ou apro pria çã o, o conhecim ento. E a espécie impressa, que se oferece aos sentidos externos, que, ao ser trabalhada pelo intelecto agente, se transform a em espécie expressa
32
ou conceito, este sim, já apto a ser recebido pelo sentido interno e trabalhado pelo entendim ento. João de São Tomás já p rovou que tal conceito é signo form a l, in te rio r ao cognoscente, porqu e é um m eio que representa o objecto à p o tê n cia cogn itiva . Çpm o apenas e exclusivam ente p o r in term éd io da espécie expressa o m u n d o é proporcionad o ao homem, sem esta ele seria com o um a mónada sem janelas, um organism o fu n cio n a n d o em absoluta clausura e in ca pa z de constituir, rudim entar quefosse, qualquer imagem do m undo. P o r isso podem os d izer que João de São Tomás id entifica toda a vida m ental com processos semiôticos, ou, estendendo a m áxim a Escolãstica, nada está no intelecto què não tenba estado p rim eiro nos sentidos e não tenha sido subm etido a estruturas sem ióticas m ediadoras que possibilitam a consciência e a m odelizaçâo do m undo. São, portanto, os signos veículo ú n ico e fu n d a m en ta l de condução do extram ental à alm a, e de a p ró p ria alm a se in teleccion a r a si inteleccionando. A investigação sem iótica de João de São Tomás, ou in q u iriçã o da natureza e essência dos signos, constitui-se com o um program a perfeitam ente m oderno e com pleto, dando con ta em sim ultâneo, e depois de estabelecer convenientem ente o estatuto antológico dos signos, dos processos de com unicação, significação e constituição de um a im agem do mundo. Para tal, João irá estudaras relações entre os signos e os seus intérpretes (relações sim ultaneam ente secundum dici e de ra zã o); entre os signos em g e ra l e o que estes designam ( relações secundum esse); e ainda entre os próprios signos entre si. Desta lógica das relações que elabora, u tiliza n d o p a ra o efeito proposições prim itiva s ou signos isolados, se pod e p a rtir p a ra o estudo da Lógica propriam ente dita, que se debruça sobre as linguagens e os ra ciocín ios, com plexos sígnicos elaborados que obedecem ãs mesmas regras que qu a lqu er veículo sígnico encarado isoladamente. Em term os de concepção, o Tratado dos Signos destina-se a ex p lic ita r e desvelar, u tiliza n d o esta lógica das relações, a peculiaridade dos fenôm enos perceptivos, a sua ligação com a estrutura antológica do m undo, e a m aneira com o é possível tra d u zi-la e plasm á-la em form a s expressivas palpáveis e, m ais im portante ainda, com unicáveis a outrem . Nesta m aterialização do m undo objecttvo n o intersubjectivo ra d ica a possibilid ad e de con stitu içã o d e todas as estruturas e elementos trans-subjectivos qu e norm alm ente são identificados com cultura. D e resto, é preciso não esquecer que este esquema sem iõtico proposto pelo dom inicano perm ite transcender o d om ín io da percepção a ctu a l através da indiferença ãpresença ou ausência do objecto, ou seja, entre o in tu itivo e abstractivo, já que o prod uto destas duas operações, a ind a que clistinguido em virtude do tip o de objecto, será essencialmente o mesmo: conceitos que, num caso com o n o outro,
33
serão essencialmente idênticos. João de São Tomás explica que o signo conserva integralmente a sua capacidade defu n cio n a r mesmo nestas situações-lim ite, pois desaparecido o objecto, d iz, perm anece a imposição, no caso dos signos convencionais, ou a conexão, no caso dos signos naturais, «virtualm ente« ou fundam entalm ente». A existência de um mundo objectivo, povoado de entes reais que são autonom am ente — dependem não do homem mas de um acto cria d or de Deus— e se relacionam independentemente das humanas operações de apreensão, é assumida, ao longo de todo o Tratado dos Signos, com o fa cto inquestionável. Para João de São Tomás, com o bom tom ista, o m undo dos entes reais não oferece qu a lq u er problem aticidade ontológica; existe, simplesmente, em virtude de um acto cria d or de Deus; mas o homem só pode aceder-lhe através de uma com plexa abstracção que se reduz, no ponto em que o mundo penetra a alma, à mediação sígnica — omnia instrumenta quibus ad cognoscendum et loquendum utimur. O m undo objectivo, aquele onde pululam ens reale, só é acessível, pelo menos para o homem, com o ens rationis, isto é, objectivamente, através de um a percepção mediada p o r signos. Como tal mundo só é dado ao homem objectivamente — através da cognição — , esta é impreterivelm ente mediada p o r signos form ais-instrum entais, naturais, convencionais e consuetudinários que delimitam, pelas suasform as próprias, a estrutura do que é apercebido, num a ordem tendencialm ente ca pa z de o rig in a r progresso — pela possibilidade de evolução da ordem da significa ção — , mas que, no seu esquema básico, é em termos humanos incontom ãvel e inescapãvel. Toda a arquitectura do Tractatus se orienta num a tentativa de, perm anecendo fidelissim am ente discípulo de São Tomás, explicar e fundam entar, através de um m ecanism o preciso e fu n cio n a l, a totalidade dos processos de significação. João concede um estatuto claro a estesfenôm enos, salvando o realismo e a cognoscibilidade dos entes. O Tractatus é central a toda a Ars Logicae devido precisamente a este seu papelfundador, pois trata de um tema an terior a todas as restantes operações da lógica, que dele passarão a depender. A n a b e ia G radim A lves
TRATADO DOS SIGNOS João
de
São T omãs
TRACTATUS DE SIGNIS IONNIS A SaNCTO THOMMA
P R E F A C IO
A o Leitor, Parece-nos inütil para os amantes da brevidade difundir um prefácio moroso, pois nas próprias palavras d o Espírito Santo isto é antecipadamente condenado: «É estulto estender-se para lá d o devido no prefácio da história e restringir a própria história.» Logo, para não entediar e onerar o leitor no .próprio limiar que iniciamos., somente advirto acerca das coisas que o pro pósito d o nosso estudo colige, pois seguindo S. Tomás adoptamos um m étodo breve e conciso a favor da força da lógica e da filosofia. Desta forma, nào somente me parece por bem dele seguir a solidez e imitar a doutrina, mas também emular a sua ordem, brevidade e modéstia. Para que o s seus m étodo e ordem sejam seguidos, dividi a obra da Lógica em duas partes. A primeira com preende as disputas dialécticas, que são chamadas Súmulas, e versa sobre a lógica formal. A segunda é sobre os predicáreis, categorias, e A n a lítico s Posteriores; e trata dos instrumentos lógicos da parte da matéria e posterior resolução, com o abundantemente mostraremos no início destes livros. Para imitarmos a brevidade de S. Tomás, curamos de afastara floresta de imensas questões inextricáveis e sofismas espinhosos, que nào são d e qual quer utilidade, oneram a mente dos ouvintes, e nào poucos prejuízos causaram no passado. Quanto a estas dificuldades metafísicas e outras dos livros D a A lm a. que o ardor das disputas levou a introduzir no início dos livros das Súmulas, levei-as para local próprio, e desenvolvem os na Lógica, acerca do D e In terp reta tion e, um tratado sobre os signos e as apercepções. O que quer que eu tenha rem etido para a segunda parte da Lógica, da discussão d o termo ou outro tema das Súmulas, no m esm o local também o anotamos. Contudo, não pude evadir-me da discussão de todas as dificuldades, mas tomei na primeira pane algumas das mais importantes e necessárias questões
q u e con du zem à com preensão, p o r estudantes e professores, das questões lógicas. Cura portanto, leitor, para que, visto algum capítulo d o texto, aquelas dificuldades correspondentes sejam inquiridas nas questões, pois assim todas as dificuldades q u e ocorram p o d e rã o ser mais facilm ente p ercebidas e ultrapassadas. Finalmente, p ara reforçar a modéstia — u m a das mais gratas entre as angélicas virtudes d o Santo D outor — sobre a brevidade adoptéi a política d e m e abster d e citações prolixas e publicação d e nom es, referindo-nos, favoravelm ente ou não, às posições dos vários autores, pois n ão publico este trabalho para com bater o u prom over os partidários d e rivalidades, mas para servir a inquirição da verdade, q u e diz respeito â doutrina e n ão a pessoas. E isto faço para qu e os ouvintes m elhor disponham os, pois neles a doutrina é mais facilmente instilada qu an d o é estudada não tanto em termos d e discussões d e autores e autoridade, com o q u an d o é estudada som ente em termos d e luta p ela verdade. Q u e possas alcançar mais d o que multiplicado rendimento, humaníssimo leitor, atingindo isto, é o desejo desta rica e afectuosa pena. Até breve.
Alcalá, Espanha, 1631.
P R Ó L O G O A T O D A A D IA L É C T IC A EM D O IS PR E LÚ D IO S
PRIMEIRO PRELÚDIO
QUE PROPÕE O EXERCÍCIO E A PRÁTICA DA DISPUTA DIALÉCTICA
N o próprio início da arte dialéctiea, a qual modestamente em preendemos explicar, pareceu-nos melhor propor aos principiantes a forma e os modos do próprio exercício e da prática da arte'dialéctiea, que assim brevemente pode ser explicada. Em qualquer disputa cure primeiro o arguente de estabelecer e propor o argumento, totalmente reduzido à forma, isto ê, amputado seja de palavras ambíguas seja de declarações longas, propondo su cinta e dístintamente um silogismo ou entimema. E o silogismo con tém três proposições, que são ditas maior, menor e conclusão ou consequente, ligadas por uma marca de ilação, que é a partícula •logo»; a própria conexão, contudo, é chamada ilação ou consequência. O entimema contém duas proposições, das quais a primeira é chamada antecedente e a segunda consequente, também d o mesmo modo conexas. Por exemplo, querendo provar que a vida voluptuosa não deve ser abraçada, form o assim o silogismo; «Tudo o que se opõe à probidade da virtude não deve ser abraçado; a vida voluptuosa opõe-se à probidade da virtude, logo, não deve ser abraçada.» Ou, se quero formar um entimema de antecedente e consequente, assim formo; «A vida voluptuosa opõe-se à arduidade da virtude, logo, não deve ser abraçada.»
39
" » f) f‘
ei
Ouvida a formulação do argumento, o que defende a nenhuma outra coisa deve atender senão a íntegra e fielmente retomar o argumento proposto. E entretanto, enquanto resume o argumento, deve examinar cuidadosamente se alguma premissa é verdadeira, para que seja concedida; ou falsa, para que seja negada; ou dúbia e equí voca, para que seja distinguida. D o mesmo modo, deve examinar -se se a consequência ou ilação é boa ou má. Resumido uma vez o argumento, e nada àquele respondendo, em segundo lugar, repete-o, e às proposições singulares responde nesta ordem. Se forem três proposições, e a primeira lhe parecer ser verdadeira, diga: «Concedo a maior.» Se lhe parecer ser falsa, diga: «Nego a maior.» Se lhe parecer não ser pertinente à conclusão inferida, diga: «Passe a maior»; embora esta forma deva ser usada com modéstia e parcimônia, e a não ser que claramente esteja seguro de que a proposição não é pertinente. Se lhe parecer que a maior é dúbia ou equívoca, diga: «Distingo a maior», e acerca do termo no qual está o equívoco, faça a distinção por palavras breves, e não confusas. Mas dada a distinção, não deve logo explicá-la, a não ser que o oponente lho peça, ou não tenha sido claramente exposta; então d e v e explicá-la o mais brevemente possível. Em especial no início da disputa, não deve consumir tempo explicando as distinções, mas nunca deve partir da própria forma do seu argumento. Concedida a maior, ou explicada sob distinção, d eve proceder para a menor, observando o mesmo método ao negar, conceder ou distinguir, tal como dissemos da maior. Então, chegando à conclusão, se é concedida, diga: «Concedo a con sequência»; se é negada diga: «Nego a consequência.» Contudo, se a conclusão é distinguida, não diga: «Distingo a consequência», mas «distingo o consequente». Com efeito, como a consequência consiste na própria ilação, não numa asserção de verdade, pode ser boa ou má a ilação, e assim pode ser concedida ou negada com o boa ou má, mas não distinguida, porque a distinção cai sobre o equívoco ou ambiguidade da proposição, enquanto tem diversos sentidos ao significar a verdade, não sobre a própria conveniência da ilação. Contudo, o próprio consequente é a proposição ilacionada, que pode ser certa ou equívoca ou ambígua, donde quando é equívoca distingue-se, e assim não se diz «distingo a consequência» mas «distingo o consequente». Se contudo o consequente é negado ou concedido, porque isto não pode ser feito sem conceder ou negar a própria consequência, basta dizer «nego» ou «concedo» a consequência, não o consequente. Feita a distinção sobre alguma proposição, todas as vezes que ocorra o mesmo equívoco deve ser aplicada a mesma distinção. Não subdistinga o sentido de uma distinção uma vez concedida, a não ser, evidentemente, que apareça outro equívoco que a primeira
40
distinção não possa suprimir. Deve negar sem receio tudo o que é falso, e não permitir que passe, excepto se for certo tratar-se de má consequência. Se o sentido da proposição não puder ser compreen dido, para que se discirna a verdade, falsidade ou equívoco, peça ao arguente que explique o sentido dela, e então resuma-a. Finalmente, cure de responder com poucas palavras e só ligar à forma do argumento. Nem deve dar razões de tudo o que diz, a não ser que lhe sejam pedidas, mas todo o ônus da prova compete ao arguente; com efeito, assim a força do argumento toma-se mais formalmente conhecida e liberta de embaraços. À tarefa do argumentador pertence: Primeiro, não antepor várias pressuposições, nem introduzir várias proposições médias, nem for mular proposições demasiado longas ou intrincadas, mas cingir-se su cintamente à forma, não utilizando várias interrogações, mas antes apresentando provas, excepto quando a força do argumento é reenviada para isto, para solicitar a razão do que foi dito, ou quando o estado da disputa e o ponto da dificuldade ainda não está suficientemente claro. Segundo, deve prosseguir sempre com o mesmo meio termo através das suas causas e princípios, ou para deduzir o inconveniente, mas não mudar para outro meio termo, nem repetir a prova uma v e z proposta, seja com as mesmas, seja por outras palavras, porque ambas as coisas são prolixas e entediantes. Finalmente, nem sem pre deve usar o silogismo, mas de vez em quando o entimema, que procede mais breve e concisamente, e manifesta menos a força da ilação oculta, pelo que apresenta maior dificuldade ao que responde. Por último, à tarefa d o patrono ou presidente que assiste ã disputa, pertence: Primeiro: atentar e compreender todo o progresso do argumento e da disputa. Segundo: providenciar para que a forma de arguir e responder seja inteiramente observada. Terceiro: não assumir ou preencher a tarefa do respondente, e, muito menos, do impugnador, mas, prudentemente, quando vir a necessidade do respondente. sugerir a negação, concessão, ou distinção da proposição. Finalmente, deve fazer um breve juízo da disputa e clarificar os pontos obscuros.
SEGUNDO PRELÚDIO
DIVISÃO DA ARTE DA LÓGICA, SUA ORDEM E NECESSIDADE
Em toda a arte, duas coisas devem ser principalmente consideradas, nomeadamente a matéria, na qual a arte opera, e a forma, que em tal matéria é aplicada. Por exemplo, ao fazer uma casa, a matéria são
as pedras e a madeira, mas a forma, contudo, é uma composição, porque entre si madeira e pedras são coordenadas na figura e estrutura da casa. O mestre não faz a matéria, mas pressupõe-na; contudo introduz a forma, a qual porque propriamente é criada a partir da arte, é também principalmente intentada por aquela, como sendo produzida por ela. Mas a Lógica é ■um tipo de arte cuja função é dirigir a razão, para que não erre no m odo de discorrer e conhecer», assim como a arte de edificar dirige o artífice para que não erre ao fazer a casa. E assim a Lógica é dita arte racional, não só porque existe na razão com o num sujeito, tal com o as outras artes, mas também porque a matéria que dirige, são as próprias obras da razão. E porque a razão para discorrer e para fazer o juízo procede analiticamente, isto é, deduzindo os seus princípios e discernindo as provas pelas quais é manifestada, da mesma forma a Lógica dirige a razão para que não erre, mas para que correcta e propriamente resolva. Daí que Aristóteles tenha chamado às partes da Lógica que ensinam a forma certa de apresentar o juízo analíticas, isto é, resolutórias, porque ensinam a forma de resolver correctamente e evitar o erro. Contudo, feita a correcta resolução, esta tanto é devida à forma como à certeza da matéria. A matéria são as coisas ou objectos que desejamos conhecer correctamente. A fotma, contudo, é o próprio modo ou disposição pelo qual são conectados os objectos conhecidos, para que possam ser expressos e conhecidos, porque, sem a conexão, nem verdade alguma é concebida, nem é feito o discurso ou ilação de uma verdade para outra. E a resolução, do ponto d e vista da forma, diz-se pertencer aos analíticos anteriores; da parte da matéria, em termos de certeza e condições devidas, pertence aos analíticos posteriores, porque a consideração de uma forma artificial é, em qualquer arte, anterior â consideração da matéria. Desta forma, resumimos as divisões da arte Lógica em duas partes: na primeira tratamos de todas as coisas que pertencem à forma da arte Lógica e à primeira resolução, das quais trata Aristóteles nos livros D e Interpretatione e nos A nalíticos Anteriores, e que nas Súmulas tratamos para os principiantes; na segunda parte tratamos do que pertence à matéria Lógica ou ã resolução posterior, em especial na demonstração, para a qual principalmente é ordenada a Lógica. E nesta primeira parte deixamos um breve texto para os discípulos primeiro estudarem, depois, para os mais experimentados, disputamos as questões mais difíceis. Na segunda parte disputamos mais graves e úteis questões, seguindo um sumário estabelecido a partir dos textos de Porfírio e Aristóteles. Ordem de tratam ento: como a Lógica determina o m odo correcto de raciocinar e são três os actos de razão, nos quais de um se procede
para outro, como ensina S. Tomás no Com entários aos A n a líticos Posteriores, I, lect. 1, não pode observar-se melhor ordem que a de tratar a lógica com o distribuída por estas três operações. A primeira operação do nosso intelecto é chamada apreensão simples, como quando penso num homem, nada daquele afirmando ou negando. A segunda é a composição ou divisão, a saber, com o quando conheço a coisa, para que àquela alguma coisa atribua ou negue, com o quando digo «homem branco», ou nego que o homem seja uma pedra. A terceira operação é o discurso, com o quando de alguma verdade conhecida infiro e colijo outra não presente nesse conhecimento, por exem plo de determinada verdade «o homem é racional», infiro que «logo é disciplinável». Portanto, primeiro apreendo os termos, depois a partir daqueles componho a proposição, finalmente, a partir das proposições, formo o discurso. Assim, distribuímos esta p rim eira p a rte em três livros: o primeiro sobre o que pertence à primeira operação do intelecto, onde tratamos dos termos simples; o segundo sobre a segunda operação do intelecto, onde tratamos da oração, da proposição e das suas propriedades; o terceiro livro versa sobre a terceira operação, onde tratamos do m odo de discorrer e de formar os silogismos e induções, e tudo o mais que pertence à actividade de raciocinar. Na segunda parte da Lógica tratamos do que pertence à matéria de tais operações, principalmente enquanto ordenado paia formar certos juízos derivados de verdades necessárias, o que é feito pela demonstração. Contudo, as verdades necessárias dependem dos predicados essenciais, que são coordenados nos predicamentos, sendo estes tirados dos predicáveis, que exprimem os modos de predicar, como mais detalhadamente explicaremos no início da segunda parte da Lógica. Nem é inconveniente para os termos simples e para o que pertence à primeira operação do intelecto ser tratado na Lógica segunda vez, porque como nota S. Tomás no Comentário ao D e Tnterpyetatione, I, lect. 1, os termos simples são tratados sob um ponto de vista nas Categorias, enquanto significando simples essências; sob outro no D e Interpretatione, enquanto são partes da enunciação; e sob outro nos A n a líticos Anteriores, ou seja como constituindo a ordem silogística 1.
1 Note-se que nesta parte do prólogo Joio de São Tomás está a fazer a apresentação da totalidade do Cursas Poilosopiiicus Thomisticus e que, por isso, as divisões de que fala, e mesmo a numeração dos livros, não correspondem aos da presente tradução, ã excepção dos três artigos das Súmulas, todos os capítulos do Tratado dos Signos estavam, no original, incluídos na segunda parte da Lógica. 43
Finalmente, porque no discurso pode proceder-se de três formas diferentes para formar o juízo, nomeadamente correctamente por demonstração, topicamente por opinião, e erroneamente prelo sofisma, assim Aristóteles, depois de tratar da demonstração e da ciência nos A nalíticos Posteriores, trata da opinião nos Tópicos, e do silogismo sofistico nos Elencos Sofisticos. É extremamente necessária esta arte, tanto pela razão geral de que todas as artes são necessárias para que o homem dirija as suas operações correctamente e sem erro; como pela razão especial de que a Lógica dirige a actividade da razão, da qual dependem todo o discurso e todo o raciocínio, para que correcta e sem erro e ordenadamente proceda — algo muito necessário para que o homem faça uso da razão. Mas disto mais amplamente trataremos na questão de abertura da segunda parte da Lógica.
PRIMEIRA PARTE DA
ARTE DA LÓGICA
L ivros das Súmulas
A rtigo I
DEFINIÇÃO DO TERMO A definição d o termo varia de acordo com o pensamento dos autores, segundo consideram nele diferentes aspectos ou funções: quer com o parte que com põe a oração, seja qual for o m odo com o a integre; quer com o parte principal e apenas ao m odo de um extremo, quer seja um extremo terminando a análise da proposição e do silogismo, ou um extremo ao m odo do predicado e d o sujeito. E de facto estas considerações são verdadeiras e todas têm o seu lugar na discussão d o termo, mas é necessário ver qual explica de forma mais conveniente a natureza do termo, tal com o diz respeito à questão presente. Com efeito, com o a nossa m ente p roced e analiticamente nas ciências, e sobretudo na Lógica, que é chamada analítica por Aristóteles porque é resolutória, é necessário qu e seja designável o último elemento ou termo desta resolução, para lá d o qual a arte lógica não faz a resolução — assim com o também na geração natural a matéria-prima é o último princípio da resolução; de outro m odo, ou será processão ao infinito, ou não se fará uma perfeita resolução. E porque o term o da resolução e o princípio da com posição são o mesmo, aquilo que tenha sido o último elem ento no qual os compostos lógicos se resolvem convenientemente, será também chamado primeiro elemento, d o qual os outros se compõem. Ten do isto em conta, dizemos na presente questão tratar do termo tomado com o último elemento, n o qual é terminada toda a resolução da composição lógica, e até mesmo das próprias proposição e oração, porque convém com eçar deste termo com o d o principal e mais simples. E ainda que Aristóteles nos A n a líticos A nteriores tenha de finido assim o termo: «aquilo em que é resolvida a proposição com o 49
i no predicado e n o sujeito», todavia aí não definiu o term o em toda a sua latitude, mas contraidamente, enquanto serve à construção e com posição silogística, na qual o silogism o consta d e três termos, enquanto são extrem os nas proposições e se revestem d o m o d o de
tá
ser da parte silogística, isto é, são ilativos. Aliás, noutros lugares con siderou Aristóteles o term o sob um asp ecto mais universal, enquanto tam bém é com um ao n om e e ao verbo, e n ão sob o nom e d e term o, mas sob o nom e d e d icçã o , enquanto o n om e e a palavra co m p õ em a enunciação, não a inferência no silogism o. D o n d e S. Tom ás n o D e In te rp re ta tio n e , I, lect. 8, e x p o n d o as palavras d e Aristóteles: «o nom e, e p o r conseguinte o v e rb o serão apenas uma dicção» diz «e isto vê-se d o m o d o d e falar, p orq u e o próprio Aristóteles im pôs este nom e para significar as partes da enunciação*. Dá-se então, segu ndo Aristóteles e S. Tom ás, alguma n atu reza1 com um às partes da enunciação, a qu e o Filósofo chamou dicção e nós chamamos termo, porqu e n ele próprio toda a resolução é terminada, não só d o silogism o, mas também da enunciação, a qual é com posta de dicções simples, e consequentem ente é resolvida naquelas. E no m esm o lugar, lect. 5, d iz S. Tom ás qu e algumas vezes o n om e é tom ado con form e significa em geral qualquer dicção, até m esm o o próprio verbo. E n o in ício do O p ú scu lo 48, chama termos.
B
-------------------------1 Ratio, no original. É vastíssimo o âmbito de significações que ratio pode assumir: «conta, cálculo, interesse, consideração, empenho, relação, comércio, trato, situação, estado, modo, gênero, espécie, natureza, inteligência, juízo, bom senso, prova, motivo, causa, argumento, explicação, opinião, sentimento...» são apenas alguns dos sentidos mais correntes do termo em latim. Nalguns contextos do Tratado dos Signos, quando tal pareceu perfeitamente adequado, optou-se por traduzir ratio por natureza. Mas a verdade é que não existe em português nenhum equivalente semântico de ratio. Em S. Tomás de Aquino e na Escolástica de inspiração tomista subsequente ra tio é um termo técnico de âmbito muito mais vasto do que aquele que o termo «razão» assume hoje para nós. Para São Tomás, ratio tanto pode ser a faculdade de pensar como aquilo pelo que a realidade é o que é. Neste último sentido, muito mais amplo que o termo «razão» em português, ratio confunde-se com ideia, natureza, essência, e em alguns subcontextos do Tratado dos Signos estes três termos são uma opção de tradução adequada. Note-se porém que ratio é, além de princípio de inteligibilidade, logos, razão imanente, essencial e substancial das coisas, que se confunde mesmo com a sua essência: ela é a razão por que uma substância e seus acidentes são aquilo que são. «On dira même qu’il y a une raison immaaente en chaque chose, un logos, et c’est de son essence même, de son intelligibilité propre qu’on veut parler», Nicolas, Marie-Joseph, 1984, «Vocabulaire de la Somme Théologique-, in Somme Théologique, vol. i, Les Éditions du CERF, Paris, p. 115. Por todas estas razões, optou-se no Tratado dos Signos por traduzir ratio quer por «natureza», quer por «razão», Vocábulo que deverá, evidentemente, ser tomado como termo técnico que é no contqxto da filosofia tomista.
50
às «partes da enunciação». Logo, dizem os qu e se d e v e partir desta acepção geral de termo enquanto último elem ento d e toda a resolução lógica, e qu e dele se d eve dar a definição. E assim define-se o termo ou d icçã o n ã o som en te p e lo extrem o da p ro p o siçã o , ou p e lo predicado e sujeito, mas p o r alguma coisa mais geral, ou seja «aquilo a partir de qu e se elabora a proposição simples»; ou antes, imitando Aristóteles, qu e definiu nom e, v erb o e oração co m o «palavras p ro nunciadas» 2, porque são signos mais conhecidos d e nós, define-se assim o termo: «palavra pronunciada convencional m ente significativa, da qual se elabora a proposição simples ou o ra ç ã o »3. Mas para que com preenda tam bém o term o mental e escrito, será d efin id o com o «signo d o qual se elabora uma proposição simples». Chama-se signo ou palavra significativa para excluir as palavras não significativas, c o m o «blitiri» , assim c o m o as excluiu Aristóteles d o nom e e d o verbo; e visto q u e tod o o term o é nom e, verb o ou advérbio, se nenhum destes é um som não significativo, nenhum som sem significado é termo, com o mais detalhadamente mostraremos na questão acerca deste assunto. Diz-se convencionalm ente para excluir os sons significativos naturalmente, c o m o o s gem idos. Diz-se do qual se elabora a proposição simples para excluir a proposição ou oração, a qual não é o prim eiro elem ento d e com posição, mas é algo com p osto com o um todo, e se algumas vezes com põe, com p õe não a proposição simples mas a hipotética. Se p orém o term o fora da proposição é uma parte em acto quanto à essência e caracter da parte, em bora não quanto ao exercício de com por, disso falaremos posteriormente, na prim eira parte da Lógica, q. 1, art. 3, «Acerca d o termo».
no original. 3 Voxsignificativa aciplacitnm exqua stmple.x conficiturpropositio vel oratio, no original. 2 Vroces,
51
i
;
i *
Artigo U
DEFINIÇÃO E DIVISÃO DO SIGNO
Porque tanto o termo com o a oração e a proposição e restantes instrumentos lógicos são definidos pela significação, e porque o in telecto conhece por conceitos significativos, que são expressos porsons significativos, e em geral todos os instrumentos que usamos para conhecer e falar são signos; portanto, para que o lógico com exactidão conheça os seus instrumentos, isto é, os termos e as orações, é necessário que também conheça o que é o signo. Signo, então, define-se em geral como «aquilo que representa à potência cognitiva alguma coisa diferente de si*. Para que esclareçamos melhor esta definição, importa considerar que a cogniçâo tem quatro causas, a saber: eficiente, objectiva, formal e instrumental. A causa eficiente é a própria potência, que elicia a cogniçâo, com o a visão, a audição, o intelecto. A causa objectiva é a coisa que move, ou para a qual tende a cogniçâo, com o quando vejo a pedra ou o homem. A causa formal é o próprio conhecimento pelo qual a potência é tornada cognoscente, com o a própria visão da pedra ou d o homem. A causa instrumental é o meio, pelo qual o objecto é representado à potência, com o a imagem ex terior de César representa César. O objecto é triplo, a saber: motivo apenas, terminativo apenas, e motivo e terminativo simultaneamente. O objecto apenas motivo é o que m ove a potência para formar a ideia não dele próprio, mas de outra coisa, tal com o a imagem do imperador, que move a potência para conhecer o imperador. O objecto que é apenas terminativo é a coisa conhecida pela
52
apercepção 4 produzida por outro objecto, como, por exemplo, o imperador ao ser conhecido pela imagem. O objecto simultanea mente terminativo e motivo é o que m ove a potência para formar a cogniçâo dele próprio, como quando uma parede é vista em si mesma. Portanto, »fazer conhecer» é mais vasto do que «representar», e «representar» é mais vasto d o que «significar». Na verdade, fazer conhecer é dito acerca de tudo o que concorre para a cogniçâo, e assim é dito de quatro modos, ou seja, eficientemente, objectivamente, formalmente e instrumentalmente. Eficientemente, com o da própria potência que elicia a cogniçâo e das causas concorrentes para esse conhecimento, como Deus que move, o intelecto agente ou produtor de espécies, o hábito adjuvante, etc. Objectivamente, como da própria coisa que é conhecida. Por exemplo, se conheço o homem, o homem como objecto faz-se conhecer a si próprio apresentando-se à potência. Formalmente, como da própria apercepção, que, com o forma, toma a potência cognoscente. Instrumentalmente, como do próprio meio que traz o objecto ã potência, como a imagem d o imperador traz o imperador para o intelecto ã maneira de um meio, e a este meio chamamos instrumento. Representar diz-se de tudo aquilo por que alguma coisa se faz presente à potência, e assim diz-se de três modos, ou seja, objectivamente, formalmente, e instrumentalmente. Com efeito, um objecto, como uma parede, representa-se a si objectivamente; a apercepção representa-o formalmente; o vestígio instrumentalmente. Significar diz-se daquilo por que alguma coisa distinta de si se faz presente, e assim só é dito de dois modos, a saber, formaimente e instrumentalmente. Aqui nasce a dupla divisão do signo. D e facto, conforme o signo se ordena à potência, divide-se em signo formal e instrumental; mas
4
Notitia,
no original.
Notitia é aquilo
que é apercebido e fixado pela mente
na sequência de um acto cognitivo. Os tradutores americanos de João d e São Tomás verteram-no, na edição de W ad e, por
awareness,
knowleclge,
na de Deely, por
o que, tal como na opção aqui seguida, é um vocábulo ligeiramente
mais activo d o que o desejável. A língua mais apropriada para dar conta desta
notitia é, fiel e simplesmente, vertido por 1'aperçu. No caso da versão portuguesa d o texto, optou-se por dar conta de notitia como apercepção, importando, todavia, clarificar q u è a palavra não pode
expressão parece ser o francês, onde
ser tomada nem no sentido de apercepção reflexiva, tal com o foi utilizada por Leibniz, nem, puramente, n o sentido de «acto de se aperceber d e alguma coisa», porque
notitia
é mais passiva — é o acto de se aperceber, mas é também aquilo
que resulta na mente depois de dado o acto d o sujeito sé aperceber de algo —
1'aperçu.
53
i
( ^
enquanto se ordena ao objecto 5, divide-se, segundo a causa daquela ordenação, em natural, convencional e consuetudináriõ. O signo formal é a apercepçâo formal 6, a qual a partir de si própria, não mediante outro, representa. O signo instrumental é aquele que, a partir da cognição preexistente de si, representa alguma coisa diferente de si, com o o vestígio do boi representa o boi. E esta é a definição que geralmente costuma ser dada acerca d o signo. O signo natural é aquele que representa pela natureza da coisa, independentemente d e qualquer imposição ou costume; e assim, representa o mesmo junto de todos os homens, como o fumo representa o fogo. O signo convencional é o que representa alguma coisa a partir da imposição da vontade, por autoridade pública, com o a palavra “homem». O signo consuetudinário é aquilo que só pelo uso representa, sem imposição pública, assim como os guardanapos em cima da mesa significam refeição. De todas estas coisas que dizem respeito à natureza e divisão dos signos tratamos mais detalhadamente neste Tratado dos Signos.
5 Signatum, no original. Com signatum João de São Tomás refere-se à própria coisa absoluta, tomada em si mesma, que o signo referencia; fala-se então do objecto, ou referente, para utilizar uma terminologia bem estabelecida nos nossos dias. Em todas as ocasiões que signatum é utilizado, optou-se pois por vertê-lo como objecto. Mas uma segunda dificuldade se coloca; em latim existe o verbo signo, que não possui perfeito equivalente em português. Optou-se em tais casos pelo uso d o verbo assinalar, o qual, pese embora as diferenças semânticas que a evolução da semiótica foi estabelecendo entre signo e sinal, substantivos que correspondem a tais verbos, continua, em português, a ser o mais aproximado d o signo original. ° jPormalis notitia, no original.
54
Artigo U I
ALGUMAS DIVISÕES DOS TERMOS
Um termo divide-se primeiramente em mental, vocal e escrito. O termo mental é a apercepção ou conceito do qual se faz uma proposição simples. O termo vocal foi definido acima, no artigo i. O termo escrito é a escrita significando convencionalmente, da qual se faz a proposição simples. O termo mental, se atendermos às diversas espécies essenciais dele, divide-se segundo os objectos, que diferenciam as espécies do conhecimento. E assim não tratamos da divisão daqueles tipos essenciais de termo na presente questão, mas apenas tratamos de algumas condições gerais das apercepções ou conceitos, pelas quais se distinguem os vários modos de conhecer. E nota que é a apercepção simples que é dividida aqui, isto é, o conhecimento que pertence apenas à primeira operação do intelecto; com efeito, tratamos da divisão do termo mental, porém, o termo diz respeito ã primeira operação. Donde nesta divisão dos conceitos não se inclui qualquer apercepção pertencente ao discurso ou composição, pois nenhuma destas é termo ou apreensão simples. E, semelhantemente, põe-se de parte toda a apercepção prática, e toda a que exprime a ordem para a vontade, porque a vontade não é movida pela apreensão simples do termo, mas pela composição ou juízo de conveniência da coisa, com o diremos no livro D e Anim a. Portanto, a apercepção, que é a apreensão simples, ou o termo mental, divide-se primeiramente em apercepção intuitiva e abstractiva. Esta divisão não só abrange a apercepção intelectiva, mas também a dos sentidos externos, que é sempre intuitiva, e dos sentidos internos,
55
que algumas vezes é intuitiva, e outras vezes abstractiva. A apercepçào intuitiva é a apercepçào de uma coisa presente. E d igo d e uma coisa presente, não apenas apresentada à própria potência; com efeito, ser presente pertence à coisa em si própria, enquanto está fora da potência, enquanto ser apresentada convém à coisa com o objecto da própria potência, qu e é algo comum a toda a apercepçào. A apercepçào abstractiva é a apercepçào de uma coisa ausente, e é entendida de m odo oposto à intuitiva. Segundo: d o ponto de vista d o conceito, divide-se a apercepçào em conceito ultimado e não ultimado. O conceito ultimado é o conceito d e uma coisa significada por um termo, com o a coisa que é o homem é significada pela palavra «homem». O conceito não ultimado, ou m eio, é o conceito d o próprio termo com o significante, com o o conceito do termo «homem». Terceiro: o conceito divide-se em directo e reflexo. E reflexo o conceito p elo qual conhecem os que conhecemos, o qual tem, assim, por objecto algum acto ou conceito ou potência n o interior d e nós. É directo o conceito p e lo qual conhecem os algum objecto fora d o nosso conceito, e sem reflectirmos sobre a nossa cognição, com o quando é conhecida uma pedra ou um homem. A segunda divisão do termo pertence mais própria e principalmente ao termo vocal, dividindo-se assim o termo em unívoco e equívoco. Diz-se termo unívoco aquele cujo significado significa o m esm o conceito, com o a palavra «homem» significa todos os homens, o mesmo sucedendo com o conceito de natureza humana. E entende-se no mesmo conceito simplesmente, não apenas proporcionalmente. Diz-se term o equívoco aquele cujo significado não significa o mesmo, mas vários conceitos, isto é, quando estes não coincidem de algum m odo proporcionalmente, mas diferem, com o p o r exem plo a palavra «canis», que significa simultaneamente animal e constelação. E por este m otivo não se dá o equ ívoco no conceito último da mente, com o diremos na Lógica, porque o conceito é uma semelhança natural, e se é um, a representação daquele é una; mas se atinge muitos, isto sucede enquanto coincidem em alguma razão una, que é própria do unívoco. E assim esta divisão toca propriamente o termo vocal, no qual se encontra o equívoco, is to é a unidade da vo z com pluralidade de significações, porque a significação é convencional, não natural. Veja-se também o que é dito no Tratado dos Signos acerca do segundo argumento. E recorda que Aristóteles definiu o equívoco no Antepredicamento c o m o «aquelas palavras cujo nom e é com um , mas o con ceito significado é diverso», porque aquela definição era dada acerca das coisas significadas pelo nom e equívoco ou unívoco, que são ditos
56
equívocos equivocados, isto é, significados equívocos. Nós, porém, definimos aqui os termos equivocamente ou univocamente significantes, sendo ditos equívocos equivocantes, isto é, equivocamente ou univocamente significantes. Divide-se o equívoco em equívoco por acaso ou p or determinação. O primeiro é simplesmente equ ívoco e convém-Ihe a definição dada. O segundo é análogo, isto é, aquele que significa o s seus significados com o sendo um só. segundo uma certa proporção, e não simples mente. tal com o «são» é dito d o animal e da erva. Disto tratamos na Lógica. Xa presente questão damos duas regras para a analogia. Primeira: o análogo tomado por si próprio está p elo significado mais comum; assim com o dizendo «homem», e nada acrescentando ao teim o que o restrinja ou determine, vale por hom em vivo, não p o r uma pintura. Segunda: na analogia ou equívocos semelhantes, os sujeitos são apenas os que são permitidos ou restringidos pelos seus predicados, sendo assim que. quando um nome significa várias coisas, é determinado com o estando por alguma coisa segundo a exigência ou a restrição do predicado, com o se dizes «o cão ladra», está para o cão, que é animal, e não para constelação. Estas regras explicamo-las na Lógica. A terceira divisão d o termo é em categorem ático e sincategoremático. com o se dissêramos em latim significativo ou predicativo e consignificativo. Categoremático é aquilo que por si significa alguma coisa. Onde a expressão -por si» é para juntar à expressão «alguma coisa», isto é. significa alguma coisa, que é representada com o algo por si. não com o advérbio ou modificação, mas com o uma certa coisa, assim com o quando digo «homem». O termo sincategoremático é aquele que de alguma maneira significa, c o m o os advérbios «velozmente», «facilmente». E é dito de alguma maneira significar não porque verdadeira e propriamente não signifique, mas porque o significado dele não é representado com o coisa por si, mas como m odo da coisa, isto é, exercendo modificação na coisa.
57
SEGUNDA PARTE DA
ARTE DA LÓGICA
A o Leitor, Com a ediçào deste livro cumpro a minha promessa de publicar a segunda parte da Lógica, um acontecimento tom ado mais feliz p e lo seu vínculo ao proveito dos leitores. Procurando o proveito dos que qu erem aprender, e acham a disputa prolixa das questões entediante, julgo ter tratado o assunto de tal forma qu e não presumo ter antecipado aqueles de mais rápida percepção, mas para os espíritos mais lentos não levantei um nevoeiro. Curo sempre de revelar com a brevidade possível o ponto d e vista a ser mantido, com receio de que cansadamente nos agarremos a opiniões obscuras que nào consideramos sãs, enquanto deixam os na ambiguidade o que pen samos ser importante. A m brósio aconselha bem nos Salm os quando diz que «os assuntos tomam-se mais fáceis quando são explicados com brevidade». Especialmente nestes cursos para principiantes, julgo que a intenção d o escritor d eve ser mais revelar a facilidade d o assunto do que a erudição e as múltiplas doutrinas do seu campo. Cobrimos aqui, com o prometemos, as várias questões tradicionalmente tratadas na primeira parte da Lógica, excepto, por boas razões, o Tratado dos Signos, cheio d e tantas e tào extraordinárias dificuldades, e assim, para libertar os textos introdutórios da presença destas dificuldades incomuns, deádim os pubiicá-lo separadamente em lugar de um com entário ao D e ln terpretcitione, e junto com as questões dos A n a lítico s Posteriores-, e para um uso mais conveniente separamos o Tratad o dos Signos da discussão das Categorias. O que resta discutir acerca da Filosofia Natural, para completar o curso de Estudos em Artes, com prom etem o-nos a tratá-lo n o m esm o estilo e maneira. Até breve.
61
AC E R C A D O S LIVROS D E IN T E R P R E T A T IO N E
Os livros Peribennenias são assim chamados com o se disséssemos •Acerca da Interpretação-. Nestes trata Aristóteles principalmente da ora ção e da proposição. Pára isto, foi necessário primeiro tratar das suas partes, que são o nome e o verbo. Depois, das suas propriedades, que são oposição, equivalência, contingência, possibilidade, e outras seme lhantes. Destas coisas tratamos nos livros das Súmulas; efectivamente, todas estas coisas se ordenam e pertencem aos A n a líticos Anteriores. Mas porque todas estas coisas são tratadas nestes livros por meio da interpretação e significação, e visto que o instrumento da lógica é o signo, de que constam todos os seus instrumentos; por isso, pareceu melhor agora, em vez da doutrina destes livros, apresentar aquelas coisas destinadas a expor a natureza e divisão dos signos, que nas Súmulas foram introduzidas, e para aqui, portanto, foram reservadas. Agora, porém, neste lugar com toda a razão se introduzem, depois do conhecimento havido acerca do ente da razão e categoria da relação, dos quais principalmente depende esta inquirição sobre a natureza e essência dos signos. Para que o assunto mais clara e frutuosamente seja tratado, achei por bem separadamente acerca disto fazer um tratado, em vez de reduzir e incluir a questão na categoria da relação, para que a discussão da relação não se tomasse redundante e enfadonha pela introdução deste tema exterior: e também para que a consideração d o signo não se tornasse mais confusa e breve. Portanto, acerca da própria natureza1 dos signos, ocorrem duas questões principais que devem ser discutidas. A p rim eira é acerca da
1 Ratio. no original.
63
natureza e divisão do signo em geral; a segunda é acerca da divisão deste e de qualquer um em particular. E no primeiro livro do Tra tado, versaremos esta primeira questão; da segunda trataremos no livro seguinte.
L iv r o Z er o
ACERCA D O ENTE DE R A Z Ã O E D A C ATE G O R IA DE RELAÇÃO
O R D E M D O PR E Â M B U LO
C om o com eçam os a tratar d o objecto ou matéria da Lógica, importa, pela própria ordem da doutrina, com eçar p e lo mais universal. E assim, ini ciamos a disputa p elo ente de razão, não enquanto precisamente se o p õ e ao ente real e é comum a todos os entes d e razão, pois assim, com efeito, pertence à metafísica, mas enquanto é comum apenas às segundas intenções, que pertencem à Lógica. Acerca disto ocorrem três considerações: P rim e iro , o que é este ente de razão; Segundo, quantos há; Terceiro, por qu e causa é formado. Contudo, antes destas considerações, para qu e se tenha, em geral, p elo menos algum im perfeito con h ecim en to do ente d e razão, são exam inadas algumas considerações acerca do próprio gênero do ente de razão.
67
C apítulo I
O QUE É EM GERAL UM ENTE DE RAZÃO E QUANTOS HÁ
O ente de razão, em toda a sua latitude, se atendermos à significação do nome, exprime isto, o que depende de algum m odo da razão. Contudo, pode depender ou como o efeito da causa, ou como o objecto depende do cognoscente. No primeiro modo, alguma coisa pode ser encontrada dependendo da razão de duas formas: ou porque é da própria razão, que é sua causa eficiente, assim como a obra de arte, a qual é inventada por obra da razão; ou porque está na própria razão com o num sujeito e causa material, assim como os actos e os hábitos estão no intelecto. Mas cada um destes modos pertence ao ente real, porque o ente assim dito tem existência real e verdadeira, embora dependente do intelecto. Mas o que depende do intelecto pelo segundo modo, ou seja, como objecto, é chamado propriamente ente de razão, pertencendo assim à questão presente, pois não tem nenhum ser fora da razão, mas apenas é dito estar na própria razão objectivamente, opondo-se desta forma ao ente reaL. Que exista um ser neste sentido tem sido negado por alguns, embora em geral seja afirmado pelo consenso de filósofos e teólogos, visto que todos distinguem o ente real do ente fictício ou de razão, porque aquele existe no mundo da natureza, e este não tem existência nas coisas, mas apenas é conhecido e construído. E até a própria experiência prova isto suficientemente, visto vermo-nos muitas vezes a imaginar e conhecer coisas que são de todo impossíveis, e tais são os entes construídos ou fictícios. São
69
um certo tipo de ente porque são conhecidos ao m odo do ente real, mas fictícios porque não lhes corresponde nenhum ser verdadeiro da parte da realidade. Destas considerações pode extrair-se uma d efin içã o ou explicação do ente de razão em geral, a saber, que é ■um ente que tem existência objectivamente na razão, ao qual nenhum ser corresponde nas coisas». Isto mesmo se retira de S. Tomás no livro A cerca do Ente e da Essência, cap. i, e M etafísica, V, lect. 9, e Sum a Teológica, I, q. 16, art. 6, resp. obj. 2, onde diz que o ente de razão é assim chamado porque embora nas coisas nada ponha, e em si não seja ente, todavia é formado ou recebido com o ente na razão. Este m odo de explicar é o mais conveniente porque como o ente é dito a partir do acto de ser e por ordem à existência, assim com o um ente real é definido pela ordem para a existência, que possui verdadeiramente e nas coisas; assim, o ente de razão, que se op õe àquele, deve ser explicado de m odo oposto, ou seja, como aquele que não tem existência nas coisas e tem existência objectivamente na cogniçâo. Mas o que alguns dizem, isto é, que o ente de razão consiste na denominação extrínseca, pela qual uma coisa é dita ser conhecida, como Durandus no C om entário às Sentenças de Pedro lom ba rd o, I, dist. 19, q. 5, n. 7, é duvidoso, em primeiro lugar porque entre os' autores há grande controvérsia sobre se uma denominação extrínseca é formalmente um ente de razão, como diremos. Depois, é falso, universalmente falando, que o ente de razão enquanto tal consista somente na denominação do conhecido. Com efeito, esta denominação ou é forma constituindo o ente de razão, ou é o que recebe a formação do ente de razão. A primeira hipótese não pode ser verdadeira, porque esta denominação também pode cair sobre os entes reais, que são denominados conhecidos; contudo não são formados por esta denominação entes de razão, porque não são tornados fictícios ou construídos. Se atentarmos na segunda hipótese, é verdade que a denominação extrínseca é apreendida com o ente de razão, porém não só a denominação extrínseca, mas também todas as outras que não são entes, como as negações, privações, etc. Se contudo inquirires o que é ter ser na cogniçâo, respondo que isto depende do que diremos sucintamente sobre a causa do ente razão e o acto pelo quai é formado. Entretanto, basta ouvir S. Tomás nos Com entários à M etafísica de Aristóteles, IV, lect. 1, onde diz: -Dizemos de alguma coisa que existe na razão, porque a razão enquanto afirma ou nega alguma coisa dela, lida com ela quase como se se tratasse de algum ente.» Isto não deve ser entendido com o se o ente de razão só fosse formado por uma proposição que
70
nega ou afirma, mas porque a formação da proposição acerca do objecto que não tem ser da parte da coisa, é signo, recebido pelo intelecto com o se fosse um ente, porque a ele é aplicada a cópula que significa «ser». Assim, o próprio acto do intelecto que atinge o objecto como se fosse um ente, embora este não exista fora do intelecto, tem dois aspectos: não só enquanto é uma cogniçâo toma alguma coisa conhecida, e assim no objecto só p õ e a denominação extrínseca do conhecido; mas também torna o objecto conhecido ã semelhança do ente, embora este na realidade não seja ente, e isto é dar existência de razão à sua existência fictícia. E assim S. Tomás, no Opúsculo 42, cap. i, diz que um ente de razão é produzido quando o intelecto se esforça por apreender o que não existe, e assim representa o que não existe com o se fosse um ente. E no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 2, q. 1, art. 3, diz que o ente de razão é consequência do m odo de inteleccionar as coisas que estão fora da alma, e que as intenções que o nosso intelecto introduz são deste tipo. Nessa passagem S. Tomás diz ser o mesmo para o ente de razão «ser efeito-, «ser introduzido», «ser apreendido» e «ser conse quência» do m odo de inteleccionar. E assim, como diremos mais adiante, o ente de razão não tem formalmente existência construída ou objectiva por isto, porque é tomado conhecido como «o que» é conhecido; com efeito, assim já é suposto ter ser ou alguma razão, sobre a qual cai a denominação de conhecido. Mas aquele acto que diz respeito ao não ente sob razão e ao modo do ente, é dito construir ou formar o ente de razão, e não somente denominar. E nisto consiste ter existência objectivamente no intelecto, isto é, do próprio m odo de conhecer é construído apreensivamente como ente o que não é ente. Dizes: logo, todo o objecto concebido pelo intelecto de m odo diferente da forma como existe no mundo é um ente de razão. A consequente é falsa, pois conhecemos muitos entes reais, como Deus e os anjos e outras coisas que não experienciamos, não como são em si próprios, mas à semelhança de outros entes reais. É negada pois a consequência porque tais entes são supostos serem verdadeiros entes reais no mundo. Donde não é d o m odo de conhecer que se atribui àqueles a razão do ente; mas porque não são atingidos de m odo próprio e especialmente seu, são ditos serem atingidos à semelhança de outro. Contudo, ser conhecido à semelhança de outro não basta para que sejam denominados entes formados absolutamente pelo intelecto na razão do ente, mas são denominados conhecidos por meio d e uma natureza estranha, não por meio do seu próprio ser, e então recebem no seu ser conhecido uma conotação relativa àquilo que se refere ao m odo pelo qual são conhecidos.
71
Havida noção 1 do ente de razão em geral, resta também breve mente determinar quantos tipos de entes de razão há. Acerca de tal divisão, que divide os entes de razão em toda a sua latitude, não é tarefa do lógico tratar, já que este só se ocupa do ente de razão lógico, um dos membros desta divisão. Contudo, para que seja conhecido a que membro da divisão pertence o ente de razão lógico, brevemente diremos que S. Tomás na q. 21 de D e Veritate, art. 1, adequadamente divide o ente de razão, entendido na sua forma mais geral, em dois membros, a saber, em negação e relação de razão. Isto, diz, que é de razão, não pode ser senão duas coisas, isto é, negação ou alguma relação; «com efeito, todo o uso absoluto de uma palavra significa o existente nas coisas da natureza». Sob a negação, contudo, também inclui a privação. Pois a privação é uma espécie de negação ou carência de forma no sujeito apto a receber a forma oposta, enquanto a negação é carência no sujeito que repugna a uma forma, assim com o a negação da possibilidade de uma pedra ver é negação, enquanto no homem é privação. A relação também tem esta particularidade em virtude do seu conceito, o qual é ser para outro, que é poder ser encontrada na apreensão isolada e não nas coisas, quando é relação para algo que não existe no mundo, com o S. Tomás mostra na Suma Teológica, I, q. 28 art. 1. Nem todos admitem a suficiência desta divisão, porque julgam ' que o ente de razão deve prim eiro ser divid id o n o que tem fundamento no real e no que não tem 1 2; e o primeiro é chamado ente de razão raciocinado, o segundo ente de razão raciocinante. Contudo somente o ente de razão raciocinado é, dizem, dividido em negação e relação, enquanto o ente de razão raciocinante é encontrado em todas as categorias. Veja-se Serna no C om entário ã Lógica de Aristóteles, cüsp. 1, sect. 4, q. 2, art. 3; e Cabero, A cerca dos Universais, disp. 1, dub. 3; e Merinero, disp. 3, q. 2. Outros julgam que não pode dar-se nenhuma espécie determinada de ente de razão, mas dizem que toda a oposição ou impossibilidade ou contradição é uma espécie de ente de razão, porque todas as coisas desse tipo são entes fictícios ou construídos. Assim pensa Martínez, disp. 2, n o prólogo à q. 1. Outros dividem outras espécies de ente de razão arbitrariamente, mas não é necessário curar destas posições. D eve contudo dizer-se que é óptima e adequada esta divisão do ente de razão em negações e relações, e a que mais directamente convém ao ente de razão em geral.
1 Notitia, no originai. 2 quocl habet Jundamentum in re et quod non habet, no original.
72
Com efeito, no ente de razão podemos considerar três coisas: a primeira é o sujeito ao qual é atribuído; a segunda é a própria razão que é concebida e atribuída ao outro; a terceira é aquilo a cuja semelhança o ente de razão é apreendido e concebido. Da parte do sujeito, ao qual o ente de razão é atribuído, por vezes encontra-se o fundamento para que tal ou tal m odo lhe seja atribuído, outras vezes não. E assim, a respeito disto tiramos aquela distinção de ente de razão com fundamento ou sem fundamento na realidade; pois esta distinção é aceite respectivamente ao sujeito ao qual é atribuído tal ente de razão. Similarmente, da parte daquele à semelhança do qual se concebe o ente de razão, não repugna que se encontre por todas as categorias, porque âs vezes pode ser construída e apreendida alguma coisa ã semelhança da substância, com o a quimera ou uma montanha dourada; às vezes, à semelhança da quantidade, com o o vácuo; outras vezes, à semelhança da qualidade, como, por exemplo, se a morte ou a cegueira forem concebidas como negritude ou uma espécie da forma obscura. Todavia se considerarmos o ente de razão d o ponto de vista da coisa concebida ou do ponto de vista do que é cognoscível ao m odo do ente real, embora no mundo não seja ente, o ente de razão é âdequadamente dividido naqueles dois membros, isto é, na negação e na relação como seus dois primeiros gêneros, sob os quais muitas negações e relações se subdividem. E porque isto é o elemento formal que é atingido no ente de razão, logo, esta divisão é directa e formal, embora outras divisões também possam ser admitidas, contudo baseadas nas condições para o ente de razão, não baseadas directamente no ente de razão. E porém adequada esta divisão porque, formalmente, a própria essência 3 d o ente de razão consiste na oposição ao ente real, isto é, que não seja capaz de existência. E isto que não é capaz de existência, este ente de razão, ou é alguma coisa d e positivo, ou de não positivo. Se não positivo, é negação, isto é, não pondo, mas retirando a forma. Se é positivo, só pode ser relação, porque todo o positivo absoluto 4, com o não é concebido relativamente a outro, mas em si, ou é uma substância em si, ou um acidente no outro.
3 Fatio, no original. 4 Absoluto é aquilo que é considerado isoladamente em .si, e não relacionado com outra coisa. E, pois, algo que não depende de nada extrínseco a si próprio na sua constituição e especificação. Opondo-se ao absoluto estão os relativos, entes que dependem de relações estabelecidas com outros para a sua constituição ou especificação.
73
Portanto não pode algum positivo absoluto ser tomado com o ente de razão, porque o próprio conceito de ser em si ou no outro importa alguma realidade. Na verdade, a relação isolada, porque exprime não só o conceito de -estar em-, mas também o conceito de -ser para» — precisamente em razão do que a relação não exprime a existência em si, mas o -atingimento» extrínseco do termo — não repugna que seja concebida sem realidade, e, logo, como ente de razão, concebendo aquele ente relacionai não com o num outro ou com o em si, mas como para outro com negação da existência em outro. M as podes objectar duas coisas: P rim eiro, para provar que as privações e as negações não são ditas serem entes de razão cor rectamente. Pois a privação e a negação exprimem a carência da forma e denominam o sujeito carente à parte quaisquer considerações do intelecto; logo, não são carências construídas pela mente nem entes de razão. É patente a consequente, porque o ente de razão depende da cognição para que exista e confira o seu efeito formal; logo, se antes da cognição a privação ou negação dá a sua denominação às coisas, a negação não é um ente de razão. E o mesmo argumento é posto a partir da denominação extrínseca, por exem plo ser visto ou ser conhecido. E que à parte qualquer consideração d o intelecto, e somente pelo facto de haver uma visão da parede no olho, a parede é denominada vista; e semelhantemente antes de o ente de razão ser produzido, a natureza pode ser denominada superior ou inferior, predicado ou sujeito, etc. ... E confirma-se porque a denominação extrínseca segue-se da forma real existente em algum sujeito; logo é forma real. A consequente é manifesta porque, assim como a denominação que se segue da forma substancial é substancial, e a que se segue da forma acidental é acidental, assim a denominação que se segue da forma real deve ser real. A resposta a isto é que a negação, como exprime a carência da forma, é dada da parte do ente real negativamente, porque a própria forma não está no re a l5. Contudo, não é por isto que é dito ente de razão, mas porque, como na coisa não é ente, mas carência de forma, é recebido pelo intelecto ao m odo d e um ente, e assim, antes da consideração do intelecto denomina o sujeito carente. Mas esta carência não é propriamente um efeito formal, nem retirar a forma é alguma forma, mas a carência é recebida pelo intelecto à maneira de um efeito formal, enquanto é recebida ao m odo da forma, e
5 In re, no original.
consequentemente ao m odo de um efeito formal; enquanto na coisa aquela carência não é efeito formal mas ablação daquele efeito. E semelhantemente dá-se uma denominação extrínseca da parte da coisa real quanto à forma denominante. Mas porque a sua aplicação à coisa denominada não está realmente na própria coisa denominada, assim, conceber aquela forma como adjacente e aplicada à própria coisa denominada é alguma coisa de razão. Mas ser predicado e sujeito, superior e inferior, encontra-se antes da cognição do intelecto apenas fundamentalmente, não formalmente sob o conceito da relação, com o com mais pormenor diremos ao tratar dos Universais. Para confirmação, responde-se que alguns defendem absolutamente que a denominação extrínseca é alguma coisa de razão, como Vázquez no seu Com entário à Suma Teológica, I, disp. 115, cap. 2, n. 2; e I-II, disp. 95, cap. 10. Outros defendem absolutamente que é alguma coisa real, contudo não por uma realidade intrínseca, a qual sem alguma coisa acrescentada pela razão produz o seu efeito, mas antes extrínseca. Assim pensa Suárez, na última das suas D isputas Metafísicas, sect. 2, e outros. Mas parece mais verdadeiro que nesta denominação concorram duas coisas, a saber, a própria forma como natureza denominante, e a adjacência ou aplicação daquela ao denominado como condição. E quanto à própria forma, é manifesto ser alguma coisa de real, assim como a visão, pela qual a parede é denominada vista, é uma forma real no olho; todavia a aplicação da forma enquanto toca o sujeito denominado não é alguma coisa de real, porque nada p õ e na própria parede. Tudo o que de não real é apreendido, é alguma coisa de razão, e assim, da parte da aplicação, uma denominação extrínseca é alguma coisa de razão na forma denominada. O sujeito denominado extrinsecamente é, todavia, dito ser denominado antes da operação do intelecto, não em razão do que o intelecto pòe no sujeito denominado, mas em razão do que o entendimento supõe para lá d o sujeito, porque nele próprio uma denominação extrínseca é uma forma real, mas não existe realmente naquilo que denomina. Donde, por razão da não existência é tomado como ente de razão, contudo, em razão da pré-existência em outro, a partir do qual diz respeito à coisa denominada, é dito denominar antes da operação do intelecto. E se for inquirido a que m embro desta divisão pertence a denominação extrínseca, quando é concebida com o ente de razão, responde-se pertencer à relação, porque não é concebida com o afectando pelo acto de negar e retirar a forma, mas pelo acto de ordenar e depender daquilo donde é extraída a denominação, ou naquilo para que é imposta e destinada pela cognição. Uma segunda objecção é dada para provar que esta divisão não é adequada. Com efeito, a unidade de razão que é atribuída ao
75
universal pelo intelecto é alguma coisa de razão, e não é relação nem negação. Não é relação porque a unidade é dita absolutamente, não respectivamente a outro. Não é negação, tanto porque a unidade exprime alguma coisa de positivo e não a pura negação, com o diz S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 11, art. 1; com o porque, se fosse negação, deveria ser concebida ao modo do ente de razão, e assim não seria dita unidade de razão, isto é, negação de razão, mas ente de razão absolutamente. E, de modo semelhante, a dualidade ou distinção de razão não é uma negação, uma vez que antes retira a negação da unidade; nem é uma relação, porque a relação é fundada sobre a distinção ou dualidade dos termos distinguidos; logo, é alguma coisa de outra espécie. Isto é confirm ado no caso das coisas que são puramente imaginadas, com o a quimera, o monte dourado, e outras semelhantes. Estas, com efeito, não são negações nem relações, mas várias subs tâncias sintetizadas pelo intelecto a partir de partes que entre si são opostas. E, semelhantemente, pode dar-se uma qualidade ou quan tidade de razão, por exemplo como se o vácuo fosse compreendido ao m odo da quantidade, ou as trevas ao m odo da qualidade. Logo, nem todos os entes de razão se reduzem a estes dois, negação e relação. Responde-se que alguns julgam que a unidade de razão apenas é extraída da unidade do conceito, e que a distinção de razão é tirada da pluralidade de conceitos, o que é certamente verdadeiro da parte da causa eficiente ou causante do ente de razão. Mas no presente não inquirimos disto, mas da causa objectiva ou fundamental. Donde respondemos que a unidade de razão da parte do objecto pertence formalmente à negação ou à privação, porque não é mais que o isolar daquilo em que está o acordo 6 de muitos fazendo a diferença. E para primeira impugnação respondo que segundo S. Tomás, na passagem citada, a unidade materialmente e entitativamente é alguma coisa de positivo, mas formalmente é negação da divisão. E para a segunda impugnação respondo que não é contraditório que esta
6 Ccmvenientia, no original. O verbo convenire, em geral, podería ser traduzido por convir a, adaptar-se, acomodar-se, pertencer, estar de acordo, apropriado, adaptado, justificado... Em S. Tomás de Aquino, o termo assume um caracter eminentemente técnico. Na teologia tomista, em sentido restrito, convenientia é aquilo que convém a um ser, que é o seu bem, para o qual tende; e num sentido mais abrangente, é o que, sem pertencer necessariamente a um ser, nem ser requerido pelo seu telos, aperfeiçoa-o e pode coadjuvar na prossecução do seu fim próprio. Sempre que convenlens, e non convenietis (ilógico, absurdo, incoerente) não forem traduzidos literalmente, optou-se pelo vocábulo mais apropriado ao contexto em apreço.
76
unidade de ra2 ão seja também ente de razão; uma vez que a própria negação ou separação da pluralidade e diferença é recebida no intelecto ao m odo de um ente. E para a questão acrescentada sobre a dualidade ou distinção de razão, respondo que a distinção de razão formalmente é uma relação d e razão, e é a própria relação dos termos distinguidos, cuja distinção é um tipo de relação pelo próprio facto de serem apenas distinguidos por m eio da razão, embora os extremos distinguidos sejam eles próprios às vezes concebidos ao modo das coisas absolutas, como, por exemplo, ao m odo de duas substâncias. Mas esta relação de distinção é fundada não noutra dis tinção aceite formalmente, mas fundamentalmente, isto é, é fundada numa pluralidade virtual que se obtém da parte do objecto enquanto sujeito a uma pluralidade de conceitos. Para confirmação responde-se que todas aquelas coisas imaginadas são entes de razão, que são negação; não na verdade que existe e é dada uma substância de razão ou quantidade de razão, porque não é substância ou quantidade aquilo que é formado pela razão a partir da semelhança com os entes reais, mas antes negações da substância ou da quantidade concebidas à semelhança de uma substância ou quantidade. Também não é dito ente de razão aquilo por cuja semelhança alguma coisa é concebida, mas sim o que é concebido à semelhança do ente, embora em si não seja ente. Sobre este assunto veja-se mais pormenorizadamente adiante o capítulo A cerca da Relação. E disto segue-se que no universal metafísico, que expressa apenas a natureza abstraída e concebida à maneira da unidade, com õ diremos na questão seguinte, já é encontrada alguma coisa de razão, a saber, o que em virtude da abstracção convém à natureza representada ou conhecida, isto é, a unidade, ou aptidão, ou não repugnância para estar em muitos. Com efeito, estas negações são alguma coisa de razão, mas não são formalmente segundas intenções, que consistem na relação fundada nas naturezas assim abstraídas. O universal assim abstraído é dito metafísico, não lógico, porque nem todo o ente de razão formalmente e directamente pertence à Lógica, mas à segunda intenção, com o segundo S. Tomás mostramos n o artigo 3 da questão precedente. Mas a segunda intenção é uma relação de razão, não negação com o o é a unidade, e contudo convém à coisa abstraída e una.
77
Capítulo XI
O QUE É A SEGUNDA INTENÇÃO, A RELAÇÃO DE RAZÃO LÓGICA, E QUANTAS EXISTEM
A segunda intenção é o ente de razão, do qual propriamente trata o lógico, enquanto tal relação considerada pelo lógico é trazida a' partir da ordenação dos conceitos. E assim S. Tomás, no Livro IV dos Comentários à Metafísica de Aristóteles, lect. 4, diz que «o ente de razão é dito propriamente daquelas intenções que o intelecto introduz nas coisas consideradas, tal como a intenção da forma, espécie e outras semelhantes», e deste modo o ente de razão assim entendido é propriamente o objecto da lógica. Supomos aqui o que dos termos da primeira e segunda intenções dissemos no primeiro livro das Súmulas. E, no presente capítulo, ■intenção» é tomada não como exprimindo um acto de vontade, que diz respeito a um fim enquanto se distingue da escolha, mas como representando um acto ou conceito do intelecto, que é dito ser uma intenção de modo geral, porque tende para outro, ou seja, o objecto. E assim como um conceito num modo é formal, no outro objectivo, ou seja, é a própria cognição ou coisa conhecida, assim a intenção formal é um modo, a objectiva outro. Diz-se intenção objectiva a própria relação de razãò que é atribuída ã coisa conhecida; a intenção formal é o próprio conceito pelo qual a intenção objectiva é formada. Por exemplo, quando concebemos -animal» enquanto superior aos seus inferiores, a própria universalidade que se tem da parte do animal concebido é dita intenção objectiva ou passiva; mas o próprio conceito pelo qual o animal assim é concebido é dito intenção formal. E assim uma relação é a intenção formal, enquanto se distingue por
78
oposição da objectiva; mas a formalidade da segunda intenção, porque se obtém da parte do objecto conhecido, é outra coisa; com efeito, esta é sempre alguma coisa de razão, enquanto é algo resultando da cognição; mas a intenção formal é um acto real. Esta formalidade da segunda intenção é chamada «segunda intenção» segundo a diferença de uma primeira intenção, quase como se expressássemos um segundo estado ou condição do objecto. Pode com efeito um objecto ser considerado em dois estados: Prim eiro, segundo o que é em si, seja quanto à existência seja quanto à essência. Segundo, tal como é na apreensão, e este estado de ser na cognição é segundo a respeito do estado de ser em si, que ê primeiro, porque assim como a cognoscibilidade se segue da entidade, assim, ser conhecido é posterior àquele ser que o objecto tem em si. Logo, aquelas afecções ou formalidades que convêm ã coisa segundo ela própria são chamadas primeiras intenções; as que convêm à coisa segundo o modo como é conhecida são chamadas segundas intenções. Porque pertence à Lógica ordenar as coisas conforme existem na apreensão, assim, por si, a lógica considera as segundas intenções, que convêm às coisas enquanto conhecidas. Do que se deduz, primeiro, que nem toda a relação de razão é uma segunda M enção, mas toda a segunda intenção form alm ente tomada, e não sófundam entalm ente, é relação de razão, e nãoform a real nem relação extrínseca, com o alguns erradamente julgam . A primeira parte da conclusão é manifesta porque embora toda a relação de razão resulte da cognição, contudo nem toda esta relação denomina a coisa apenas no estado de conhecida, que é um estado segundo, mas algumas também denominam no estado da existência fora da cognição, assim como a relação do Criador e do Senhor não denomina Deus em si conhecido, mas Deus existente, e semelhante mente, ser professor ou ser juiz, pois o homem existente, não o homem enquanto conhecido, é professor ou juiz, e assim aquelas relações denominam um estado da existência. Aqui distingue que, embora a cognição seja a causa da qual resulta a relação de razão Co que é comum a todo o ente de razão), e assim como a relação de razão convém e denomina algum sujeito, neces sariamente exige a cognição, contudo nem sempre toma o próprio objecto apto e congruente para ser susceptível de tal denominação, para que a denominação convenha àquele objecto apenas no ser conhecido, pois isto só ocorre nas segundas intenções. E assim a relação do Criador e do Senhor, do juiz e do professor, como de nominam o sujeito, requerem a cognição, que causa tal relação, mas não tomam o sujeito no ser conhecido apto a receber aquela de nominação. !\"a verdade, a existência do gênero ou espécie não supõe
79
só a cognição que causa tais relações, mas também supõe a cognição que dá o sujeito abstraído dos inferiores, e sobre a coisa assim abstraída cai aquela denominação. A segunda parte da conclusão é expressamente a posição de S. Tomás no Opúsculo 42, cap. xn, onde diz que as segundas intenções são propriedades que pertencem às coisas como resultado de que estão e têm ser no intelecto; e em D e Potentia, q. 7, art. 9, diz que «(as segundas intenções) seguem-se do m odo de inteleccionar»; e no C om entário à M etafísica de Aristóteles, lect. 4, diz que as segundas intenções convêm às coisas enquanto conhecidas pelo intelecto. Logo, não são formas reais, mas de razão. E é certo isto, tanto porque a natureza do gênero e da espécie e restantes universais consiste na relação do superior para os inferiores, que não podem ser relações reais, pois de outro m odo seria dado o universal formalmente na ordem das coisas existentes; com o porque estas intenções supõem por fundamento um ser conhecido, assim como o gênero supõe a coisa sendo abstraída das inferiores e pertence a essa coisa em razão da abstracção. Logo, a segunda intenção supõe a denominação extrínseca da coisa conhecida e abstraída, mas não é formalmente a denominação extrínseca ela própria, e muito menos são as segundas intenções formas reais, de outro modo, com efeito, descenderíam às próprias coisas singulares nas quais seriam encontradas existindo realmente, e não apenas no que é abstraído dos singulares. Mas o próprio acto do intelecto é um tipo de acto real, contudo não é a própria segunda intenção objectiva da qual agora tratamos, mas a intenção formal, da qual resulta esta segunda intenção objectiva. Em segundo lugar, segue-se que embora a primeira intenção tomada absolutamente deva ser alguma coisa real ou conveniente a alguma coisa em estado de realidade — de outro m odo não seria simplesmente primeira, pois o que é real sempre precede e é anterior ao que é de razão — contudo, tam bém não é con tra d itório que um a segunda intenção seja fu n d a d a noutra, e assim a segunda intenção fitn d a n te reveste-se quase da con d içã o de prim eira intenção a respeito da outra fundada, não porqu e seja simplesmente prim eira, mas porque é a n terior àquela que fu n d a . Com efeito, com o ò intelecto é reflexivo acerca dos seus actos, pode conhecer reflexivamente a própria segunda intenção e sobre esta segunda intenção conhecida fundar uma outra segunda intenção; assim como a intenção d o gênero atribuída ao animal, pode, enquanto conhecida, novamente fundar a segunda intenção da espécie, sendo a intenção do gênero um tipo de espécie predicável. E então esta segunda intenção fundada denomina a segunda intenção fundante
80
como anterior, em razão do que se diz que o gênero formalmente é gênero, e denominativamente é espécie. Ocorre com frequência nestas segundas intenções, que uma segundo ela própria formalmente seja de tal tipo, e enquanto denominativamente conhecida seja de outro tipo. E contudo todas estas são ditas segundas intenções, embora uma seja fundada sobre outra, e não são ditas terceiras ou quartas intenções, porque todas pertencem ao objecto enquanto conhecido, e ser conhecido é sempre um estado segundo da coisa. E porque uma segunda intenção, enquanto funda outra se reveste quase da condição de primeira a respeito daquela que funda, assim mesmo aquela intenção que é fundada sempre é dita segunda. Dizes: a segunda intenção diz respeito à primeira com o correlativo, porque a segunda é dita por respeito à primeira, logo, a segunda intenção não diz respeito à primeira como fundamento mas como termo. Novamente: a segunda intenção é predicada do seu funda mento, como -o homem é uma espécie»; mas a segunda intenção não é predicada da primeira, pois isto é falso: «A primeira intenção é uma segunda intenção»; logo, a segunda intenção não é fundada numa primeira intenção. Responde-se para o primeiro argumento que a segunda intenção não diz respeito à primeira como correlativo à maneira de um termo, mas à maneira de um sujeito, e é atribuída à primeira intenção, denominando-a ou fundando-se nela. E assim, em relação à primeira intenção funciona como um sujeito, não como um termo; da mesma forma que a relação se reporta ao absoluto com o sujeito ou fundamento, não como correlativo m i excepto se este absoluto tiver a natureza de um termo, e então será correlativo não com o sujeito, como diremos na questão acerca da categoria de relação. E seme lhantemente o correlativo formal da segunda intenção sempre é alguma segunda intenção, como o gênero para a espécie e vice-versa. Para o segundo argumento diz-se que a segunda intenção é predicada da primeira em concreto, assim como o branco é predicado do homem, mas não em abstracto; e assim é verdadeiro que o homem é uma espécie, e falso que a primeira intenção seja segunda intenção. Pois também as segundas intenções podem ser significadas por um nome abstracto, tanto em geral por este nome «segunda intenção-, como em particular com este nome -universalidade-, -generalidade- e semelhantes, que apenas implicam uma forma de razão em abstracto, contudo não significam directamente o sujeito ou coisa na qual são fundados, mas obliquamente; assim como a brancura em abstracto implica indirectamente um corpo, porque é uma qualidade de um corpo.
81
Se perguntas quantos tipos há de segunda intenção e de que m odo se dividem, respondo que todas as relações são divididas em razão do seu fundamento próximo ou razão fundante, com o diremos ao tratar da categoria de relação. Donde semelhantemente a relação de razão, que é formada à semelhança da relação real, é correctamente dividida através dos seus fundamentos. Mas com o o fundamento da segunda intenção é a coisa conhecida e enquanto sujeita ao estado de apreensão, a divisão da segunda intenção tira-se de acordo com as diversas ordens do conhecido, para cuja ordenação a segunda intenção é formada. Donde, porque a primeira operação d o intelecto é ordenada e dirigida de um modo, a segunda operação de outro, e a terceira ainda de outro, então as segundas intenções podem ser divididas de m odo diverso, de acordo com as diversas ordenações destas operações, e em cada operação haverá diferentes intenções segundo as diversas ordens de dirigibilidade. Assim com o na primeira operação uma coisa é intenção do termo, que é ordenado como parte da enunciação e do silogismo, ordem essa sob a qual as diversas intenções de uma parte estão contidas, por exemplo a razão do nome, a razão do verbo e de outros termos; e outra é a intenção de universalidade ao m odo de um predicável superior, que também é dividido em vários modos de universalidade, com o o gênero, espécie etc., ao qual corresponde a intenção de sujeitabilidade, tal com o é encontrada no individual e noutros predicados inferiores. Na segunda operação encontra-se a intenção da oração, a qual é dividida através dos vários modos da oração perfeita e imperfeita. Novamente a proposição, que é uma das orações perfeitas, é dividida em afirmativa e negativa e outras divisões que explicamos no segundo livro das Súmulas. E novamente a proposição funda outras segundas intenções, que são propriedades da proposição, tal como a oposição e a conversão, que pertencem a toda a proposição; e a suposição e a ampliação, o predicado e o sujeito e outras semelhantes, que são propriedades da parte da proposição, como foi explicado no mesmo livro. Finalmente na terceira operação está a intenção da consequência ou da argumentação, que é dividida em indução e silogismo; e a indução procede por ascensão dos singulares para os universais e descensão dos universais para os singulares; o silogismo através de vários modos e figuras, das quais já se falou no mesmo livro.
82
Capítulo 1 TI
POR QUE POTÊNCIA E ATRAVÉS DE QUE ACTOS É FEITO O ENTE DE RAZÃO
Não há dúvida de que as potências pelas quais é feito o ente de razão devem ser potências operantes imanentemente; pois as potências que operam transitivamente, é manifesto que produzem alguma còisa existente fora do intelecto. Mas, das potências imanentes, algumas são cognitivas, outras apetitivas. E acerca das apetitivas, alguns disse ram que o ente de razão resulta da vontade, com o Escoto, contra quem fala Caetano no seu Com entário ã Suma Teológica, q. 28, art. 21. Note-se contudo que Escoto, no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 26, q. 2, parece ter falado do ente de razão não estritamente, mas enquanto este nome ■razão" compreende o intelecto e a vontade. Alguns estendem esta capacidade de produzir entes de razão a toda e qualquer potência, da qual resulta num objecto uma denominação extrínseca, pois julgam que o ente de razão consiste na denominação extrínseca 7, questão de que falamos no artigo precedente. Acerca da potência cognitiva, contudo, pode duvidar-se se ao menos os sentidos internos, com o a imaginação ou a fantasia, não produzem entes de razão, porque os sentidos internos constroem e imaginam muitas coisas que são entes inteiramente construídos e fictícios.
7Denom inação extrínseca é o acto pelo qual se atribui um nome às coisas, nome esse que só exprime relações com outros objectos, distinguindo-se da denominação intrínseca, que é o acto pelo qual se atribui um nome às coisas quando exprime propriedades intrínsecas de um objecto.
83
Quanto ao acto que forma o ente de razão, dois pontos podem também ser dúbios: P rim eira se um ente de razão pode ser formado por um acto absoluto, que é uma operação simples, ou se essa produção requer um acto comparativo ou compositivo. Segunda se o ente de razão requer, para existir, um acto reflexivo pelo qual haja conhecimento acerca do próprio ente de razão com o formado de um objecto conhecido; ou se, na verdade, basta um acto directo pelo qual é conhecida alguma coisa que não é ente, mas que é apreendida à maneira do ente real. Acerca disto, digo em primeiro lugar: nem a vontade nem os sen tidos externos form a m entes de razão, pois nem em virtude de um acto da vontade, nem em virtude de um acto dos sentidos externos os entes de razão teriarn existência. A conclusão é certa e é provada por uma única razão, porque tanto a vontade com o os sentidos externos não formam o seu objecto, mas supõem-no formado fora de si. Logo, não constroem alguma coisa no interior de si, mas se apreendem um objecto fictício, supõem que é construído e formado por outra potência. A antecedente é patente na vontade, que supõe o objecto proposto pela cognição, seja verdadeiro seja aparente; logo, a própria vontade não faz o objecto, mas é conduzida ao objecto proposto. Mas os sentidos externos são conduzidos para os objectos postos fora de si, não no interior de si; e é evidente que o que quer que tenha ser e existência fora da potência cognoscente não é ente de razão. Nem obsta que os sentidos se enganem em muitos casos, e assim conheçam apenas ficticiamente. Com efeito, os sentidos externos não falham em si, mas diz-se serem enganados ocasionalmente, porque oferecem ao intelecto ocasião para que se engane, assim como a vista que vê o ouropel, não falha julgando que é ouro, pois este juízo pertence ao intelecto. A vista apenas apreende aquela aparência de cor dourada, na qual não há falsidade ou ficção. Digo em segundo lugar: os sentidos internos, form alm ente falando, não form a m entes de razão, embora m aterialmente possam representar a qu ilo p o r cuja proxim id a d e algum ente fic tíc io é form a d o, o que é, m aterialm ente, fo rm a r entes de razão. Dizemos que os sentidos internos, «formalmente falando», não formam entes de razão, isto é, não o fazem discernindo entre ente de razão e ente real, e concebendo o que não é ente à semelhança do ente real. Materialmente, contudo, conhecer o ente de razão é atingir a própria aparência do ente real, mas não discernir entre o que é de razão e o que é real. Por exemplo, a potência imaginativa pode formar um monte dourado, e, semelhantemente, um animal composto a partir da cabra, do leão e da serpente, que é uma quimera.
84
Mas nestas construções atinge apenas o que é sensível ou representável aos sentidos. Contudo, o sentido interno não atinge o facto de terem os objectos assim conhecidos uma condição relativa ao não ente, e que desta condição relativa sejam ditos entes fictícios ou de razão, o que será formalmente discernir entre ente e não ente. A razão parece manifesta, porque o sentido interno não pode referir-se a alguma coisa, excepto sob a razão do sensível; mas que isto que lhe é representado a si como sensível se oponha ao ente real não pertence ao sentido interno julgar, porque este não concebe o ente sob a razão do ente. Que, contudo, alguma coisa seja recebida enquanto ente construído ou fictício, formalmente consiste nisto, que seja conhecido nada de entitativo ter nas coisas do mundo, e todavia seja atingido à semelhança do ente; de outro modo, não se distingue entre ente real e fictício, mas apenas é atingido aquilo à semelhança do que é formado o ente de razão. Quando é alguma coisa sensível, não repugna que seja conhecido pelo sentido, mas o sentido apenas atinge o que é sensível num objecto, enquanto a condição relativa ao não ente em cujo lugar o objecto é sub-rogado e donde ficticiamente tem ser, não pertence ao sentido. E assim o sentido não distingue o ente construído sob a razão fonnal d o ente fictício, de um ente verdadeiro. Mas que o sentido materialmente possa conhecer o ente construído é manifesto. Não, na verdade, porque também o sentido externo ■pode conhecer uma cor fictícia ou aparência, porque esta cor, embora seja a cor de um objecto apenas aparentemente, contudo não é um ente fictício, mas verdadeiro e real, isto é, alguma coisa resultante da luz. Mas que O sentido interno atinge entes de razão é provado pelo facto de que compõe muitas coisas fora de si, que de nenhum m odo existem ou podem existir. Logo, o sentido conhece alguma coisa que é em si um ente construído ou fictício, embora não apreenda a própria ficção, mas apenas o que, no ente fictício, se oferece como sensível. Contudo a privação d o próprio objecto, com o as trevas, não é percebida pelo sentido construindo-a à maneira do ente, mas por não eliciar um acto de ver. Digo em terceiro lugar: o intelecto necessita de algum acto com p a ra tivo p a ra que fo rm e o ente de razão, e este seja d ito existir form alm ente, e não apenas fundam entalm ente. Esta conclusão é retirada de S. Tomás no comentário ao D e Intetpretatione, I, lect. 10, onde diz que «o intelecto forma intenções deste m odo [falava dos Universais], segundo compara estas com as coisas que estão fora da alma». E no D e Potentia, q. 17, art. 11, diz que as relações de razão que o intelecto encontra e atribui às coisas inteleccionadas são uma coisa, outra bem diferente são as relações
85
mentais que resultam do m odo de inteieccionar, embora o intelecto não tenha consciência daquele modo, o qual é consequência do m odo de inteieccionar. E, às primeiras relações deste tipo, a razão chega considerando a ordem do que está no intelecto para as coisas que estão fora dele, ou também considerando a ordem das coisas inteleccionadas mutuamente; mas as outras relações são consequência de que o intelecto intelecciona uma coisa em ordem para outra. Por isso, S. Tomás julga que todas as intenções de razão são formadas por algum acto de comparação. E a razão desta conclusão é que todo o ente de razão, ou é relação ou alguma negação. Se é relação, deve ser apreendido com parativamente para o termo. Se é negação, deve ser concebido po sitivamente à semelhança do ente, que é concebido comparativamente para outro. Se esta negação é concebida absolutamente, não é concebida positivamente, porque em si nada há de positivo. Logo, deve ser concebida ao m odo do ente, não só porque da parte do princípio de conhecer deve ser concebida pela espécie real, mas também porque da parte do termo conhecido, deve ser recebida à semelhança do ente. E isto exige alguma apercepção comparativa, assim como quando ao conceber Roma à semelhança de Toledo, concebo Roma comparativamente e não absolutamente, pois conce bo-a conotativa e respectivamente a outro. Assim, quando concebo' a negação à semelhança do ente, concebo-a não absolutamente, mas respectiva e comparativamente. Contudo, a relação de razão, porque de si é expressa positiva e não negativamente, exige uma cognição comparativa noutra base, porque a relação é um tipo de comparação para um termo, e novamente porque é concebida à semelhança da relação real, embora em si seja expressa positivamente. Pelo nome *acto comparativo», contudo, não só inteleccionamos a comparação compositiva ou predicativa, que pertence à segunda operação do intelecto, mas qualquer cognição que conceba o seu objecto com uma conotação e ordem para outro, o que também pode ocorrer fora da segunda operação do intelecto, com o quando apreendemos a relação pela ordem para um termo. O ente de razão pode também ser feito por comparação com positiva ou discursiva. Na verdade, porque o intelecto afirma existir alguma coisa como a cegueira, Aristóteles, no Livro V da M etafísica, e S. Tomás no seu comentário a esta obra, lect. 9, e em inúmeros outros lugares, provam que a cegueira é um ente de razão. Por aquela enunciação pela qual alguma coisa é afirmada do não ente, o não ente é concebido positivamente, com o se fora ente, pela conotação da forma verbal »é». E disse, na conclusão, que o entendimento requer um acto comparativo «para que o ente de razão seja dito existir formalmente
c nào apenas fundamentalmente». Com efeito, o fundamento da relação dc razão nào requer esta comparação, como é patente quando uma natureza é despojada das condições de individuação pela abstracção simples, e contudo em tal caso não existe acto de comparação, mas apenas uma precisão a partir do inferior. Mas então o universal não é um universal lógico formalmente, mas um universal metafísico, que é fundamento da intenção lógica, com o diremos na questão rv, A cerca da causa do conceito universal 8. Donde coliges que nas relações de razão é feita a denominação ainda antes que a própria relação seja conhecida em acto pela comparação, apenas por isto: que o fundamento é posto. Por exemplo, uma natureza é denominada universal pelo próprio facto de que é abstraída, mesmo antes de ser comparada em acto; e as letras no livro fechado são signos, mesmo se a relação do signo, que é de razão, não é considerada em acto; e Deus é denominado Senhor, mesmo se a relação do Senhor não é considerada em acto, mas por razão da potência denominativa. Nisto diferem as relações de razão das relações reais, porque as reais não denominam, excepto se existirem, assim como alguém não é dito pai a não ser que tenha em acto relação para o filho; nem uma coisa é dita semelhante a outra se não tiver semelhança com ela, embora possa ter fundamento. A razão desta diferença é que nas relações de razão, ser actual consiste em ser conhecido objectivamente, o que não provém do fundamento -nem do termo, mas do intelecto. Donde muitas coisas podem ser ditas de um sujeito por razão do fundamento, sem que daí resulte uma relação, porque esta não se segue do próprio fundamento e termo, mas da cognição. Mas nas relações reais, uma vez que a relação naturalmente resulta do fundamento e do termo, nada convém numa ordem para o termo em virtude do fundamento, excepto por meio da relação. Inteleccionamos, contudo, que esta denominação surge do fundamento próximo absolutamente falando, mas não de todo e qualquer modo, porque não sob aquela formalidade pela qual é denominado pela relação como conhecido e existente; com efeito, Deus é denominado Senhor, mas não relacionado antes da relação. Isto não ocorre nas relações reais, porque quando a relação não existe, o seu fundamento de nenhum m odo denomina em ordem para o termo. Digo por último: a cognição form a n d o o ente de razão não é reflexiva a respeito daquele ente enquanto coisa conhecida; mas aquela
8 Esta referência reporta-se a uma questão do Curso Filosófico que não está incluída na presente tradução.
87
cognição directa que denom ina o p róp rio não ente real, ou ente que não ê relativo realmente, conhecido à sem elhança do ente ou da relação real, é d ita form a r, ou dela resultar, o ente de razão. A razão disto é manifesta porque tal cognição que denomina o próprio ente de razão como conhecido reflexivamente e enquanto “Objecto que", supõe o ente de razão formado, uma vez que a cognição é feita sobre o próprio ente de razão, enquanto sobre o termo conhecido. Logo, tal cognição reflexiva não forma primeiro o próprio ente de razão, mas supõe que este tenha sido formado, e com o que examina o próprio ente de razão. Donde, da intenção assim re flexivamente conhecida não é feita a denominação no sujeito que conhece, como quando um anjo ou Deus inteleccionam que o homem forma silogismos ou proposições, não se diz por causa disso que Deus silogiza ou enuncia proposições, e contudo intelecciona quase como se em acto reflexivo e significado o próprio silogismo e a própria proposição e intenções lógicas. E sucede o mesmo quando alguém intelecciona estas intenções examinando a natureza delas; pois então as próprias intenções examinadas não são formadas, mas sobre elas outras são fundadas, enquanto são conhecidas no universal ou por riieio da predicação, etc. E assim, diz S. Tomás, Opúsculo 42, cap. m, que o ente de razão é produzido precísamente quando o intelecto tenta apreender alguma coisa que não existe, e assim constrói' aquele não ente como se fora um ente. E no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, 1, dist. 2, q. 1, art. 3, diz que as intenções são consequência -do m odo de inteleccionar as coisas que estão fora da alma>. Logo, o que formalmente e essencialmente primeiro forma o ente de razão não é a cognição reflexiva, pela qual precisamente o ente de razão é denominado conhecido como sendo de razão, mas a cognição pela qual o que não é (não existe), é denominado conhecido à semelhança do que é (o ente real).
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro, argumenta-se: muitas outras potências para além do intelecto versam acerca do não ente, atingindo e ordenando o não ente à semelhança do ente real; logo, estas outras potências também formarão entes de razão. A antecedente é provada na vontade e no sentido interno. Pois a vontade procura dirigir-se para um bem aparente que não é um bem de facto; também ordena um bem para outro, com o m eio para um fim, o que algumas vezes não é verdadeiramente m eio nem verda deiramente ordenado. Logo, compara um com outro, comparação essa que não existe de facto, e isso é formar um ente de razão.
88
Semelhantemente o sentido, em especial o interno, compara um objecto com outro, formando proposições e discursos acerca dos singulares, e das diversas espécies de coisas forma o ente fictício, assim como a partir do ouro e do monte forma o monte dourado, como ensina S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 12, art. 9, resp. obj. 2. Logo, o sentido conhece o ente construído ou fictício. E, geralmente, de todo o sentido, segue-se a denominação extrínseca do conhecido, que é o ente de razão. Responde-se: nego o antecedente. Para prova responde-se que a vontade, como é trazida ao objecto conhecido e apreendido, não conhece formalmente aquele objecto nem lhe dá ser através da razão, mas apenas isto que resulta do acto do apetite é alguma denominação extrínseca. que é ente de razão fundamentalmente; mas apenas quando é conhecido em acto à semelhança da forma ou relação real, existe em acto. Logo, a própria vontade não constrói o bem aparente, mas supõe um objecto conhecido e que lhe é proposto, e assim não forma o próprio objecto. Mas a ordenação do meio para um fim também é proposta à vontade pelo intelecto, pois a própria vontade, de facto, só pelo apetite ordena, não pelo conhecimento. Tal orde nação põe uma denominação extrínseca na coisa ordenadamente desejada, mas não torna formalmente o ente de razão conhecido. A o que é acrescentado acerca do sentido, responde-se que o sentido interno assim compara um objecto com outro formando a proposição e o discurso; que o sentido não conhece formalmente a própria ordenação do predicado e do sujeito e do antecedente e do consequente distinguindo uma relação construída de uma real. E semelhantemente o sentido conhece o monte dourado quanto ao que é sensível naquelas partes representadas do ouro e da montanha, não quanto à razão da ficção ou construção enquanto se distingue da realidade. O que é conhecer não formalmente aquilo que na razão de ente é construído, mas conhecer materialmente aquilo à semelhança de que é construído aquilo que em si não é. Contudo a denominação extrínseca que se segue da cognição do sentido, enquanto denominação extrínseca não é relação de razão formalmente, mas fundamentaímente; então é relação de razão formalmente quando é conhecida à semelhança da relação real. Segundo, argumenta-se: a apreensão simples do intelecto também não compara nem distingue a razão do ente construído da razão do ente verdadeiro, porque de outro m odo não seria apreensão simples, mas apreensão comparativa ou compositiva com outro. Logo, o intelecto, quando procede à apreensão simples, não forma o ente de razão, formalmente falando, assim como não o fazem os sentidos internos.
89
E é confirmado porque a apreensão simples não é ficção nem construída; com efeito, a construção está sujeita à falsidade, enquanto a apreensão simples é sempre verdadeira, precisamente porque representa a coisa como é em si ou como lhe é proposta. Logo, o objecto da apreensão simples não é um ente construído, e conse quentemente também não é um ente de razão. Responde-se que a apreensão simples não compara um objecto com outro afirmando ou negando, mas na verdade compara distinguindo um objecto do outro e atingindo a ordem de um para o outro, assim como conhece as coisas que são relativas e atinge a definição da coisa, a congruência dos termos e a distinção das categorias. Donde ao discutir as categorias, segundo o Filósofo, está-se a tratar da apreensão simples, como diz S. Tomás no seu comen tário ao D e Interpretatione, I, lect. 1. A apreensão simples tem, com efeito, suficiente comparação para formar o ente de razão. A o sentido interno não negamos a formação do ente de razão a partir da ausência da comparação, mas a partir da ausência de um conhecimento da universalidade, porque o sentido não conhece as razões mais universais distinguindo entre o ente verdadeiro e o construído, que é algo que a apreensão simples faz; com efeito, a apreensão simples distingue entre as coisas categoriais e as que não estão na categoria, do ente real. Para confirmação d igo que a apreensão simples não é uma construção ao m odo da enunciação afirmando ou negando, no que consiste a construção, que é engano ou falsidade; mas bem pode ser construção ao m odo da formação, apreendendo alguma coisa que não existe no mundo, ou uma coisa impossível, ao m odo do ente, e discernindo a própria coisa impossível do ente verdadeiro e real. Donde nem sempre a apreensão simples apreende a coisa com o é em si, no sentido de nunca apreender uma coisa à semelhança de outra, porque apreendemos muitas coisas não por conceitos próprios mas por conceitos conotativos; mas a apreensão simples apreende a coisa com o é em si, isto é, apreende-a sem a adição da composição, razão pela qual se diz também que a apreensão simples não é falsa, porque formalmente não julga nem enuncia, e é apenas nisto que consiste a verdade ou falsidade formal. Mas a apreensão simples pode bem apreender alguma coisa que não existe à semelhança do que existe, sem que afirme ou negue. Por último argumenta-se: o ente de razão pode existir sem o acto comparativo, logo, também pode ser formado sem o acto comparativo. A antecedente prova-se: em primeiro lugar, quando no próprio exercício é formada alguma proposição ou silogismo, resulta uma segunda intenção e a própria proposição é denominada «ser», e
90
contudo a relação não é então conhecida comparativamente para o seu termo ou à semelhança da relação real. D o mesmo modo, quando o próprio ente de razão é dito ser conhecido reflexivamente, tem existência por este conhecimento, porque na verdade objectivamente termina a cognição, o que é existir objectivamente. Nem existe alguma razão pela qual uma natureza real concebida e conhecida em geral seja dita existir objectivamente, mas que um ente de razão conhecido em geral não seja dito existir objectivamente. Contudo, um ente de razão é conhecido em geral quando reflexivam ente é tom ado conhecido em acto significado. Por último, Aristóteles, no Livro V da M etafísica, e S. Tomás no seu comentário a essa obra, lect. 9, dizem que a cegueira e qualquer ente de razão é dito existir pelo factõ de que a proposição pela qual dizemos: «a cegueira existe» é verdadeira. Mas quando esta proposição é formada, a privação não é considerada à semelhança do ente, nem é feito o acto comparativo, o acto de cognitivamente comparar o ente com o não ente; logo, o ente de razão existe formalmente sem tal acto. Responde-se: nego a antecedente. Para primeira prova digo que quando é formada a proposição, não existe ainda formalmente a segunda intenção da proposição, mas fundamentalmente proximamente; assim com o quando a natureza universal é abstraída dos singulares, não existe ainda uma intenção de universalidade, mas o seu fundamento. Contudo, a proposição e o silogismo são denomina dos d o próprio facto de que são formados em exercício, assim como alguma coisa é denominada universal metafísico p elo próprio facto de ser abstraída. Pois, como dissemos acima, a denominação da forma de razão também pode ser tida do próprio fundamento próximo, antes que formalmente a forma de razão seja conhecida e exista. Para segunda prova digo que o ente de razão, quando é conhecido reflexivamente, existe objectivamente como denominado extrinsecamente no ser daquilo que é conhecido, não com o formado pri meiramente. Mas terminar a cognição como se extrinsecamente e enquanto aquilo sob o que cai a cognição, não é ser formado na razão do ente, mas ser suposto formado, e assim pressuposto ser denominado por uma cognição reflexiva, que é com o se fosse segunda, não primeira, a respeito do ente de razão. Mas quando o ente de razão é conhecido em geral, não é dito ser formado, porque já é suposto formado; mas é formada a própria universalidade ou comunidade sob a qual é conhecido. Todavia, a natureza real, quando é conhecida no universal, não é aquilo que é formado, mas a sua universalidade, que então primeiramente à semelhança da relação é recebida, quando o objecto é conhecido relativamente aos inferiores. Para última prova diz-se que quando é formada aquela proposição «a cegueira existe», a proposição «a cegueira» é considerada com o
existente no próprio exercício de formar, e portanto à semelhança d o ente real, e assim formalmente é um ente d e razão, e é en tão conhecido comparativamente tanto a respeito d o seu predicado com o a respeito daquilo por cuja proximidade é concebido com o existente.
C apítu lo IV
SE DA PARTE DAS COISAS REAIS SE DÃO RELAÇÕES QUE SEJAM FORMAS INTRÍNSECAS
Falando da relação em toda a sua latitude, enquanto com preende a relação transcendental e a categorial, a relação segundo o ser dito e a relação segundo o ser 9, não encontro ninguém que absolutamente negue toda a relação. Com efeito, nem os antigos filósofos negavam as relações segundo o ser dito, com o consta do texto d o capítulo «Sobre a Relação», das Categorias, em bora no m esm o capítulo Aristóteles tenha estabelecido contra aqueles antigos a relação categorial, que difere totalmente de um ente absoluto. Falando portanto das relações neste sentido, enqu anto se distinguem de toda a entidade absoluta, que só pertence às relações segundo o ser, alguns julgaram que as relações nada mais são do
9 Secundam esse, e secundum dici, no orginal, e traduzido aqui p o r «relação segundo o ser-, ou ontológica: e «relação segundo o ser dito», ou transcendental, q u e c orresp o n d em à distinção elaborad a p e lo s m edievais secu n d u m res, secundum verba. A relação ontológica, tal com o foi primeiramente formulada por Aristóteles, é aquela na qual os relativos têm todo o seu ser para outro; a sua essência é referir-se, ser relação a alguma oucra coisa — secundum esse refere-se portanto não à existência das relações, mas a este seu m od o particular de existir. Já a relação transcendental é a ordem para um termo exterior quan do essa ordem está incluída numa realidade absoluta e concorre para a definir. A realidade absoluta é então referida a um objecto exterior a ela própria, existente o u não. Transcendental aplica-se aqui no sentido de que a relação perpassa e pod e ser encontrada em diversas categorias d o ser, visto tratar-se da pura gen eralidade q u e p o d e ser aplicada a uma vastíssima categoria d e entes.
93
que, ou a denominação extrínseca, ou alguma coisa de razão; visão que é habitualmente atribuída aos nominalistas e aos que não distinguem as relações reais de um fundamento. Mas estes últimos falam, de longe, num sentido muito diverso, com o veremos mais abaixo ao tratar desta dificuldade. Finalmente, alguns julgam que as relações não convêm às coisas excepto segundo o ser objectivo, e são apenas afecções intencionais pelas quais comparamos umas coisas com outras. Donde constituem as relações não -respectivamente a*, mas numa comparação; no mundo r e a l10, contudo, todas as relações são segundo o ser dito, porque o relacionado nada mais é que uma coisa absoluta, conhecida por comparação com outro. E querem que esta seja a opinião de Aristóteles no capítulo «Sobre a Relação» das Categorias, e Livro V da Metafísica, cap. 15. E outros citam S. Tomás, na Sum a Teológica, III, q. 7, art. 2, resp. obj. 1, onde ensina que alguma coisa é denominada relativa não só pelo que está nela, mas também pelo que lhe é adjacente extrinsecamente. Finalmente, com o iniciamos por este último ponto, de maneira nenhuma p od e esta opinião ser atribuída ao Filósofo, com o é manifesto no capítulo »Sobre a Relação», das Categorias, que rejeita esta definição dos antigos, porque só definiram o relativo segundo o ser dito, p elo que da sua definição se segue que também a substância, e qualquer ente que seja expresso por dependência e comparação para outro, é alguma coisa de relativo. Mas Aristóteles, definindo o relativo, diz que: «são aquelas coisas cuja totalidade do seu ser se orienta para outro». Todavia, na opinião dos que admitem apenas as relações segundo o ser dito, a totalidade do ser do relativo não se orienta para outro, uma vez que o ser que têm nas coisas reais é absoluto; na verdade, só dizem «respeito a» porque são conhecidos comparativamente em relação a outro. Logo, a tais relativos
Secundum dici trata-se então da forma com o as coisas, embora mantendo em si, de alguma forma, uma certa realidade absoluta, podem ser definidas pela sua referência a um termo exterior. É por esta razão que John Deely, um dos tradutores americanos de João de São Tomás, recusa situar as relações segundo o ser dito apenas no plano linguístico, preferindo, na sua tradução, dilatar a abrangência do termo traduzindo-o por «relation according to lhe w ay being m ustbe expressed in discourse- (itálico nosso). Defende, pois, que em oposição a situar o secundum dici no plano meramente linguístico, o termo exprime, antes de mais, a realização na ordem d o discurso de uma obrigação (must) imposta a essa ordem pela própria realidade. Já Yves Simon et aí. optaram pela fórmula -according to expression- e «acording to existence». Sendo secundum dici a forma com o os seres são expressos depois de submetidos ao processo de semiose, optou-se aqui p or traduzi-lo o mais literalmente possível, de acordo com os usos da época, como -segundo o ser dito*. 10 Jn re, no original.
94
nào convém a definição de Aristóteles de que todo o seu ser se orienta para outro. Donde frustradamente Aristóteles emendaria a definição dos antigos se só admitisse as relações segundo o ser dito; estas, com efeito, não as negavam os antigos, nem que são conhecidas comparativamente em relação a outro. E isto bem notava Caetano, no seu comentário a este capítulo «Sobre a Relação», que nesta definição o Filósofo definiu a relação segundo a natureza que tem, nào segundo o que é conhecido ou expresso, e assim diz «são para alguma coisa» e não «são expressos em relação a alguma coisa»; mas na definição dos antigos dizia-se «são expressos em relação a alguma coisa». Logo, o Filósofo estabelece que as relações reais são distintas das relações segundo o ser dito. Da opinião de S. Tomás não podemos duvidar, pois publicamente impugna os que dizem que a relação não é uma coisa da natureza, mas alguma coisa de razão. Veja-se a Sum a Teológica, I, q. 13, art. 7; q. 28, art. 2, e q. 39, arts. 1 e 2; e também a Suma contra os Gentios, II, cap. 12 e q. 7; e D e Potentia, arts. 8 e 9, e q. 8 art. 2, e em mil outros locais, mas principalmente nestes, claramente afirma que a relação é algum a coisa de real e um acidente inerente. O fundamento disto é que as relações segundo o ser dito têm um ser absoluto e não são totalmente para outro; enquanto âs relações de razão não existem excepto no intelecto que apreende, a partir do qual têm ser objectivamente; mas, à parte qualquer consideração do intelecto, também se encontram na realidade algumas coisas que não têm outro ser que o ser para outro. Logo, podem ser encontradas relações reais que não são segundo o ser dito, e assim podem constituir uma categoria à parte da categoria das coisas absolutas. A antecedente prova-se porque, à parte a consideração do intelecto, encontram-se na realidade algumas coisas às quais nenhum ser absoluto ou independente de qualquer relação pode ser atribuído. Pois, por exemplo, encontra-se a ordem no exército ou no universo ordenado; encontram-se a semelhança, a dependência, a paternidade e outras coisas semelhantes que nenhum ser absoluto pode explicar, e todo o ser delas se orienta para outro. O signo disto é que, quando o termo da relação se torna não existente, a semelhança ou a paternidade desaparecem. Mas se o ser destas coisas fosse alguma coisa absoluta, não desaparecería apenas por causa do desaparecimento do termo. Ora negar que estas coisas se dão nas coisas reais quando nenhum intelecto as forma e constrói, é negar o que até o mais rústico dos homens reconhece na natureza. Esta razão é muitas vezes usada por S. Tomás, e indica outra no Com entário às Sentenças de Annibaldo, I, dist. 26, q. 2, art. 1, retirada da crença na existência de relações divinas, que, enquanto se
95
distinguem entre si, se dão realmente da parte da realidade; de outro modo, as pessoas relativas não se distinguiriam realmente, â parte do intelecto que as considera, o que seria herético. Todavia as relações divinas não são distinguidas, a não ser enquanto são puras relações segundo o ser. Se, com efeito, de outro m odo que na pura relação fossem distinguidas, havería não apenas coisas relativas divididas em Deus, mas também coisas absolutas, o que é absurdo. Logo, existem em Deus relações reais, embora pela suma simplicidade divina sejam identificadas com a substância. Porque repugna então ao que é criado que se dêem tais relações reais, relações que não são substância nem infinitas? Finalmente, de que m odo o intelecto forma puros actos relativos, se nada mais tem que coisas absolutas ou relações segundo o ser dito, à semelhança das quais as forma? Relações formadas pelo intelecto serão então meras construções, porque não têm no real puras e verdadeiras relações, à semelhança das quais sejam formadas. Nem pode ser dito que estas relações se dão nas coisas reais, mas ao m odo da denominação extrínseca, não da forma intrínseca. Pois contra isto está o facto de que toda a denominação extrínseca provém de alguma forma real existente em outro sujeito, assim com o ser visto ou conhecido provém da cognição existente no sujeito cognoscente. Logo, se a relação é denominação extrínseca, provém de alguma forma existente em outro sujeito. Logo, aquela forma em si é ou relação, ou entidade absoluta. Se é relação, já é dada uma forma relativa intrínseca, pelo que, do mesmo m odo que é dada naquele sujeito, também podería ser dada noutro. Mas se é uma forma absoluta, e contudo extrínsecamente informando, de que modo pode provir daquela a denominação relativa? D e facto, a forma absoluta não é emanada do efeito formal relativo, nem intrínseca nem extrínsecamente; assim como ser visto não é a denominação de uma relação na parede, mas de terminação; e embora seja concebida por nós ao m odo dé uma relação, de facto nas coisas não é relação. Finalmente, os que sustentam tal opinião acham duríssimo explicar isto: de que m odo há três pessoas relativas na processão divina, constituídas e distintas na realidade, se as relações são denominações extrínsecas; e de que forma absoluta tais denominações provêm. Se, contudo, em Deus, as relações não são denominações extrínsecas, mas formas intrínsecas, embora substanciais e identificadas com a divina substância, porque diremos que tal gênero de ente relativo, embora não identificado com a substância, é impossível nas criaturas? Pelo contrário, as coisas criadas têm mais o fundamento de tal relação, porque são mais dependentes e ordenadas ou subordinadas para outro do que Deus. ,
96
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Objectas primeiro: a relação nada de real põe no sujeito, para além da denominação extrínseca de extremos coexistentes. Pois não é evidente como este modo, que é chamado relação, distinguindo-se das restantes formas absolutas, sobrevêm a uma coisa sem uma mutação intrínseca dela própria, se a relação é o seu modo intrínseco; nem é evidente de que m odo a relação seria causada novamente apenas pelo estabelecimento do termo a qualquer distância; como se, por exemplo, alguma coisa branca fosse produzida na índia, estando eu em Espanha, essa relação de semelhança resulta de tal termo distante, nem é produzida agora pelo agente que produziu a brancura aqui em Espanha, porque tal agente, muitas vezes, já deixou de existir na altura em que a relação resulta, logo, não pode então agir. Segundo, porque se vê aumentar ao infinito a multiplicidade de relações no mesmo sujeito, para todas as coisas que lhe são semelhantes, iguais, agentes, pacientes, etc. E, especialmente, porque também uma relação pode fundar outras, pois duas relações não são menos semelhantes do que duas coisas absolutas, e assim cresce ao infinito o número de relações. Finalmente, porque não se vê a necessidade de multiplicar estas entidades relativas, distinguindo-as das absolutas. Pois pelo próprio facto de que duas coisas brancas são postas, serão semelhantes sem que seja necessário estabelecer outra entidade ou modo; e, pelo próprio facto de que alguém gera, será pai, sem a adição de outra entidade. Logo, como nenhuma experiência é dada destas relações, e o outro discurso a favor da sua existência é suficientemente salvado pela posição de dois extremos, não se vê sólido fundamento de prova para que estas relações sejam formas intrínsecas. Donde S. T o más diz, na Suma a Toda a Lógica de Aristóteles, cap. m, que a rela ção não difere do fundamento, excepto por razão de um termo extrínseco. E na passagem da Suma Teológica acima citada, I-II, q. 7, art. 2, resp. obj. 1, ensina que uma coisa é denominada relativa não apenas pelo que está nela, mas também pelo que lhe advém extrínsecamente. À primeira objecção, responde-se que a relação se dá no sujeito sem nenhuma mutação que seja directa e imediatamente terminada à relação, mas não sem uma mutação que mediata e indirectamente seja terminada para aquela relação. Assim, tal com o a risibilidade resulta da mesma acção pela qual o homem é produzido, assim, da produção de uma coisa branca, é produzida a semelhança com outra coisa branca já existente. Mas se a outra coisa branca não existisse,
j
97
por virtude da geração da primeira coisa branca, essa semelhança e qualquer outra relação que resultaria de estabelecer os seus termos permanecería num estado virtual. Donde a distância nem induz nem obsta ao resultar da pura relação, porque estas relações não dependem de uma situação local; pois perto ou longe, um filho é da mesma maneira o filho de seu pai. Nem é a relação, no outro extremo, produzida pelo próprio termo através de alguma emissão de virtude, mas antes é a existência do termo que é condição para que, do fundamento antes posto, resulte a relação por virtude da primeira geração, pela qual esse fundamento é posto nas coisas da natureza como inclinando-se e respeitando qualquer termo de tal fundamento. Donde, embora a geração tenha agora cessado, permanece contudo no seu efeito ou força, enquanto deixa um fundamento suficiente para que uma relação resulte, assim como permanece no grave a virtude de ser movido para baixo quando um obstáculo é removido. E quando se insiste que Aristóteles ensina frequentemente que a relação não é termo de mutação, respondo não ser ela termo da mutação física por si e directamente; contudo, o Filósofo não nega que é o termo da mutação por acidente, isto é, por outro e secundário. Donde S. Tomás no seu comentário ao Livro V da Física, lect. 3, expressamente ensina que a mutação real é feita nas relações reais, nomeadamente alguma nova determinação segundo a qual é explicado em acto o que estava no fundamento. E no C om entário ã Metafísica, XI, lect. 12, diz que -em ser para alguma coisa não há movimento, excepto por acidente'. À segunda objecção respondo que não é inconveniente para estas relações serem multiplicadas todas as vezes que os fundamentos e os termos são multiplicados. Embora na posição que S. Tomás toma o número de relações seja muito menor, pois diz na Sum a Teoló gica, III, q. 35, art. 5, que uma relação numericamente una pode ser referida a termos numericamente diversos. Mas S. Tomás nega categori camente que uma relação seja fundada noutra relação, com o mais tarde largamente mostraremos. E sobre esta questão pode ver-se o D e Potentia, q. 7, art. 9, resp. obj. 2, e a Sum a Teológica, I, q. 42, art. 1, resp. obj. 4. A terceira objecção, digo que não é menor a necessidade de pôr este gênero de entidade relativa que o gênero de quantidade ou qualidade. Pois porque vemos os efeitos da quantidade e da qualidade e daí coligimos que são dadas tais formas; assim, do mesmo modo, porque vemos dar-se nas coisas da natureza o efeito de algumas coisas ordenadas e com relação para outras, como a semelhança, a paternidade, e a ordem; e porque vemos que nestas coisas este efeito de dizer «respeito a» não existe misturado com alguma razão absoluta,
98
mas todo o seu ser consiste em existirem «com respeito a»; é vendo isto que melhor coligimos a existência deste gênero de pura entidade relativa; assim como coligimos dos efeitos absolutos que existem entidades absolutas. Nem é necessário para isto maior experiência que no caso de outras formas acidentais, nas quais experienciamos os efeitos mas não a sua distinção da substância. Todavia, se Deus deixasse duas coisas brancas existirem sem que uma relação daí resultasse, permaneceríam semelhantes fundamentalmente, não formalmente. Quanto à interpretação dos textos de S. Tomás citados: para o primeiro, do Opúsculo 48, responde-se que o sentido da passagem reside no facto de a relação diferir do seu fundamento por razão do termo extrínseco, isto é, tomando a distinção do termo; mas a pas sagem não nega que a relação em si própria seja uma forma intrínseca, facto que S. Tomás afirma muitas vezes. E, especialmente, que é um acidente inerente ensina no D e Potentía, q. 7, art. 9, resp. obj. 7. Mas na segunda passagem da Suma Teológica, I-II, S. Tomás ensina apenas que a relação toma a denominação não só do que é intrínseco — isto é, enquanto é inerente — , mas também disto que lhe advêm extrinsecamente; isto é, do termo ou da ordem para aquele termo, que não tira, mas supõe que a relação seja inerente, o que é a exposição do próprio S. Tomás na passagem citada do D e Potentia e na Suma Teológica, I, q. 28, art. 2.
C apítulo V
O QUE É REQUERIDO PARA QUE ALGUMA RELAÇÃO SEJA CATEGORIAL
Para conhecer a relação categorial importa distingui-la da relação, de razão e da relação transcendental, que também costuma ser chamada relação segundo o ser dito. Para que esta distinção possa ser melhor percebida, supomos aqui a doutrina comum de que neste gênero de ente, que é chamado relação, três coisas devem concorrer, nomeadamente o sujeito, o fundamento e o termo. O sujeito, que é comum a todo o acidente, é aquilo que é formado e denominado pela relação. O fundamento é requerido enquanto razão e causa donde estas relações obtêm a sua entitatividade e existência. O termo é requerido com o aquilo para o que tende e em que subsiste este dizer respeito a. E embora seja requerida uma causa para toda a entidade e forma, contudo, diz-se que para a relação é requerido um fundamento num sentido especial, porque outras formas requerem a causa só para serem produzidas no ser para e existirem, enquanto a relação, devido ao seu carácter entitativo mínimo e porque, pelo seu próprio conceito, é ser para outro, requer um fundamento não só para que exista, mas também para que seja capaz de existir, isto é, para que seja uma entidade real. E assim diz S. Tomás, no C om entário às Sentenças pa ra A nnibaldo, I, dist. 30, q. 1, art. 1, que -a relação nada mais é que a referência de uma coisa a outra; donde, segundo a sua própria natureza, não tem que existir naquilo de que é predicada, embora algumas vezes o seja devido à causa da sua condição relativa». E a
100
mesma ideia é expressa no C om entário às Sentenças de Pedro Lombardo, % dist. 26, q, 2, art. 1, e na Suma Teológica, I, q. 28, art. 1, onde diz que «aquelas coisas que sâo ditas existir por relação com alguma coisa, Significam, segundo a sua própria natureza, apenas um dizer respeito a outro. Este dizer respeito, algumas vezes, está na natureza das coisas, como quando algumas coisas são ordenadas entre elas segundo a sua natureza». E a razão disto é que a relação, pelo seu carácter entitativo mínimo, não depende de um sujeito precisamente da mesma maneira que as outras formas absolutas, mas funciona como uma espécie de entidade terceira, consistindo em e resultando da coordenação de dois extremos; e assim, para que exista na natureza das coisas, a relação deve depender do fundamento que a coordena com o termo, e não apenas de um sujeito e de uma causa eficientes. A partir destas destrinças, não será difícil distinguir entre relações segundo o ser dito e segundo o ser, reais e de razão. Pois as coisas relativas segundo o ser e segundo o ser dito são distinguidas a partir do próprio exercício da relatividade, porque nas relativas segundo o ser toda a sua razão ou exercício é dizer respeito a, e assim são ditas respeitar o termo na razão do puro termo. Mas o exercício ou razão da relação segundo o ser dito não é puramente respeitar o termo, mas exercer alguma outra coisa donde se segue a relação; e por esta razão S. Tomás no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, II, üist.l, q. 1, art. 5, resp. obj. 8, estabeleceu em primeiro lugar que estes relativos segundo o ser dito envolvem um fundamento e uma relação, enquanto as coisas relativas segundo o ser expressam apenas a relação, porque bem se vê que as coisas relativas segundo o ser dito comportam-se para com o termo mais por fundarem a relação que por dizerem respeito em acto, e assim não dizem respeito ao termo em questão em razão do puro termo, nem segundo outra razão, por exemplo, a de uma causa ou efeito, ou de um objecto ou outras coisas semelhantes. Assim, a relação segundo o ser dito é constantemente distinguida nos escritos de S. Tomás, da relação segundo o ser, em que o principal significado da relação segundo o ser dito não é a relação, mas alguma outra coisa, da qual se segue a relação. Mas quando o principal significado de alguma expressão é a própria relação, e não alguma coisa absoluta, então é relação segundo o ser, como consta da Suma Teológica, I, q. 13, art. 7; e C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 30, q. 1, art. 2, e d o cap. 1 do Tratado sobre a Categoria de Relação, no Opúsculo 48, onde manifestamente ensina isto. O estabelecimento desta diferença também estabelece que numa expressão expressando uma relação transcendental — que não é
101
mais que a relação segundo o ser dito — a relação não é o seu principal significado, mas alguma coisa absoluta, da qual se segue ou pode seguir-se alguma relação. Com efeito, se não implica o absoluto, a relação não será transcendental, isto é, passando por diversas categorias, mas apontará apenas para uma categoria. Donde a relação transcendental não é uma pura forma acidental ao sujeito ou coisa absoluta; mas uma assimilada àquele, contudo conotando alguma coisa extrínseca da qual o sujeito depende ou acerca da qual versa, como, por exemplo, a matéria relativamente à forma, a cabeça relativamente ao encabeçado, a criatura relativamente a Deus; e assim a relação transcendental coincide com a relação segundo o ser dito. Alguns dividem erroneamente a relação segundo o ser entre transcendental e categorial. Esta é uma divisão errada, porque a relação transcendental está na própria entidade absoluta e não difere do seu ser subjectivo, e assim todo o seu ser não é para outro, o que é requerido para que uma relação seja ontológica, isto é, uma relação segundo o ser. Mas se a relação transcendental implica alguma imperfeição e dependência e por esta razão deva ser excluída de Deus, é questão para os metafísicos e teólogos. Todavia as relações reais e de razão, cuja divisão é encontrada só na relação segundo o ser, são diferentes, devido à carência d e algumas das condições requeridas para as relações reais. Para S. Tomás, no Opúsculo 48, Tratado sobre os Relativos, cap. 1, são requeridas cinco condições para as relações reais, duas da parte do sujeito da relação, duas da parte do termo, e uma da parte das coisas relacionadas. Da parte do sujeito, as duas condições são que o sujeito da relação seja um ente real, e que seja um fundamento, isto é, que o sujeito da relação tenha a razão de fundar realmente, independentemente de ser conhecida. D o lado do termo, as condições são que o termo da relação seja alguma coisa real e realmente exis tente, e, segundo, que seja distinto realmente do outro extremo, o sujeito da relação. Mas da parte dos relativos, a condição é que sejam da mesma ordem, à falta do que a relação de Deus para a criatura não é real, nem é real a relação da medida para o mensurado, se medida e mensurado são de ordem diversa. Esta doutrina concorda com o que S. Tomás ensina no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 26, q. 2, art. 1 e na Suma Teológica, I, q. 28, art. 1. Contudo, formalmente e principalmente, toda a diferença entre a relação real e de razão reduz-se a isto: a relação real tem fundamento real com coexistência do termo, enquanto a relação de razão carece de tal fundamento, como se retira de S. Tomás no Com entário às Sentenças pa ra A nnibaldo, I, dist. 30, q. 1, art. 1. Tom ando estas diferenças com o estabelecidas, digo à m aneira de resolução: Pa ra que algum a relação seja categorial, requer-se que
102
tenha aquelas condições pelas quais se distingue tanto da relação de razão com o da relação transcendental, isto é, da relação segundo o ser dito; e logo a relação categorial é definida com o fo rm a real, cuja totalidade do seu ser é ser pa ra outro. Pela primeira parte desta conclusão, a relação categorial distingue-se da relação de razão, que não é forma real; pela segunda parte da conclusão, a relação categorial distingue-se da relação transcendental e de qualquer coisa absoluta cuja totalidade do seu ser não é ser para outro, uma vez que em si é também alguma coisa absoluta. De facto as três condições da relação categorial estão implicadas nesta conclusão: p rim eiro, que seja relação segundo o ser; segundo, que seja real, onde incluímos todas as condições requeridas para a relação real; terceiro, que seja finita. Escoto acrescenta uma quarta condição, a saber, que a relação seja intrinsecamente acidental, isto é, que seja uma relação que surja imediatamente, sem nenhuma mutação, quando o fundamento e o termo estão postos; mas limita as relações extrinsecamente acidentais às seis últimas categorias, que não resultam imediatamente e como que intrinsecamente quando o fundamento e o termo são postos, mas necessitam de alguma mudança extrínseca para que resultem. Mas ao tratar das seis últimas categorias, na Questão 19, mostraremos que estes modos extrinsecamente acidentais não são relações. Pela primeira destas condições para uma relação categorial são excluídas todas as relações segundo o ser dito ou transcendentais; pela segunda são excluídas todas as relações de razão; pela terceira, todas as relações divinas, que caem fora da categoria uma vez que são actos puros. Mas podes inquirir acerca daquela condição da relação real e categorial, nomeadamente que os extremos sejam distintos realmente, quer seja requerido que sejam distintos da parte das coisas, isto é, dos extremos materialmente, quer seja requerido que sejam distintos não só materialmente mas também da parte da razão fundante, para que o fundamento próximo da relação seja também realmente distinto da relação. A resposta a esta questão é que neste ponto reside a diferença entre as escolas de S. Tomás e de Escoto. Com efeito, Escoto, no C om entário ãs Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 31, q. 1, requer apenas a distinção entre as coisas que são extremos, não entre razões fundantes. S. Tomás requer as duas, como é claro na Suma Teológica, I, q. 42, art. 1, onde, com base nisto, nega que entre as pessoas divinas se dê uma relação real de semelhança e igualdade, porque o fundamento destas relações é o mesmo em cada uma das pessoas, isto é, a divina essência, em razão da qual são semelhantes; seria o
103
mesmo se uma brancura existisse em duas pedras. A razão disto é tomada de Caetano e de outros intérpretes, porque nestes relativos, relações ontológicas que são recíprocas, os extremos materiais são referidos porque as próprias razões fundantes são referidas; pois é porque as brancuras são semelhantes que as coisas brancas são semelhantes. Donde se, pelo contrário, as brancuras não fossem semelhantes, porque existe apenas uma única brancura, as próprias coisas brancas não poderíam ser semelhantes na brancura, porque são o mesmo, uma vez que apenas existiría uma e a mesma brancura. Mas se são semelhantes, será em alguma outra coisa, não na própria razão formal d o branco. Mas é suficiente ter insinuado isto acerca desta dificuldade, pois é um problema que pertence mais aos teólogos e metafísicos.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMF.NTOS
Um problema surge primeiro da bem conhecida mas difícil passagem da Suma Teológica, I, q. 28, art. 1, onde S. Tomás diz que apenas nos relativos, nas coisas que são para alguma outra coisa, se encontram algumas segundo a realidade e algumas segundo a razão. Esta afirmação tem sido fonte de dificuldades para muitos. Pois S. Tomás fala, ou da relação categorial, ou da relação em geral, abstraindo se é real ou de razão. Se fala do primeiro modo, é falso que as relações de razão sejam encontradas entre as relações categoriais, ou então dissemos falsamente que para a relação categorial é requerido um exercício real de «ser para«. Se fala do segundo modo, é verdadeiro que na relação concebida à parte da diferença entre real e de razão ambos os termos da divisão são encontrados, mas é falso dizer que esta forma de considerar o ser é possível apenas se o ser considerado é ele próprio uma relação. Com efeito, também na substância pode conceber-se alguma coisa construída, que seria dita substância de razão, como a quimera, o bode-veado e outras criaturas semelhantes. E no caso da quantidade, um arranjo imaginário de partes pode ser concebido, e semelhantemente nas outras categorias. Logo, não é apenas no caso da relação que se encontra alguma coisa de razão. E a resposta de Caetano a esta dificuldade, no seu comentário à Suma Teológica, I, q. 28, art. 1, apenas serve para aumentar a dificuldade, pois diz que a relação tem esta peculiaridade, que existir na razão não é uma condição diminuente da sua natureza, porque a relação que é de razão é uma verdadeira relação. Isto aumenta a dificuldade, pois é certo que se uma relação mental fosse uma vefdadeira relação, faria um sujeito 104
referir-se verdadeiramente, não ficticiamente, e, iogo, não pela apreensão, mas realmente. Esta dificuldade ofereceu ocasião para muitos entenderem S. Tomás de forma distorcida, e para filosofarem erradamente acerca da relação. Pois alguns julgam que a relação real se divide em dois conceitos, nomeadamente no conceito de acidente, que chamam «estar em», e no conceito de dizer respeito a, que chamam «ser para», e que o primeiro é alguma coisa real, enquanto o segundo é, ou de razão, ou abstraindo do real e de razão. Outros julgam que S. Tomás apenas queria significar que alguma coisa pode ser fabricada pelo entendimento humano à semelhança da relação categorial. Finalmente outros julgam que fala da relação enquanto abstraída da diferença entre ser real ou de razão. Mas os primeiros excluem a verdadeira realidade da categoria da relação, se o que é próprio de tal categoria — isto é, o dizer respeito e a sua natureza essencial de ser para o outro — não é realizado. Os segundos não falam de alguma coisa peculiar à relação, como S. Tomás põe, porque alguns entes de razão podem também ser formados pela semelhança com outras categorias, por exem plo à semelhança da substância ou da quantidade. Por esta razão a terceira exposição é a mais verdadeira no que toca a um ponto, ou seja, que S. Tomás fala da relação em toda a sua latitude, enquanto abstraída da diferença entre relação real e relação de razão. Pois o Santo Doutor não disse que na categoria de «ser para alguma coisa» se encontram algumas coisas segundo a ordem do ente de razão, mas disse «no caso das coisas que são para alguma coisa», para indicar que não fala da relação enquanto categoria determinadamente real, mas absolutamente segundo ela própria, ao que devem atender alguns que menos solicitamente lêem o Santo Doutor. S. Tomás, nesta passagem, fala da relação sob o formalíssimo conceito de «ser para outro», e diz que daquela parte pela qual a relação é considerada para o termo, existe positivamente e não é determinadamente uma forma real, mas é indiferente que seja ente real ou de razão; embora o exercício categorial de «ser para» também seja fundado realmente. E assim não quis S. Tomás significar que relação seria real e que relação seria de razão, mas antes a razão devido à qual a relação pode ser real ou de razão, nomeadamente, a razão pela qual é para o termo; pois embora possa ter existência real aí, contudo não tem existência real a partir daí. S. Tomás nota-o expressam ente no seu C om en tá rio às Sentenças p a ra A nnibaldo, I, dist. 2 6 , q. 2, art. 1, dizendo que «a relação pode ser duplamente considerada, de um modo quanto ao termo, àquilo para o qual é dita ser, do qual tem a natureza da relação; e quanto a isto a relação que é não tem de pôr alguma coisa na realidade, embora
105
também por esta razão não tenha de ser alguma coisa; com efeito há alguns relativos que são alguma coisa na ordem das coisas reais, mas outros que não são nada na ordem das coisas reais. D e outro modo, a relação pode ser considerada quanto àquilo em que está, e assim quando tem existência num sujeito, está nesse sujeito de forma real.» Assim S. Tomás. Mas de que m odo isto é peculiar no caso da relação e não é encontrado nas outras categorias, dizemos que se deve ao facto de que nas outras categorias a sua própria e formalíssima razão não pode ser entendida positivamente, excepto se também for entendida entitativamente; pois o que é para si é uma entidade. Só a relação tem de ser simultaneamente ente e «para o ente», e é pela parte em que é «para o ente» que existe positivamente, e contudo não tem por esta razão entidade real. Mas uma existência real vem à relação de uma parte, nomeadamente do fundamento real; a razão positiva de «ser para» vem de outra, nomeadamente do termo, do qual a relação não tem de ser ente, mas «para o ente», embora aquele «para» seja verdadeiramente real quando é fundado. Logo, que alguma coisa possa ser considerada positivamente, mesmo se não é entitativamente real, é próprio da relação. E isto é tudo o que Caetano quis dizer no seu comentário à passagem em questão da Suma Teológica, quando disse que a relação de razão é a verdadeira relação, não pela verdade de uma entidade e de uma forma informante, mas pela verdade de uma objectiva e positiva tendência para o termo. Nem Caetano disse que, no caso da relação categorial, o próprio «para» é alguma coisa de razão; pois diz expressamente que é verdadeiramente realizado no real. Quando se insiste que também outros gêneros de ente podem deste m odo ser ditos alguma coisa de razão — assim com o uma substância de razão será uma quimera, uma quantidade de razão será um espaço imaginário, sucedendo o mesmo para as outras categorias: a resposta é que, como foi dito acima no capítulo i, aquilo à semelhança do que o ente de razão é formado não é dito ser ente de razão; com efeito, o ente de razão é formado à semelhança do ente real, mas é dito ente de razão aquilo que não é real e que é concebido à semelhança do ente real. Logo, não existe uma substância de razão, nem uma quantidade de razão, porque embora algum não-ente possa ser concebido à semelhança da substância, como por exemplo a quimera, e alguma coisa possa ser concebida à semelhança da quantidade, como por exemplo o espaço imaginário, contudo, nem a própria substância ou alguma razão da substância é concebida pelo entendimento e formada no ser à semelhança de outro ente real. E assim aquela negação ou não-ente quimérico, e
106
aquele não-ente do espaço imaginário, serão ditos serem entes de razão. Mas isto é o ente de razão que é chamado negação, contudo não será uma substância de razão, porque a própria substância não é concebida com o ente de razão à semelhança de algum ente real; antes as negações ou não-entes são concebidas à semelhança da substância ou quantidade. Mas, na verdade, no caso dos relativos, não só algum não-ente é concebido à semelhança da relação, mas também a própria relação concebida da parte de um «dizer respeito a-, enquanto não existe nas coisas, é concebida ou formada à semelhança da relação real, e assim o que é formado na existência, e não apenas aquilo à semelhança do que é formado, é uma relação, e por razão disto são dadas de facto, existem, relações de razão, mas não substâncias de razão. Segundo, argum enta-se: o supremo gênero desta categoria é a verdadeira relação real, e contudo este gênero não tem um termo distinto de si, a que diz respeito; logo dissemos erroneamente que isto é requerido para a relação categorial real. A premissa m enor é provada porque, ou aquele termo é alguma coisa de relativo, ou de absoluto. Não é absoluto porque, como diremos mais tarde, o termo formal da relação não é alguma coisa de absoluto, mas de relativo, Para além de que aquele absoluto não pode ser alguma coisa real existente no singular; com efeito, a relação em geral não pode dizer respeito a alguma coisa determinadamente singular, com o seu termo, pois assim todas as relações respeitariam essa coisa determinada. Se, contudo, é alguma coisa abstraída dos singulares, essa coisa não pode terminar uma relação real; porque não existe realmente da parte da coisa real. Mas se é alguma coisa de relativo, ou é igual àquele gênero supremo, que é a relação em geral, ou inferior. Se é igual, são dados dois gêneros de relações. Se é inferior, seria respeitado pela relação em geral com o aquilo de que a relação é predicada, não como aquilo para o que a relação é terminada essencialmente como relação, mas com o universal. A resposta é que a relação em geral não diz respeito ao termo em acto e em exercício, mas só é concebida como razão e essência da própria relação, e como grau superior pelo qual as relações individuais são constituídas para referir-se a um termo, não com o o que exercitivamente respeita, pois a relação obtém isto através dos seus inferiores; tal como a substância primeira, tomada vagamente e em geral, é aquilo pelo que os acidentes são suportados, não aquilo que exercitivam ente os suporta. E a razão disto é que a relação, genericamente tomada, não é o conceito de relação enquanto oposto, mas enquanto unindo por uma razão comum a natureza da relação. Donde naquele conceito de relação em geral tanto os relativos como
107
correlativos se juntam, e não estão portanto em oposição; mas a relação não é exercida para o termo sem ser sob uma oposição relativa. E assim, a relação, concebida sob o conceito genérico, é despojada do estado de oposição e apenas expressa o conceito no qual convêm todas as relações, mas não expressa o exercício de dizer respeito ao termo, embora seja a razão de respeitar aquele nos seus inferiores. E mesmo na opinião de que o termo da relação é alguma coisa absoluta, o termo em geral não pode ser entendido como algo de uno, porque segundo esta opinião o termo da relação é encontrado em qualquer categoria, nem pode um termo que é respeitado pela relação enquanto tal ser feito de todas as categorias; mas não diz respeito a um termo determinado, uma vez que é uma relação genérica. Argum enta-se em terceiro lugar: as relações transcendentais tam bém têm todo o seu ser para outro; assim como toda a essência da matéria é para a forma, e toda a essência do hábito e do acto é para o objecto; donde então têm toda a espécie. Mas a relação categorial, pelo contrário, não tem todo o seu ser para outro, porque é também um acidente inerente, e assim tem existência num sujeito, não para o sujeito da relação. Isto é confirmado porque a relação transcendental também depende do seu termo, tal como a relação segundo o ser. lo g o , não existe razão para que a relação transcendental possa ser terminada para alguma coisa não existente, mas tal não sucede na relação categorial. A resposta a isto é que a relação transcendental não é primeira mente e por si -para outro», ao contrário da categorial, porque embora a espécie e essência das relações transcendentais seja tomada de outro ou dependa de outro, contudo não é para outro, assim como a matéria depende da forma, e o acto do objecto, com o das causas das quais têm existência e especificação. E disto segue-se que respeitam aquele outro com o termo. Mas que primeiro e por si seja para outro como para um termo é próprio da relação categorial. E assim diz-se que a relação categorial respeita o termo com o puro termo, isto é apenas com o «para outro», não com o -de outro» ou «acerca de outro» ou por qualquer outro m odo de causalidade, como sucede na relação transcendental. Mas o facto de que a relação categorial seja dita existir no sujeito, não impede que todo o seu ser seja para outro — «todo», digo, isto é, o próprio e peculiar ao seu próprio ser, pelo que difere dos outros gêneros, que são absolutos; contudo, supondo a razão comum de um acidente, ou seja estar em alguma coisa, em razão do que um acidente não tem de ser para outro, mas essa possibilidade também pão é excluída.
108
Para confirmação responde-se que a relação transcendental não é primeiramente e por si para outro, como já foi dito, mas é antes de outro ou acerca de outro, como a dependência ou a causalidade ou alguma coisa semelhante; o que pode algumas vezes ser verificado não por isto que de facto é, mas por isto que pode ser, ou o que é requerido para que alguma coisa seja. Contudo a relação categorial, porque tem todo o seu ser para outro, não surge senão do estabe lecimento dos extremos. Donde se um dos extremos falta, a própria relação categorial deixa de existir.
109
L iv r o I DIVIDIDO EM SEIS CAPÍTULOS
D O SIG NO SEGUNDO A SUA NATU R E ZA
C apítulo I
SE O SIGNO ESTÁ N A ORDEM D A RELAÇÃO
Tom am os aqui com o pressuposta a definição d e signo que fo i transmitida no prim eiro livro das Súmulas, nom eadam ente, qu e o signo é «aquilo qu e representa alguma coisa diferente d e si à potência cognoscente». D em os assim esta definição geral para qu e abrangés semos todos os gêneros d e signos, quer formais, quer instrumen tais *. Pois a definição que circula habitualmente entre os teólogos, no início d o capítulo iv das Sentenças d e Agostinho, «Signo é o que, além d e apresentar uma espécie 1 2 aos sentidos, faz vir alguma coisa à cognição», só convém ao signo instrumental. Na nossa definição, duas coisas concorrem para a razão d o signo em geral: prim eiro, é razão d o m anifestativo ou representativo; segundo, é ordem para outro, ou seja, para a coisa qu e é representada,
1O s signos, pela relação q u e estabelecem c om o cognoscente, dividem -se em fo rm a is e instrum entais. O sig n o instrum ental é a q u e le q u e se o fe re c e a o cognoscente c o m o um objecto material e externo distinto d a coisa q u e significa. Objectifica-se, portanto, à potência, para lhe manifestar um outro. É um a realidade material e física. Já o sign o formal, representa igualm ente outro distinto d e si, mas não é exterior a o cognoscente nem lhe aparece co m o um objecto o u instrumento. Pertencem a esta categoria o s conceitos, qu e sã o interiores a o q u e con h e ce e representam a lg o distinto, m esm o qu e disso ele n ã o se c h e g u e a d ar conta. A o admitir q u e o s conceitos são um tipo particular d e signo, J oão d e São T om á s irá, evidentemente, identificar toda a vida psíquica com processos semióticos. 2 Espécie é a sem elhança o u im agem das qu alid ades sensíveis d e um ser q u e é imprimida nos sentidos para qu e o objecto possa ser percebido. N ã o há percepção n em experiência sem as espécies emitidas p elo objecto. A sua etim ologia vem de
8
113
a qual deve ser diversa do signo, pois nada é signo de si, nem se significa a si, e é também ordem para a potência, à qual manifesta e representa a coisa de si distinta. E na verdade o manifestativo enquanto tal não exprim e a relação, quer porque p od e dar-se numa ordem para si e sem relação a outro — com o quando a luz se manifesta a si própria, ou quando um objecto se representa a si mesmo para que seja visto — , quer porque alguma coisa p od e manifestar outra sem dependência dessa outra coisa, mas antes por dependência do outro que manifesta, assim com o os princípios manifestam as conclusões, a luz manifesta as cores, a visão de Deus manifesta as criaturas, com o os teólogos mais eruditos ensinam ao explicarem a Sum a Teológica, I, q. 12 e 14. Em tais casos, a ilustração e a manifestação de outra coisa fazem-se sem dependência nem subordinação à coisa manifestada. Mas o manifestativo d o signo encontra-se tanto com uma ordem para outro, porque nada se significa a si próprio, embora se possa representar, com o com dependência para o outro ao qual está ordenado, porque o signo é sempre menos do que o significado e dependente dele com o de uma medida. Perguntamos portanto se a essência formal d o signo 3 consiste primeira e essencialmente na relação segundo o ser, se na relação segundo o ser dito, ou seja, em algo absoluto que funde tal relação. * O que é a relação segundo o ser dito e segundo o ser, relação transcendental e categorial, foi explicado no Livro Zero. E falamos aqui de relação segundo o ser, não de relação categorial, porque falamos d o signo em geral, enquanto inclui tanto o signo natural com o o convencional, discussão que envolve este último, o signo convencional, que é ente de razão. E por este m otivo a natureza comum aos signos não pode ser a razão do ente categorial, nem uma relação categorial, embora possa ser uma relação segundo o ser, de acordo com a doutrina de S. Tomás, na Sum a Teológica, I, q. 28, art. 1, explicada a mesma no Livro Zero, porque só naquelas coisas que são para outro se encontra alguma relação real e alguma de razão, sendo manifesto que esta última não é categorial, mas é
forma, semelhança, imagem. Trata-se de formas sem matéria, isto é, aquilo que faz as vezes d o objecto tornando-o presente ao sujeito cognoscente. N a gnosiologia tomista species é a semelhança ou imagem das qualidades sensíveis d e uma coisa, imagem essa que é imprimida nos sentidos para que o objecto seja conhecido. Desta forma, o intelecto recebe as espécies inteligíveis, enquanto o s sentidos externos recebem as espécies sensíveis, emitidas p elos objectos. A partir d as espécies sensíveis, a razão forma, p or m eio d o intelecto agente, uma semelhança da coisa n o espírito, e é a partir desta, chamada p or extensão «espécie inteligível*, que o universal é abstraído d o singular. 3 Formalis ratio signi, no original.
114
,
chamada relação segundo o ser, porque é puramente relação e não contém nenhuma coisa absoluta. Em suma, alguns autores são de opinião que a razão do signo em geral não consiste numa relação segundo o ser com a coisa significada e com a potência, mas numa relação segundo o ser dito, nalguma coisa absoluta que funde aquela relação. E assinalam a favor da razão d o signo isto, que é o facto de ser condutor da cognição para outra coisa. Efectivamente, que isto seja o fundamento do signo parece deduzir-se da doutrina de S. Tomás no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 4, q. 1, art. 1, onde diz que a razão do signo, na sua especificidade, se funda em alguma coisa, porque o signo, além das espécies que apresenta aos sentidos, faz vir alguma outra coisa à cognição. Portanto o signo não consiste formalmente na relação, mas no fundamento da relação. E este condutor para conhecer outra coisa, nada mais é que a própria razão d o represen tativo ou manifestativo, não, na verdade, em toda a sua latitude, enquanto também se representa a si, mas enquanto se reduz a ser manifestativo de outra coisa. O que, na verdade, se relaciona à potência 4 da mesma forma que um objecto e na mesma ordem e linha que o objecto; mas o objecto não consiste numa relação cate gorial para a potência, nem numa dependência daquela. Seja portanto única conclusão: a ra zã o do sign o, form a lm en te fa la n d o, não consiste na relação segundo o ser d ito, mas na relação segundo o ser. Disse «formalmente falando» porque, materialmente e por pres suposto, o signo exprime a razão de alguma coisa manifest^tiva ou representativa de outra, o que sem dúvida não en volve apenas a relação segundo o ser, com o imediatamente mostraremos. Formal mente, porém, a razão do signo não exprim e somente a razão de alguma coisa representativa de outra, visto ser evidente que muitas coisas representam ou manifestam outras, e não ao m odo de um signo, assim com o Deus representa as criaturas, e toda a causa o efeito, os princípios manifestam as conclusões, e a luz manifesta as cores; sem que, todavia, tenham a razão do signo. Portanto, representar alguma coisa é requerido para o signo, mas ele não consiste só nisto; pois o signo acrescenta alguma coisa além de representar, e formalmente exprime o representar de outra coisa de uma forma menos perfeita ou dependentemente da própria coisa significada, com o que substituindo e fazendo as vezes daquela. E assim o signo diz respeito ao significado não com o algo puramente automanifestado e auto-iluminado, mas com o principal cognoscível e medida de si,*
* Respicit potentiam, no original.
115
colocando-se em lugar do significado e fazendo a vez dele ao conduzir à potência. Acrescentamos, na conclusão, consistir a razão do signo na relação segundo o ser, abstraindo agora se essa relação é real ou de razão, pois disto trataremos no capítulo seguinte. E assim usamos de um vocábulo comum para ambas as relações, e não tratamos apenas da relação real ou da relação de razão determinadamente. Assim explicada, a conclusão é tirada primeiramente da doutrina de S. Tomás. Gom efeito, S. Tomás expressamente afirma que o signo ê um gênero de relação fundada numa outra coisa. Mas a relação fundada em alguma outra coisa é relação segundo o ser e, se for real, é uma relação categorial. Logo, o signo consiste na relação segundo o ser. A consequência é legítima. E a premissa menor é retirada da doutrina de S. Tomás no Com entário às Sentenças p a ra A nnibaldo, IV, dist. 4, questão única, art. 1, onde diz que «a natureza da relação é que sempre se funde em algum outro gênero de ente». Logo, a relação fundada em alguma outra coisa distingue-se dos outros gêneros de entes nos quais pode fundar-se, e consequentemente distingue-se da relação transcendental e segundo o ser dito, porque estas relações não se distinguem dos outros gêneros de ente, como fo i mostrado na questão acerca da relação. Com efeito, as relações transcendentais não são puros actos de se relacionar mas entidades absolutas ordenadas ou dependentes acerca de outra coisa, como provamos mais desenvolvidamente no capítulo sobre a relação. Logo, a relação fundada em algum outro gênero de ente é sempre relação segundo o ser, e se for real será categorial. A premissa maior, na verdade, é provada ciaramente do próprio S. Tomás, tanto no exposto há pouco citado, com o no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 4, q. 1, art. 1, e na Suma Teológica, III, q. 63, art. 2, resp. obj. 3, onde, tendo apresentado a objecção de que o signo é um gênero de relação, logo o carácter sacramental é um gênero de relação, visto que um sacramento é signo, responde a esse argumento que o signo importa a relação fundada em alguma coisa, e com o a relação sígnica do carácter sacramental não pode fundar-sé imediatamente na essência da alma, deve ser fundada em alguma qualidade acrescentada, e o carácter sacramental consiste nesta qualidade antecedentemente à relação do signo. Reconhece então S. Tomás que a relação d o signo é relação fundada em algo outro. E se só fosse relação segundo o ser dito ou transcendental, não negaria S. Tomás que o carácter sacramental consiste em tal relação, porque a qualidade bem pode ser relação segundo o ser dito, como a ciência existe relativamente a um objecto,
116
e todo o acto ou hábito relativamente àquilo por que é especificado. Quando, ponanto, põe o carácter sacramental na qualidade e o rejeita da relação, rejeita-o definitivamente da relação categorial e segundo o ser, isto é, exclui o carácter sacramental da categoria de relação; pois colocando-o na categoria de qualidade não excluiu suficiente mente a sua identificação com a relação segundo o ser dito, uma vez que também na categoria de qualidade se encontra a relação segundo o ser dito, Mas S. Tomás põe a razão do signo naquela relação, da qual rejeita o carácter sacramental. Logo, é manifesto que S. Tomás constitui a razão do signo na relação segundo o ser ou categorial. E o fundamento desta conclusão é tomado da própria razão e essência do signo, porque a essência do signo não consiste somente nisto, que é manifestar ou representar outra coisa distinta dele próprio, mas naquele m odo específico de manifestar, que é representar outra coisa'enquanto modo inferior daquela, como menos principal para mais principal, como o mensurado para a sua medida, como o substi tuto e «fazendo as vezes» para aquilo em favor do que é substituído e cujas vezes faz. Mas a relação do mensurado para a medida e do substituinte para o seu principal é uma relação categorial. Logo, a relação do signo para o seu objecto é também uma relação categorial. A premissa menor é clara porque a relação do mensurado para a medida é uma relação do terceiro dos três tipos de gênero na categoria de relação, como acima, no capítulo dobre a relação, foi demonstrado. A premissa maior, porém, é manifesta porque a relação do signo enquanto signo directamente diz respeito ao objecto com o principal coisa a ser conhecida, para a qual o signo conduz a potência. Para isto, com efeito, serve o signo, pois a sua função é ser meio e substituinte em lugar do objecto, que ele procura manifestar à potência, pelo que a coisa ela mesma não é conhecida, mas é-o através de tal meio. Donde se a coisa em si própria é manifestada, cessam a razão e o papel do signo. Logo, o signo diz respeito ao objecto como seu substituto e fazendo as vezes dele próprio, e como alguma coisa subordinada e mensurada pelo objecto que significa; de forma que tanto melhor significa o signo quanto mais próxim o se tenha do objecto em si. Nem isto é suficientemente explicado numa relação transcendental, enquanto o signo exprime alguma conexão com o objecto e em razão dele próprio manifesta o objecto significado; com efeito, isto é requerido, mas não basta. Assim como o filho - “ ainda que seja efeito d o pai, e sob razão do efeito transcendentalmente diga respeito ao próprio pai, contudo na razão de filho, com o essa razão exprime semelhança a outro em razão da processão — não exprime uma relação transcendental, mas categorial e segundo o ser; assim, um signo «— ainda que na razão do manifestativo e re
117
presentativo diga respeito ao objecto transcendentalmente, contudo enquanto exprime a razão do mensurado e substituto em relação a esse objecto, e como que servindo ao próprio com o principal — diz respeito ao objecto por uma relação segundo o ser. E daqui se distingue a diferença entre a natureza do manifestativo e do significativo. O que é manifestativo diz respeito principalmente à potência como termo, para o qual ela tende ou que ele move, e semelhantemente, representar algo à potência só é alcançado por isto, que é tornar alguma coisa presente à potência de m odo cognoscível, o que segundo S. Tomás em D e Veritate, q. 7, art. 5, resp. obj. 2, não é outra coisa que a potência conter uma semelhança de outro. Porém, este conter de uma semelhança pode dar-se sem alguma relação que seja relação segundo o ser: quer porque tal acto de conter pode ser perfeição simplesmente e sem nenhuma dependência da coisa representada, assim como Deus representa as criaturas nas idéias; quer porque esse acto de conter é conservado e se exerce mesmo quando o termo representado não existe, e consequentemente até sem' relação categoria!, como é evidente na representação de uma coisa futura ou passada. Finalmente, porque essa representação pertence à razão de mover a potência, à qual se dá o objecto que' é tom ado presente por m eio da representação. Donde convém essencial e directamente ao próprio objecto ser representado, porém o objecto não consiste na relação segundo o ser para a potência; pelo contrário, essencialmente falando, um objecto não diz respeito à potência ou depende dela, sendo antes a potência que dele depende, pois a potência toma a especificação do objecto. Logo, representar e manifestar não consistem numa relação segundo o ser. Mas significar ou ser significativo toma-se directamente por uma ordem para o objecto, a favor do qual o signo substitui e cujas vezes faz à maneira de um meio pelo qual o objecto é levado à potência. Pois o signo substitui e serve o próprio objecto nisto, para conduzir aquele e apresentá-lo à potência com o seu principal conteúdo capaz de ser representado. Do mesmo modo, num subordinado e substituto de outro consideramos dois aspectos, isto é, a sujeição ao outro, cujas vezes faz como de um principal; e o efeito de que é incumbido pelo principal que serve e cujas vezes faz. Assim, portanto, o signo, embora ao representar diga respeito à potência para que lhe manifeste o objecto, porque para este efeito se destina e se toma, e nesta precisa consideração em relação à potência não é requerido que consista numa relação segundo o ser; contudo na subordinação ao objecto, enquanto diz respeito a esse objecto como principal e medida
118
de si, o signo deve necessariamente consistir na relação para com o próprio, assim como o servo exprime uma relação para com o senhor, e o criado ou instrumento para o seu principal. Dirás: o signo não diz respeito ao significável com o puro termo, mas com o objecto da sua significação; portanto não consiste numa pura relação, mas numa ordem transcendental, assim como uma potência e conhecimento dizem respeito a um objecto, e todavia o objecto mede o conhecimento e a potência. Mas contra isto está o facto de que o signo não diz respeito ao que significa como um objecto ou matéria, acerca da qual trata precisamente, assim como a potência e o conhecimento dizem respeito aos seus objectos, mas antes diz respeito ao que significa como substituto, fazendo as vezes do objecto e em seu lugar representando à potência. E porque directamente o signo contém esta substituição e sub-rogação para outro, por isso formalmente é alguma coisa relativa a isso que substitui. A potência e o conhecimento, todavia, não exigem esta relação para o objecto, mas exigem a razão de princípio e de virtude acerca de alguma coisa operante, que não pertence, formalmente falando, à relação; pois não pertence à relação operar, porém o ser sujeito e substituto faz parte da relação. E assim o conhecimento e a potência, os actos e os hábitos, dizem respeito ao objecto com o sua medida fundamentalmente, não relativamente formalmente como sucede com o signo, que formalmente é alguma coisa subordinada e inferior ao objecto, ou fazendo as vezes dele. E para confirmar isto temos a doutrina de S. Tomás, na Suma Teológica, í, q. 13, art. 7, resp. obj. 1, onde diz que «algumas-palavras relativas são impostas para significar o próprio hábito ou estado relativo, com o o senhor e o servo, o pai e o filho, e outras coisas semelhantes; e estas palavras dizem-se relativas segundo o ser. Algumas palavras relativas, porém, são impostas para significar coisas que são consequência de alguns hábitos, por exemplo, como as palavras 'movente’ e movido', a 'cabeça1 e o ‘encabeçado’, as quais são relativas segundo o ser dito.» Por isso, enquanto o conhecimento e a potência significam a própria coisa e o princípio de que se segue a relação para os objectos, o signo, porém, directamente significa a relação com a objecto, ao qual se subordina com o um vigário ao principal. E daqui aprenderás o fundamento para discernir entre a potência ou lúmen, que é a virtude da potência, e a espécie ou forma, porque ambas na verdade versam sobre o objecto, mas fazendo a espécie as vezes do objecto e contendo o próprio continente com o se fora seu substituto, tendendo a virtude da potência para o objecto e apreendendo-o. Donde entre a potência e O objecto hasta que exista
119
uma proporção de adquirir alguma coisa e de tender para o termo que é adquirido, o que é proporção do princípio de um movimento para o termo. Porém a espécie deve ter uma proporção para o objecto que substitui e do qual faz as vezes. E assim, se perfeita e ade quadamente faz as vezes do objecto, requer-se uma total proporção no ser representável, em razão da qual nem uma representação corporal pode ser a espécie de um objecto espiritual, nem uma representação criada pode ser a espécie de um objecto incriado. Se, porém, é posta uma representação incriada, também a entidade da espécie será incriada.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
O principal fundamento da opinião oposta a que o signo seja uma relação segundo o ser é que o signo pode significar formalmente a coisa não existente, com o quando o vestígio do boi significa o boi não existente, ou a imagem do imperador significa o imperador morto. Em tais çasos, existe o signo formalmente; com efeito, a inferência do acto para a potência é válida; «significa, logo é signo-, e contudo formalmente não é relação, porque para o termo não existente não é dada a relação categorial. Logo, o signo formalmente não consiste na relação. Confirma-se porque a razão formal do signo consiste nisto, que seja verdadeira e formalmente condutor da potência para o seu objecto. Mas conduzir a potência para o objecto não é feito por m eio da relação, mas por meio de proporção e conexão entre o signo e o objecto, que é fundamento da relação. Logo, o signo não consiste formalmente na relação, mas no fundamento da relação. A premissa maior segue-se da definição de signo como «aquilo que representa alguma coisa à potência cognoscente-, logo, é condutor da potência para o objecto. A premissa menor prova-se porque para que o signo tenha representação para mim, não é necessário que eu conheça a sua relação; por exemplo, o camponês conhece o animal a partir do vestígio, e não cogitando acerca da relação; e os animais irracionais fazem uso dos signos, como se dirá adiante, e não conhecem a relação, mas apenas o objecto, tal como é conhecido no signo. Logo, se a relação não é conhecida, a relação não conduz, e assim não pertence à razão formal do signo. Responde-se a isto, em primeiro lugar, que aquele argumento carece de força na opinião daqueles que consideram a relação do signo como sendo sempre de razão, mesmo nos signos naturais, porque consideram que a relação do signo se funda na apreensibili-
120
dade dele. Mas dado que a relação do signo natural ao obfecto é real, responde-se que. morto o imperador, a imagem dele não permanece signo formalmente, mas virtual e fundamentalmente. Porém, o signo move a potência por razão do seu fundamento, não por razão da sua relação, assim como o pai gera não por razão da relação, mas por razão da potência generativa, e todavia ser pai formalmente consiste numa relação. E para prova: «significa formalmente, isto é, significa em acto, logo formalmente é signo*. A consequência é negada claramente, porque basta ser signo virtualmente, para que signifique em acto. E isto apresenta-se manifestamente no seguinte exemplo: B em acto causa e produz um efeito, logo é realmente em acto uma causa; de facto, não existindo a própria causa em si, através de uma virtude deixada por si causa e causa formalmente, porque o efeito é então formalmente produzido. Assim, existindo no signo uma significação virtual, conduz formalmente a potência para o objecto, e todavia não ê um signo formalmente, mas virtual e fundamentalmente. Com efeito, visto que permanece a razão de mover a potência, o que é feito pelo signo enquanto é representativo, mesmo se não permanece a relação de substituição para o objecto, o signo pode exercer funções de substituinte sem a relação, assim como o servo ou o ministro podem exercer operações do seu ministério estando morto aquele para quem exprimem relação, e é nessa relação que formalmente consiste a razão do servo e do ministro. Para a confirmação responde-se que na natureza do condutor há a considerar duas coisas, ou seja, a força ou a razão de exercer a própria representação da coisa a conduzir, e a relação de sujeição ou substituição para aquilo em favor de que exerce essa representação, assim como no caso do senhor é considerado tanto o poder de governar ou de coagir os súbditos, com o a relação para aqueles, e no caso d o servo é considerado tanto o poder de obedecer, como a relação de sujeição. Quanto ao poder de conduzir representati vamente, concedemos que não é uma relação segundo o ser, mas o fundamento de tal relação; isto é, aquela proporção e conexão com o objecto; mas quanto à formalidade do signo, que não é qualquer proporção e representação, mas uma subserviente e substituta do objecto, consiste formaímente na relação do substituto representativo, tal como ser servo e ser senhor, formalmente, são relações, e todavia o direito de coagir e de obedecer não são relações segundo o ser. Argumenta-se em segundo lugar: o signo consiste formalmente nisto, que é ser alguma coisa capaz de conduzir a potência para o objecto; pois é por isto que alguma coisa tem significação, que é a forma do signo, e é por isto que lhe convém a definição de signo, 121
nomeadamente, o que é representativo de uma coisa diferente de si à potência cognoscente. Mas o signo tem esta capacidade, que é poder conduzir para o objecto mesmo enquanto meio e instrumento, através de uma relação transcendental; logo, é nessa relação que o signo consiste formalmente. A premissa menor prova-se: de facto o signo tem a capacidade de conduzir a potência ao objecto como meio, pelo que tem a ca pacidade de manifestar à potência o objecto. Porém tem esta ca pacidade manifestativa não em razão de uma relação categorial, mas transcendental, porque conhecida a relação transcendental da causa, ou do efeito, ou da imagem, ou de qualquer conexão das duas coisas, é atingido imediatamente o termo da relação. Logo, não se requer alguma relação categorial para que o signo conduza para o objecto, ou possa conduzir, visto que com a relação transcendental isto é suficientemente cumprido. Nem tem valor dizer que aquela relação transcendental é o fundamento da relação do signo, porque o que só é tal fundamentalmente, não pode dar o efeito formal, assim com o a potência generativa não pode formalmente constituir o pai, nem a qualidade a semelhança, ainda que sejam os fundamentos destas relações. Logo, se a relação transcendental só funda a relação do signo, formalmente não fornece o efeito formal do signo nem q seu exercício. E isto é confirmado porque é inconveniente dizer, nos signos convencionais, que não permanecem signos formalmente quando em acto não dizem respeito ao seu objecto, com o no caso do livro fechado, no qual não é conhecido o signo ou as letras aí escritas, e assim em acto não tem a relação, que como é de razão, depende da cognição actual. Logo, o signo não pode consistir formalmente na relação segundo o ser. A antecedente também é provada porque o signo no livro fechado conserva a sua imposição, e, logo, também conserva a sua significação, a qual pode ser restituída a acto abrindo o livro. Logo, é formalmente e em acto um signo, porque conserva a sua significação em acto. Responde-se que com este argumento nada mais é provado do que com o precedente, e por este motivo dizemos que a razão formal do signo consiste nisto, que é poder conduzir alguém ao conhecimento do objecto, não pela capacidade de conduzir de qualquer modo, mas por aquela que é sujeita e substituinte a favor do objecto, e inferior a ele na razão do signo. E por este motivo considera-se no signo a força que m ove a potência e a ordem de substituir relativamente àquilo a favor de que move. E a primeira é uma relação transcendental, a segunda categorial. E é na segunda que consiste o signo, não na primeira, porque a primeira, ou seja manifestar o outro, 122
também convém às coisas que não são signos, tal com o já dissemos, de a luz manifestar as cores, de o objecto se representar a si próprio, de Deus representar as criaturas. O facto de que, visto o efeito, seja conhecida a causa, ou vista a imagem seja conhecido o arquétipo, não constitui formalmente a razão do signo, salvo se acrescentarmos a peculiar relação do representativo, do substituinte, etc. ... que ex prime a relação segundo o ser. E para impugnação responde-se que o fundamento d o signo não constitui formalmente a razão do signo quanto àquilo que formalmente é sujeição e substituição, mas quanto àquilo que é próprio da virtude ou capacidade de mover, assim como a potência generativa constitui a virtude de gerar no pai, não a relação formal de pai, a qual consiste na íazão de um princípio assimilante e em ter autoridade em relação ao filho. Para confirmação do segundo argumento responde-se que alguns autores perceberam de modos bem diversos esta questão no que toca aos signos convencionais, pelo facto de naqueles signos a relação do signo, se é dada, segundo o consenso de todos não é real, mas de razão. E há quem pense que a relação de razão não só denomina, mas também existe pela existência do seu fundamento, pelo menos imperfeita e incoativamente, e assim denomina mesmo antes de ser apreendida em acto. Mas restam a esta resposta duas coisas difíceis de explicar. Primeiro, que tal existência não denominará o signo em questão com o signo perfeita e simplesmente, mas só incoativa e imperfeitamente; e assim um signo no livro fechado, ou proferido vocalmente, mas não apreendido em acto numa relação, não será um signo perfeitamente, mas incoativa e imperfeitamente, porém adquirirá verdadeiramente a perfeita razão do signo quando for apreendido em acto. Permanece portanto a mesma dificuldade que esta solução intentava resolver, ou seja, de que m odo o signo no livro fech ado ou vocalm ente proferido, mas não apreendido relativamente, pode perfeitamente significar e conduzir para o objecto. Pois a palavra «homem» não representa o seu significado menos perfeitamente, se a sua relação for apreendida, d o que se não o for, pois retém do mesmo modo a imposição e a perfeita significação. Logo, será um signo perfeita e consumadamente ainda antes de estabelecida a relação, e não só incoativamente, porque igualmente e de maneira perfeita significa e é signo antes de que ocorra a relação. A segunda dificuldade dá-se porque aquela imperfeita e incoativa existência é ou apenas fundamental e virtual a respeito do signo, ou também actual. Se é apenas fundamental, isto é dizer que só existe o fundamento do signo, não formalmente o próprio signo. Se actual,
123
é muito difícil ver como a existência real que é própria do fundamento pode, antes de uma apreensão actual, tornar actualmente existente o ente de razão e que só tem existência objectiva. Pois assim, não será puro ente de razão, visto que também é capaz de existência real, embora imperfeita e incoativa. Outros julgam que o signo convencional é formalmente signo mesmo antes da existência formal da relação do signo. Outros pensam que é signo apenas de m odo moral, porque a imposição é dita permanecer de m odo moral. Mas há dificuldades sobre se isto seria um signo em acto ou não. Pois dizer que um signo é em acto moralmente é em pregar uma partícula diminuente, com o se disséssemos que existe em acto fundamentalmente ou virtualmente; pois aquela moralidade da imposição que permanece é o fundamento de uma relação. Por isso deve simplesmente dizer-se que a imposição ou fixação de alguma coisa para que seja signo de tal ou tal coisa é apenas o fundamento da relação do signo, porque dá ao signo a conexão com a coisa e a sub-rogaçâo por aquela para significar, não naturalmente, mas segundo a convenção de quem impõe, assim como a abstracção da natureza é o fundamento da universalidade. Donde, assim como o signo natural em razão do seu fundamento exerce a significação, ainda que não tenha relação em acto com o objecto, porque tal objecto em particular pode não existir — com o a imagem do imperador estando ele morto; assim a palavra enunciada ou escrita, ainda que a relação não seja concebida em acto, e consequentemente não exista mediante um conceito, mesmo assim significa e representa em razão da imposição outrora feita, a qual não produz formalmente o signo, mas fundamental e proximamente, com o diremos no ca pítulo v. E não há nenhum inconveniente no caso destes relativos de razão, que cessando a cognição actual de alguma forma, cesse a existência formal dessa forma e a denominação formal proveniente de tal existência, e de novo surja quando é posta outra cognição actual, enquanto a denominação fundamental permanece constante, denominação que permanece no universal quando é removida da comparação e da relação, e posta sozinha na abstracção; com efeito, continua a ser alguma coisa universal metafisicamente, não logicamente. Assim, o signo convencional, sem a relação conhecida, permanece signo moralmente e fundamentalmente e com o que metafisicamente, isto é, permanece numa ordem para o efeito de representar; mas não permanece signo formalmente e como que logicamente ou quanto à intenção da relação. Insistes: aquela imposição passiva do signo não deixa nele nada de real, logo, não pode m over,a potência nem conduzi-la para o
124
objecto, porque a potência não pode ser movida por aquilo que nada é; pois o objecto movente actua e aperfeiçoa a potência, o que aquela imposição não pode fazer. Logo, não permanece funda mentalmente signo, pois este consiste na força ou poder que move e representa. Responde-se que tudo isto também sucede no próprio signo convencional existente em acto e completo; pois este signo sempre é alguma coisa de razão. E por este motivo dizemos que o signo convencional m ove por razão da imposição, não como cognoscível imediatamente e por razão de si, mas mediatamente e por outro, tal como sucede com os restantes entes não reais, e assim suposto que a sua cognoscibilidade seja obtida por empréstimo, o signo con vencional reveste-se da razão do movente e representante, assim como se reveste da razão de alguma coisa cognoscível. Terceiro argumento: o gênero do signo é razão do representativo e razão de um objecto cognoscível, conhecido não em último, como o objecto, mas mediatamente. Mas a razão do representativo e a razão de um objecto não exprimem a razão de uma relação segundo o ser, mas de uma relação transcendental; e até a formalidade de alguma coisa cognoscível como tal não é ente formalmente, mas pressupostamente, uma vez que é uma propriedade do ente e, assim, não o determinado tipo de ente que a relação é; logo, também o signo não é o tipo de ente que a relação é. A consequência deste argumento está à vista, porque se o gênero não está na razão do relativo, de que modo a espécie pode pertencer à relação? A premissa menor é admitida por nós. A maior segue-se da definição do signo como aquilo que representa algo à potência cognitiva; logo, ser representativo, ser um objecto ou coisa cognoscível, são dois aspectos que pertencem essencialmente ao signo. Com efeito, uma coisa não pode conduzir ao conhecimento do objecto, a não ser objectificando-se e representando-se à potência; o representativo porém não pode ser dito do signo essencialmente como espécie ou diferença, uma vez que também convém a outras coisas, logo, deve ser dito como gênero. Confirma-se: o signo em geral não pode consistir na relação, logo, o signo absolutamente não é relação. Prova-se a antecedente, tanto porque a condição de ser signo é comum ao signo formal e instrumental: o formal, porém, não é uma relação, mas uma qualidade, uma vez que é uma apercepção ou conceito, com o se dirá abaixo; como porque a condição de ser signo é comum ao signo convencional e natural; contudo, não existe nenhuma relação comum aos dois, a não ser a relação que abstrai do que é real e do que é de razão, na opinião dos que dizem que a relação do signo natural é real. Porém,
125
a relação do signo é mais determinada e contraída do que aquela que abstrai do real e de razão. Logo, o signo em geral não exprime a relação segundo o ser, pois teria de ser posto determinadamente em algum membro da relação, ou real, ou de razão. Responde-se a este terceiro argumento que o representativo não é o gênero do signo mas o fundamento, assim com o o generativo não é o gênero da paternidade, mas o fundamento; nem o fundamento do signo é somente o representativo, com efeito, o representativo só remotamente se orienta para o signo a fundar, mas um tipo definido de representativo, isto é, substituinte a favor do objecto e subordinado a ele na representação e condução para a potência. E representar é posto na definição do signo, assim, como fundamento que per tence à relação; pois o signo com o instância da relação depende essencialmente de um fundamento. E se a relação for de alguma causa ou efeito ou exercício, todo o exercício ele próprio é feito através de fundamento, pois a relação, na verdade, não tem outro exercício que dizer respeito a, se for relação segundo o ser; assim com o o pai gera em razão do fundamento, o senhor impera em razão do fundamento, o ministro substitui e opera em razão do fundamento, o signo representa em razão do fundamento. E é assim porque a razão do objecto ou da coisa representável está num signo, primeiramente a respeito de si; pois objectifica-se à potência, e enquanto objecto diz directamente respeito à potência com o medida dela mesma. Tudo isto não é o gênero do signo; pois o signo diz principalmente respeito ao objecto, ao qual subordina a própria razão de representar. D onde o signo começa a consistir na relação substitutiva para o objecto; porém o representativo, enquanto conectando-se substitutivamente com o objecto, funda aquela relação, e aquela conexão é fundamentalmente substituição. Para confirmação, responde-se que a apercepção e o conceito têm a razão de uma qualidade, enquanto são um acto ou imagem de um objecto sobre a qual é fundada a relação do signo formal, relação essa na qual o signo essencialmente consiste, enquanto é através disso que a apercepção e o conceito substituem em favor de um objecto. Assim como o caracter sacramental é dito, segundo S. Tomás, na passagem supracitada, ser um signo fundamentalmente, visto que em si é uma qualidade, todavia fundando a relação do signo, assim o conceito e a apercepção são qualidades inform ativam ente significantes, não objectivam ente, fundando porém a relação constitutiva do signo formal, isto é, a relação do signo cuja representação e exercício de significar são feitos informando. E para confirmação da outra parte do argumento, responde-se que o signo em geral exprime uma relação mais determinada que a
126
relação em geral, seja transcendental seja relação segundo o ser. De lacto, aquele argumento é corrente em todas as opiniões con sideradas. isto é, como pode o signo em geral, que é ente deter minado e inferior ao ente enquanto tal, dividir-se em real e de razão: na verdade, se o signo está numa relação transcendental, no caso do signo natural essa relação será real, e no caso do signo convencional será de razão. Logo, não se levanta aqui especial dificuldade contra a nossa asserção acerca da relação do signo, defendendo que esta deve ser relação segundo o ser. Por isso deve dizer-se que não há nenhum inconveniente em que as coisas inferiores se revistam de um conceito análogo e se dividam de um modo analógico, assim como as superiores, ainda que mais restritamente que as coisas superiores. E como os análogos de uma analogia mais restrita são referidos a um conceito análogo mais universal, não são postos sob um determinado e unívoco membro de uma divisão da analogia mais universal, mas relacionam-se analogamente, tanto entre eles próprios na analogia mais restrita, com o com os membros da analogia mais universal. Exemplo vulgar disto está neste nome: -sabedoria». É na verdade um conceito mais determinado que ente, e todavia nem é determinadamente criado nem incriado, mas pode ser dividido em cada um deles, porque p od e ser tom ado analogicamente. Mas se «sabedoria» for tomado univocamente, assim será determinadamente criado ou determinadamente incriado. Do mesmo modo, o nome «homem», se tomado igualmente enquanto abstraindo de homem verdadeiro e homem pintado, vivo e morto, é alguma coisa inferior e menos universal que o ente, mas não em determinado membro de alguma divisão do ente, porque é tomado analogicamente, e portanto não com o determinadamente um, nem determinadamente em um membro. Assim, um signo enquanto comum ao natural e ao convencional é análogo, tal como se fosse comum a um signo verdadeiro e pintado, real e de razão, posto que o signo enquanto tal não está numa determinada divisão do ente ou da relação, mas cada um dos seus inferiores estará em determinado gênero, segundo o seu tipo.
127
Capítulo n
SE NO SIGNO NATURAL A RELAÇÃO É REAL OU DE RAZÃO
Para que seja atingido o ponto da dificuldade, importa discernir as várias relações que podem concorrer no signo. E de algumas, no. signo natural, não há dúvida de que possam ser reais, todavia não são elas a formal e essencial relação do signo. Sendo a definição de signo «aquilo que representa alguma coisa à potência cognoscente», se for um signo exterior à potência, é necessário, para que represente outro, que tenha a razão do objecto cognoscível em si, para que conhecido este a potência chegue ao outro; mas se for signo formal e interior à potência, para que represente outro deve ser uma representação intencional real, o que na realidade é um certo tipo de qualidade, todavia uma qualidade com relação de semelhança para aquilo de que é representação com uma ordem para a potência. Da mesma forma, para que se diga representar antes isto do que aquilo, tem de ser encontrada no signo alguma conveniência ou proporção e conexão com um certo significado. Esta proporção ou conveniência é variável. Algumas vezes é a de um efeito para a causa, ou da causa para o efeito, assim como o fumo significa o fogo como efeito, e a nuvem ou o vento significam a chuva com o causa. Outras vezes é de semelhança, ou de imagem, ou de qualquer outra proporção; mas nos signos convencionais é a imposição e o destino pela comunidade. Numa palavra: visto que o signo se orienta relativamente ao objecto e à potência, as relações ou razões que o habilitam para a potência ou para o objecto podem preceder a construção da razão do signo. Mas não é nisto que consiste a formal
128
e essencial natureza do signo, nem tão-pouco a relação deste para a coisa significada, embora pensem o contrário os Conimbricenses no seu comentário ao D e Interpretatione, q. 1, art. 2, visto que podem separar-se e encontrar-se fora da essência do signo. Com efeito, encontra-se a natureza de um objecto sem a natureza de um signo; e a natureza de um efeito, ou causa, ou imagem, pode também ser encontrada sem a natureza de signo 5. E novamente, porque a relação para alguma coisa exprime diversos fundamentos e razões formais, como por exem plo a relação para um efeito ou para uma causa, que se funda numa acção; ou a relação de uma imagem, que se funda numa semelhança de imitação sem ordem à potência; ou a relação do signo, que se funda no mensurado relativamente à medida, ao modo de um substituinte em favor de outro em relação à potência, algo que as outras relações não respeitam. Perguntamos portanto se aquela formal e propriíssima relação do signo, que se encontra ou surge de todas as coisas envolvidas na acomodação do signo ao objecto ou à potência, é uma relação real no caso dos signos reais ou naturais. E confessamos que a relação do objecto â potência, que precede a relação do signo no signo instrumental, seja por meio de mover, seja por m eio de terminar, não é uma relação real, porque o objecto não diz respeito à potência por uma relação real segundo o ser, mas antes a potência diz respeito ao objecto, depende dele e é especificada por ele. E supondo que a" relação do objecto para a potência fosse real, e que o objecto mutuamente respeitasse a potência, do mesmo modo que a potência respeita o objecto, (o que que é manifestamente falso visto" que o objecto é a medida e a potência o mensurado), todavia esta relação não seria nem relação nem razão do signo, porque a razão de um objecto formal e directamente diz respeito ou é respèitada pela potência, de tal m odo que o dizer respeito entre os dois é imediato; porém a razão do signo diz respeito ao objecto directamente, e à potência obliquamente, porque diz respeito ao objecto com o aquilo que deve ser manifestado à potência. Logo, diversa é a linha e a ordem de respeitar no objecto enquanto objecto, e no signo enquanto signo, embora para que seja signo deva supor-se um objecto. Respondo portanto, e digo: a relação do signo natural com o seu objecto, pela qual é constituído no ser do signo, é real e não de razão, enquanto é considerada a partir de si e por virtude do seu fundamento e supondo a existência do termo e das restantes condições da relação real.
5 Novamente, neste trecho, natureza equivale ao latino ratío.
129
Esta parece ser a perspectiva mais conforme ao pensamento de S. Tomás. Primeiro, porque ele ensina que a relação do signo no carãcter do sacramento é fundada numa qualidade acrescentada ã alma, qualidade essa que é um fundamento real, com o está exposto na Suma Teológica, III, q. 63, art. 2, resp. obj. 3; e no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, dist. 4, q. 1, art. 1. E fala de fundamento próximo, porque impugna aqueles que disseram ser essa relação fundada imediatamente sobre a alma, e ensina que outra coisa deve mediar, sobre a qual se funde a relação do signo do carácter sacramental, isto é, a qualidade do carácter; logo, fala do fundamento próximo. E na Suma Teológica, I, q. 16, art. 6, diz que embora a saúde não resida na urina e na medicina, «há todavia alguma coisa em ambos pela qual a medicina produz e a urina significa saúde». Logo, a relação do signo natural é fundada em alguma coisa real, alguma qualidade do tipo da que funda a relação da urina para a saúde, nomeadamente em algo que tem em si, para que signifique, assim como a medicina tem em si alguma coisa para que produza saúde. E o fundamento da conclusão é deduzido da própria natureza e essência do signo, a qual consiste nisto, que seja alguma coisa mais conhecida pela qual se represente e se manifeste o mais desconhecido,, como bem nota S. Tomás em D e Verilale, q. 9, art. 4, resp. obj. 5, e no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 1, resp. obj. 5, quaestiunc. 2. Mas para que alguma coisa seja mais conhecida do que outra e torne essa outra cognoscível e representãvel, requer-se que a cognoscibilidade da primeira .seja mais capaz do que a da outra para mover a potência, e determinada ou afectada por tal objecto, que mova a potência para conhecer antes um determinado objecto do que outro, quer essa moção e essa representação se façam formalmente, quer se façam objectivamente. Mas para que alguma coisa em si própria seja cognoscível, não pode ser simples produto da razão; e que seja mais cognoscível relativamente a outra coisa, tomando-a representada, é também alguma coisa real no caso dos signos naturais. Logo, a relação do signo, nos signos naturais, é real. A premissa menor tem duas partes, a saber, que a coisa em si própria seja cognoscível realmente, e também que relativamente a outra torne essa outra representada e cognoscível realmente. E q u a n t o à p rim e ira p arte d a p re m iss a m e n o r, é p r o v a d a p o r q u e a c o is a é c o g n o s c ív e l a n te s d e to d a a o p e r a ç ã o d o in telecto. Se, c o m efeito , fo s s e to rn a d a c o g n o s c ív e l p e la o p e r a ç ã o d o in telecto, seria c o g n o s c ív e l p o r s e r c o n h e c id a , e a ssim n ã o se ria c o g n o s c ív e l a n tes d a c o g n iç â o , o q u e é a b s u rd o , p o r q u e e m n ó s a c o g n iç ã o é tirada
130
do cognoscível; mas se o cognoscível é tornado cognoscível pela razão ou pelo conhecimento, então o conhecimento é anterior à cognoscibilidade, e então o conhecimento não é tirado da cognosdbilidade como de um objecto. Nada obsta a que o cognoscível ou objecto diga respeito à potência não por uma relação real, mas por uma relação de razão, porque a própria realidade da cognoscibilidade é provada mais firmemente a partir deste facto. Pois é porque a potência depende do objecto, e não o objecto da potência, que o objecto diz respeito à potência por uma relação de razão; e o objecto funciona como medida, enquanto a potência funciona com o mensurado, que pertence às relações de terceira ordem , nas quais o mensurado é dependente, e por conseguinte diz respeito realmente; todavia a medida não depende do mensurado, e assim só por uma relação de razão diz respeito àquele. Ora, apesar de tudo, isto mesmo prova uma maior realidade na própria razão da medida, enquanto é menos dependente e por isso, de menor realidade na sua relação ao mensurado, assim como Deus ser senhor relativamente é alguma coisa de razão, mas segundo o poder é alguma coisa real. E de modo semelhante o acto livre é realmente livre em Deus e de muito maior realidade, porque só por razão é referido ao objecto livre, enquanto realmente dele não depende. Assim, o cognoscível no objecto real é absolutamente e em si alguma coisa real, mas relativamente à potência é alguma coisa de razão. Mas o facto de a cognoscibilidade numa coisa ser maior ou mais clara do que em outra não se retira da relação de razão para a potência, que em todo o objecto ocorre, mas da maior força e eficácia de m over e manifestar, que em si é alguma coisa real. A segunda parte da premissa menor mostra-se porque embora o cognoscível, na sua ordem e relação à potência, seja alguma coisa de razão, todavia em si é alguma coisa realmente cognoscível. Logo, para que um signo natural não seja só cognoscível em si e a respeito de si, mas também a respeito de outro, de que faz as vezes e a favor do qual se substitui na cognoscibilidade e na apresentação, a relação deve intervir realmente. A consequência é manifesta, porque a relação substitutiva nos signos naturais se funda na cognoscibilidade real e na conexão real do signo com determinado significado, para que o signo represente o significado não em conexão com a potência. Logo, o signo natural será um substituto daquela determinada coisa e dir-Ihe-á respeito com o objecto por uma relação real, embora tal cognoscibilidade não diga respeito à potência realmente. Pois o facto de que o fumo represente antes o fogo do que a água, e o vestígio do boi antes o boi que o homem, e o conceito de cavalo represente antes o cavalo que a pedra, funda-se em alguma proporção real e
132
intrínseca desses signos com aqueles objectos; ora, de uma proporção e conexão reais com alguma coisa nasce a relação real. Donde acontece que alguns autores estão fortemente enganados a respeito disto, pois sem discussão, ao verem que a cognoscibilidade ou apreensibilidade do signo funda a relação do signo, e que esta apreensibilidade é uma relação de razão para a potência, julgam que a própria razão do signo é simplesmente uma relação de razão. Além disso, nisto fortemente se enganam, porque a relação de cognoscibilidade para a potência precede e é pressuposta para a razão do signo: pois pertence à razão comum do objecto ou cognoscível. Mas requer-se ainda para a razão do signo que a sua cognoscibilidade seja ligada e coordenada com outro, isto é, com o objecto, de tal maneira que o substituto p or esse outro seja subordinado e sirva para o remeter à potência. E assim a relação desta cognoscibilidade do signo com aquela do objecto será também essencialmente uma relação real, porque se funda na proporção e maior conexão que esta cognoscibilidade tem para aquela, mais do que para outra, de tal maneira que o signo pode substituir e fazer as vezes da'quela cognoscibilidade, e isto é dado da parte da realidade, sendo o exercício de representar à potência igualmente dado da parte da realidade, embora a ordem e a relação para a potência não" seja real; pois uma coisa é saber se a relação do objecto com a potência é real, outra bem diferente é saber se a representação é real. Segundo S. Tomás, em D e Veritate, q. 3, art. 1, resp. obj. 2, «para a espécie, que é um meio, requerem-se duas coisas, ou seja a representação da coisa conhecida, que pertence à espécie segundo a proximidade ao cognoscível, e a existência espiritual, que lhe pertence segundo o ser que tem no sujeito cognoscente». Onde pondero aquelas palavras: «a representação que pertence à espécie segundo a proximidade etc.». Logo, a representação, no signo natural, funda-se na proximidade do signo com o objecto cognoscível, a favor do qual substitui e a respeito do qual é meio. Esta proximidade será uma relação real no caso das coisas que são proporcionadas e ligadas realmente, porque tem um fundamento real. Do que foi dito concluirás que mesmo nos signos convencionais a razão do signo deve ser explicada pela relação ao objecto significado. Mas essa relação é de razão, e contudo o signo não consiste apenas na denominação extrínseca, pela qual é imposto ou determinado pela comunidade para significar, como alguns autores mais recentes pensam, a partir do facto de que sem aquela ficção do intelecto, somente pela própria imposição o §igno é denominado.
132
Porém, esta imposição é requerida, na verdade, como fundamento da razão e relação do signo, porque é através desta imposição que alguma coisa se habilita e é destinada para que seja signo convencional; assim como é através do facto de algum signo natural ser proporcionado e ligado com um dado objecto que é fundada a relação do signo com esse objecto. E assim, daquela denominação extrinseca, da destinação e da imposição, surge uma dupla relação de razão.- a p rim eira é comum a toda a denominação extrinseca, enquanto a denominação extrinseca é concebida pela inteligência ao m odo de uma forma e relação denominante, como, por exemplo, o ser visto é concebido relati vamente ao que vê, o ser amado relativamente ao amador; a segunda é a relação particular pela qual uma denominação se distingue de outra. Com efeito, a destinação e a imposição da comunidade para várias funções não se distinguem a não ser pela relação a essas funções para o exercício das quais são destinadas, assim como alguém é destinado ou instituído para qualquer função, para que seja juiz, presidente, médico, e algumas outras coisas são destinadas para que sejam signos ou insígnia dessas funções, e semelhantemente são destinadas as palavras, a fim de servirem à conversação dos humanos. Estas funções provêm da escolha da opinião pública, que é uma denominação extrinseca. Além disso, distinguem-se porque o juiz é ordenado para julgar uns certos súbditos, o presidente para reger, o professor para ensinar: estas distinções são tomadas através de uma ordem para os seus ofícios, ou objectos acerca dos quais se exercem, e não são explicadas de nenhum outro m odo a não ser pelas relações; logo, são distinguidas pelas relações com as suas funções e objectos. O mesmo se deve dizer acerca dos signos convencionais, embora estes sejam fundados pela denominação extrinseca da imposição. E cessando a relação, estes signos são ditos permanecer fundamentalmente, enquanto aquela destinação da comunidade é dita permanecer moral ou virtualmente.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Argumentos para provar que o signo natural é um relativo de razão podem ser postos de duas perspectivas: ou do ponto de vista em que o signo se relaciona à potência, ou do ponto de vista em que se relaciona ao objecto. D a parte que d iz respeito ã potência, o argumento é comum mas difícil de resolver: com efeito, o signo diz respeito à potência por uma relação de razão. Mas esta relação é intrínseca e essencial ao
233
signo, e até mais principal. Logo, o signo natural não consiste precisamente na relação real. A premissa maior é certa porque entre o signo e a potência encontra-se uma ordem da mesma linha e razão que a existente entre o objecto e a potência. O signo, com efeito, é um tipo de objecto ou substituto de um objecto, e, assim, nesta qualidade move a potência objectivamente, não efectivamente, e portanto diz respeito à potência na mesma ordem que o objecto. É evidente, por outro lado, que o objecto se relaciona à potência por uma relação de razão, porque não existe uma relação mútua e recíproca entre a potência e o objecto. Logo, do ponto de vista do outro extremo, do objecto, não há uma relação real; mas o mesmo não sucede do ponto de vista da potência, porque esta diz respeito ao objecto realmente, logo, a relação entre potência e objecto será de razão do ponto de vista d o objecto. Contudo, especialm ente o signo instrumental, não pode manifestar alguma coisa à potência a não ser enquanto conhecido; mas ser conhecido é alguma coisa de razão. Logo, o signo instrumental conduz para o objecto mediante alguma coisa de. razão, isto é, mediante ser conhecido. A premissa menor, na verdade, prova-se: quer porque o signo é um instrumento, do qual se serve a potência para chegar ao objecto;. quer porque o fim, para o qual o signo é ordenado, é a manifestação do objecto à própria potência. Logo, a própria potência, ou antes, a sua cognição, para a qual o signo conduz, é o fim principalmente intentado pelo signo, e portanto uma ordem para a potência é intrínseca e essencial ao signo. E confirma-se o que foi dito porque os signos formal e instrumental diferem na razão do signo, como diremos na questão seguinte, e contudo não diferem por causa da diversa ordem para o objecto, mas para a potência. Pois o fumo como signo instrumental e o conceito com o signo formal de fogo dizem respeito ao mesmo objecto, ou seja, o fogo; mas o fumo diz-lhe respeito instrumentalmente, e o conceito formalmente. Logo, diferem pelas diversas ordens para a potência, e assim, esta ordem é essencial ao signo, enquanto o signo formal diz respeito à potência com o forma da cognição, e o instrumental com o movente extrínseco. Responde-se que, quer a ordem para o objecto e para a potência no signo seja somente uma, quer seja dupla (assunto que será tratado na questão seguinte), todavia, como é signo estando sob tal for malidade, não diz respeito à potência directa e principalmente, nem como medida dela, mas comovia de acesso a ... e condutor da potência para aquilo, que é o seu objecto e lhe é manifestável, ou seja, o referente. Sendo assim, tanto a potência como o signo dizem respeito
ao referente com o objecto manifestável, pelo qual são especificados e medidos, a potência como virtude cognoscente e tendendo para o objecto, o signo como via e meio pelo qual a potência tende para o objecto. Mas que o signo seja também objecto e conhecido primeiro, para que por ele a potência tenda para o referente, não é o que essencialmente constitui o signo enquanto signo; pois o signo formal, sem ser objecto conhecido pela potência, mas forma tornando a potência cognoscente, manifesta o objecto à potência. Logo, o que pertence essencialmente à razão do signo é a sua qualidade de substituinte a favor de um objecto na representação desse objecto à potência, substituição essa que exprime uma subordinação real e uma relação para o referente com o para um objecto principal, e esta é a relação essencial e formalmente constitutiva do signo, embora obliquamente o signo também atinja a potência, enquanto diz respeito ao objecto como manifestável à potência. Por isso, responde-se em forma ao argumento: distingo que o signo diga respeito à potência por uma relação de razão: que fòrmalmente, enquanto signo, diga respeito à potência por uma relação directa e da medida para o mensurado, nego; que o signo diga respeito à potência pressupostamente e como certo objecto que é, concedo. E para prova diz-se: nego que o signo esteja em linha e ordem de um objecto principalmente e essencialmente, e que enquanto ■objecto seja uma medida; concedo que o signo esteja na linha e na ordem de um objecto como substituinte e fazendo as vezes do objecto. Donde o signo não diz respeito à potência da mesma maneira que um objecto, mas respeita o objecto manifestável directamente, e a potência obliquamente, assim como um hábito, que está nas potências, respeita o objecto pelo qual é especificado directamente, embora para adjuvar a potência a respeito desse objecto. Nem o signo instrumental se funda em ser conhecido quanto à razão do signo, mas ser conhecido requer-se para o próprio exercício de significar, não para que o signo instrumental seja constituído no ser d o signo relativamente a um objecto com o seu substituto; pois isto já o signo possui antes de ser conhecido, porque o signo não consiste na representação actual, mas no poder de representar. E para primeira prova da premissa menor responde-se que o signo é dito ser um instrumento da potência, do mesmo m odo que é dito ser um instrumento do objecto e substituto dele para se manifestar a si à potência. Com efeito, o signo não é instrumento da potência do ponto de vista da eliciação do acto cognitivo, quase como se a potência eliciasse o seu acto por meio do signo, mas do ponto de vista da representação de um objecto, enquanto o objecto
135
é manifestado por meio do signo, e assim um signo é mais principalmente subordinado ao objecto enquanto é aquilo a favor de que substitui na representação à potência. Para segunda prova da menor responde-se que o fim do signo é manifestar um objecto à potência, manifestação essa a partir de uma subordinação ao próprio objecto como a um principal, a favor do qual o signo sub-roga e substitui ao representar. Contudo, o que a partir da subordinação e substituição por outra coisa diz respeito a algum fim, diz respeito àquilo a favor de que substitui mais principalmente do que àquilo a que, ou fim ao qual tende, porque diz respeito a este último como fim-efeito, enquanto diz respeito àquilo pelo que é substituído como fim-por-causa-do-qual; pois é pela subordinação a este último que diz respeito ao primeiro como seu efeito. Para confirmação responde-se que se a divisão do signo em formal e instrumental é essencial, não se toma da ordem para a potência, mas das diversas ordens para o objecto. Com efeito, os diversos modos de afectar a potência, como objecto primeiro conhecido ou como conceito intrinsecamente informante, redundam nas diversas razões de manifestar e representar o objecto, porque a própria manifestação e representação é um tipo de movimento. E assim o. modo de afectar a potência, que faz variar o movimento, redunda na variedade das representações. Contudo, as diversas representações dizem respeito ao objecto sob diversas formalidades ou razões formais do representável, porque a representação e o representável devem ser proporcionais, e variando um, varia também o outro, e assim os signos se tomam formalmente diversificados por razão do objecto e do representável, embora materialmente possam ser signos do mesmo objecto. Um segundo argumento, para defender que o signo natural é alguma coisa relativa de razão, pode ser provado porque mesmo da parte do signo enquanto diz respeito ao objecto e na ordem para aquele objecto não existe uma relação real. Em primeiro lugar, quando o objecto não existe, apesar disso o signo não é formalmente menos signo a respeito desse objecto, porque o representa em acto à própria potência, e então a relação para o objecto não existente não é real. Segundo, quando o signo representa algum ente de razão, como o conceito de quimera, ou a efígie e imagem exterior daquela. Terceiro, a relação do signo natural com o seu objecto não é real, porque a relação do signo difere da relação de imagem só por isto — que o signo toca o objecto como o que é representado à potência, a imagem, porém, representa o exemplar como devendo ser imitado por si. Mas no objecto ser representável à potência não é alguma coisa real,
136
mas de razão, porque o objecto nào se ordena à potência cognoscente por uma ordenação e relação real, mas como manifestável, e assim é como outros objectos, que não dizem respeito à potência por uma relação mútua. Logo, o signo é atingido pelo objecto sob uma certa formalidade de razão, e portanto não por uma relação real. Finalmente, entre os signos naturais, a relação do signo com o objecto não é real, porque o próprio exercício de representar ou significar não põe nada de real no objecto. Com efeito, não se produz uma mudança no objecto pelo facto de ser representado pelo signo; produz-se porém uma mudança real na potência quando é movida de novo pelo signo. Logo, a respeito do objecto, a relação de signo não é real, porque nào pode ser mais real o poder de significar do que o seu acto ou exercício. Para a primeira prova responde-se que o signo, não existindo o objecto, não permanece signo formalmente, mas fundamentalmente, porque cessa a razão formal e actual de substituição, não existindo o objecto pelo qual substitui. Mas a possibilidade de se manifestar a si próprio, assim como o objecto ausente, permanece, porque permanece a proporção ou conexão para esse objecto, a qual pode fundar a relação de signo; e em virtude desta proporção ou conexão é feita a representação, não em virtude da relação pela qual o signo é formalmente constituído na razão do substituído. Para a segunda prova diz-se que o conceito de ente de razão, ou imagem da coisa quimérica, representa a coisa impossível ao modo das coisas possíveis, assim como a quimera é representada pelas suas partes, as quais são alguma coisa real, como a cabeça do leão, o corpo da cabra e a cauda da serpente, embora tal conjunção não exista na realidade. E para isto mesmo, que em tal objecto é pura quimera e ente de razão, não é dada a relação real do signo natural, mas pode ser dado um elemento manifestativo e representativo real, ou seja, a espécie representando o ente de razão à semelhança do ente real, mas este manifestativo não requer uma relação real, nem exprime a formalidade do signo, mas a razão transcendental do representativo. Para a terceira prova responde-se que o referente, enquanto objecto manifestável à potência, é em si alguma coisa de real, embora não seja referido por uma relação mútua nem à potência, à qual é representável, nem ao signo, pelo qual é representável. Na verdade, porque o objecto na sua ordem está menos dependente da potência que a potência dele próprio, não tem como objecto uma relação recíproca para a potência. Donde, assim como o conhecimento e a potência dizem respeito ao objecto por uma relação real do terceiro gênero, embora o objecto não tenha uma relação real com a potência,
137
porque é suficiente para este tipo de relação a realidade do termo no ser da coisa, e não na formalidade do termo; assim, a relação do signo com o mesmo objecto com o significável à potência é real, porque na ordem do ser real esse objecto é real, embora a relação do objecto com a potência ou com o próprio signo não seja real. Para última prova responde-se que o exercício do signo não põe coisa alguma no objecto, visto que o signo antes respeita e depende do objecto, enquanto substituinte a favor desse objecto. Mas se o signo alterasse o objecto realmente, este diria respeito ao signo, pelo qual seria mudado, realmente. Donde do facto de que o signo não altere o objecto realmente, não se segue que o signo não diga respeito ao objecto realmente, mas que o objecto não se relacione ao signo realmente, o que sem objecções concedemos. Mas importava provar que o signo não é alterado ou dependente realmente do objecto que substitui. Em relação à potência, contudo, o signo move-a realmente objectivamente, não agindo eficientemente, como abaixo se diz. Mas tal moção pertence ao signo não enquanto signo formalmente, mas como objecto; logo, mover substituindo a favor de outro é próprio do acto do signo, ou significar; mas assim o signo importa a relação de um substituto para o objecto, e então enquanto é signo, não diz respeito directamente à potência movida, mas ao objecto, a favor do. qual substitui para mover a potência. Terceiro argumento: o signo natural e o convencional coincidem univocamente na razão do signo. Logo, não pode um ser real, e o outro de razão, porque nada é unívoco para relações reais e de razão, nem são ambos, signo natural e convencional, alguma coisa de real, visto que é sabido que o signo convencional é alguma coisa de razão; logo, ambos são alguma coisa de razão. Prova-se a antecedente: a razão de um objecto ou cognoscível é unívoca no ente real e no de razão, porque pertence a tipos unívocos de conhecimento e à mesma potência cognitiva. Com efeito, a Lógica, que trata do ente de razão, e a Metafísica, que trata do ente real, são ciências unívocas. Logo, os objectos das mesmas são univocamente objectos e coisas cognoscíveis. Do mesmo m odo o signo natural e o convencional são signos univocamente, visto que a razão do signo e do significável é da ordem do objecto e do cognoscível, a favor do qual o signo substitui. Isto confirma-se por aquele vulgar argumento de que, pelo facto de aquilo que é comum ao signo ser de determinada espécie de ente ou relação, o signo deve ser posto em determinada categoria ou gênero, mas não pode ser abstraído do real e de razão. Portanto na própria categoria de relação não é claro em qual dos três tipos essenciais o signo deve ser posto. .Na verdade, nem sempre é posto
138
na ordem da medida e do mensurado, visto que algumas vezes o signo não é aperfeiçoado pelo objecto, mas o contrário, como sucede quando uma causa é signo do causado, como a nuvem é signo da chuva; nem também facilmente se mostra entre os signos que são efeito, por exem plo de que m odo o fumo é medido pelo fogo, ou também de que m odo na imagem se distinguem as duas relações de medida, uma na razão da imagem, outra na razão do signo, se na verdade estas razões são diversas. Responde-se ser verdade que a razão do cognoscível e do objecto no ente real e de razão pode ser unívoca; com efeito, uma coisa são as divisões do ente na ordem das coisas reais, outra bem diferente são as divisões na ordem do cognoscível, como bem ensina Caetano no Com entário à Suma Teológica, I, q. 1, art. 3. E assim a razão do cognoscível não é a razão do ente formalmente, mas só é ente pressupostamente; pois o verdadeiro é uma afecção do ente, e assim formalmente não é ente, mas consequente para o ente e pressu postamente ente; mas o verdadeiro é o mesmo que o cognoscível. Donde pode muito bem ser que algum ente incapaz de existência real seja capaz de verdade, não como sujeito, mas com o objecto, enquanto não tem em si a entitatividade que enquanto sujeito funda a verdade e a cognoscibilidade, mas tem o que enquanto objecto pode ser conhecido à semelhança do ente real, e assim estar objectivamente no intelecto enquanto verdadeiro. Donde, embora entitativamente, o ente real e o ente de razão sejam, todavia, análogos objectivamente, visto que um à semelhança de outro é representado, mesmo entes que não são unívocos entitativamente podem coincidir na razão unívoca do objecto; como Deus e a criatura, substância e acidente na razão de um cognoscível metafísico, ou de alguma coisa inteligível pelo intelecto. A razão do signo, porque não consiste absolutamente na razão do objecto, mas na substituição relativamente a outro, que é suposto ser objecto ou referente, para que seja representado à potência não pertence à ordem do cognoscível absolutamente, mas relativa e ministerialmente; e para este papel, a razão do signo reveste-se de alguma coisa da ordem entitativa, ou seja, como é relação e como traz a ordem do cognoscível para a ordem d o relativo, e por este papel a relação do signo natural, que é real, não coincide univocamente com a relação do signo convencional, que é de razão. A resposta à questão vem confirmada no capítulo precedente, próximo do fim. À dificuldade acrescentada acerca da espécie, na qual se põe o signo na categoria de relação, responde-se que pertence ao gênero da medida e do mensurado. Pois o objecto funciona sempre como principal coisa a ser representada, e o signo como servindo e
139
ministrando nesta ordem, e assim o signo diz respeito ao seu principal como medida extrínseca na ordem do representável, e por aproximação àquela medida, o signo é tão mais perfeito quanto melhor representa. E assim, o fumo respeita ao fogo como medida na razão do representável, não na ordem do ente. E a imagem como imagem respeita ao exemplar como medida na imitação e derivação dele próprio como de um princípio, mas na razão do signo uma imagem representa o exemplar enquanto medida na ordem do representável e manifestável â potência, relações essas que são diversas. Embora relações de causa ou efeito sejam encontradas nos signos — sejam eficientes ou formais relativamente ao seu objecto — tais relações não são formalmente a própria relação do signo, mas alguma coisa pressuposta ou concomitante, tornando este signo proporcionado a um objecto, de preferência a outro, mas a relação do signo propriamente dita é para um objecto como coisa representável à potência, não como efeito ou causa.
Capítulo m
SE É A MESMA A RELAÇÃO DO SIGNO COM O OBJECTO E COM A POTÊNCIA
É certo que nos signos externos, e que primeiramente se conhecem para que conduzam ao objecto, se encontra uma ordem para a potência, tal como sucede com alguns objectos conhecidos e terminando a cognição, uma vez que cíaramente se vê que tais signos são conhecidos como objectos, assim como o fumo primeiramente se vê como objecto, e depois pelo conhecimento de si conduz ao referente. Donde a relação ou ordem do signo para a potência, na razão de um objecto, deve ser distinta da ordem ou relação na razão do signo, visto que, nesta razão de um objecto, o signo coincide com outros objectos que não são signos, e respeita objectivamente à potência do mesmo modo que aqueles outros objectos. Logo, para que um signo externo não só puramente objectivamente mas também significativamente respeite à potência, resta inquirir se aquela mesma relação pela qual o signo diz respeito ao objecto, e em ordem para o qual se reveste da razão do signo, é a mesma relação pela qual o signo também diz respeito à potência, à qual o objecto deve ser manifestado pelo signo; ou se um signo externo tem uma relação para o objecto já purificada e desligada da relação à potência, potência que o signo, na razão de um objecto, respeita por uma segunda relação, concorrendo uma e outra relação para constituir a razão do signo; ou até se na própria razão do signo, além da razão do objecto, pode encontrar-se uma dupla relação, uma para a potência e outra para o objecto. E a razão da dificuldade surge porque, por um lado o signo não diz respeito ao objecto apenas em si, mas numa ordem para a potência,
141
já que na definição de signo se inclui uma ordem para essa potência, ou seja, que o signo é manifestativo à potência. Se, portanto, a razão do signo exprime essa relação para a potência; ou o signo diz respeito ao objecto significado por uma única e mesma relação, e surgem as dificuldades que abaixo devem ser tratadas, porque o objecto e a potência são termos totalmente diversos, visto que em relação à potência só existe uma relação de razão: em relação ao objecto existe a ordem do mensurado para a medida, em relação à potência, pelo contrário, a potência é mensurável pelo próprio signo externo como por um objecto conhecido; ou são diversas as relações do signo para a potência e para o objecto, e assim o signo não estará na categoria de relação, porque na razão do signo não existe uma única relação, mas uma pluralidade de relações. Seja todavia a conclusão: se a p otência e o objecto são considerados com o termos directam ente atingidos p ela relação, necessariamente exigem um a dupla relação no signo, mas deste modo um signo externo d iz respeito à p otên cia directam ente com o objecto, não form alm ente com o signo. Se porém se considera a p otência com o term o tocado em oblíquo, çntão o objecto e a p otência são atingidos pela ú n ica relação do signo, e esta relação é a p róp ria e fo rm a l razão do signo. Assim, uma relação existente, una e a mesma, pode ser terminada. para dois termos, um directamente, outro obliquamente, o que é simplesmente ter apenas um termo na razão formal do termo. Não coincidem nesta conclusão muitos dos autores mais recentes. Alguns, com efeito, julgam consistir o signo em duas relações concorrendo igualmente, uma para o objecto, outra para a potência. Outros consideram no signo, enquanto distinto do objecto, duas relações, ao objecto e à potência, que embora não constituindo igualmente a razão do signo, são contudo intrínseca e essencialmente requeridas para aquele. Mas de que modo uma destas relações se relaciona com a outra, se como gênero, ou como diferença, ou como propriedade, ou como modo, torna-se-lhes dificílimo explicar. Outros fundem a potência e o objecto, como se fossem partes materiais, num termo formal integral e único. Outros autores negam que o signo com o signo diga respeito à potência, e há ainda outros que negam que diga respeito ao objecto, sustentando que toda a essência do signo consiste numa certa apreensibilidade pela potência, como meio para conhecer o outro. Embora estas últimas opiniões sejam geralmente rejeitadas, porque a definição de signo postula o objecto, que é manifestado, e a potência, à qual é representado; contudo alguns concedem pertencer à intrínseca razão do signo apenas ser .capaz de terminar a potência como meio pelo qual Ou no qual é conhecido o objecto, mas que não pertence à natureza intrínseca do
142
signo ser referido à potência, nem por ordem real ou transcendental, nem por uma relação de razão, embora do ponto de vista do nosso modo de conceber o signo não seja apreendido sem tal ordem. Todavia, a conclusão posta é provada. £ quanto à primeira parte, que a potência e o objecto como termo directamente atingido postulam uma dupla relação, assim é, porque a potência não é respeitada directamente excepto pelo seu próprio objecto, seja movente ou terminante; com efeito a potência diz directamente respeito ao objecto com o objecto, contudo o signo não exprime directamente a razão de um objecto, mas do substituinte a favor do objecto e do meio entre o objecto e a potência, logo, o signo diz directamente respeito ao objecto a favor do qual se substitui, enquanto é signo. Logo, como directamente diz respeito à potência, é necessário que seja tomado na razão do objecto, e não na razão do signo; e assim atinge directamente a potência por uma outra relação que não a relação do signo, que é ser várias relações. Em suma: uma relação directa de um objecto à potência e orientando-se directamente para a potência, e a relação de um objecto com o signo procedem de modos opostos, porque a potência é movível pelo signo — pois é movida como por um representante do objecto — , mas o próprio objecto não é movível pelo signo, mas manifestável, ou é aquilo a favor de que o signo faz as vezes na representação. Logo, se estas relações são tomadas directamente, dizem respeito a termos distintos mesmo formalmente na razão do termo. E não pode ser dito que o signo é relativo ao objecto -e não à potência, mas apenas termina a potência. Com efeito, repugna inteleccionar que o signo se refira ao objecto, se é desligado da potência e concebido sem nenhuma ordem para ela, porque o signo enquanto diz respeito ao objecto, traz e apresenta aquele à potência. Logo, esta relação com o objecto com o possibilidade de manifestar é contraditória com estar desligado da potência. Se contudo o signo não existe absolutamente em relação à potência, mas dependente e ordenadamente para ela, tem, por consequência, uma relação para com essa potência. Isto é confirmado porque embora um objecto a respeito da potência não seja constituído essencialmente numa relação para aquela, antes a potência dependendo do objecto, contudo o signo, que faz as vezes do objecto representando e exibindo-se à potência, necessaria mente inclui esta relação; tanto porque a substituição a favor de outro sempre está numa ordem para alguma coisa, e com o o signo substitui e faz as vezes do objecto numa ordem para a função de representar à potência, o signo deve necessariamente exprimir uma
ordem para a potência; tanto porque representar é fazer um objecto presente à potência, logo se o signo é meio e substituto do objecto na representação, necessariamente envolve uma ordem para aquilo que representa ou faz presente, e isso é a potência. A segunda parte da conclusão é assim provada: a relação do signo com o objecto é uma relação ao modo da representação ou da sua aplicação à potência, logo, o signo deve dizer respeito ao objecto como termo directo e «que» de si respeite, respeito que também atinja a potência em oblíquo e como termo -para o qual». Repugna, com efeito, nestas relações, as quais existem por modo de substituir e representar, que digam respeito àquilo cujas vezes fazem, e não àquilo em ordem para que se substituem, porque é ao substituir-se ou fazer as vezes de alguma coisa segundo alguma determinada razão e em ordem a algum determinado fim, que uma coisa faz as vezes de outra; de outro modo aquela substituição não seria determinada, porque é determinada pelo fim para o qual é feita. Logo, se a relação de representar e de fazer as vezes de alguma pessoa é determinada, importa que diga respeito àquela pessoa, e que também atinja isto, por causa do que e em ordem ao que se substitui; com efeito, é a partir desse momento que é uma substituição determinada. E assim, como o signo faz as vezes e representa o ' objecto substituindo-se a favor daquele determinadamente (para que tome presente o objecto à potência), necessariamente nas próprias entranhas e íntima razão de tais substituições e representações do objecto, como é uma substituição e representação determinada, é envolvida alguma relação para a potência, porque é para isto que o signo se substitui, para que represente à potência. Qualquer que seja o modo como a mesma relação é dita atingir directamente o objecto e obliquamente a potência, omissas muitas e variadas explicações, a resposta mais adequada parece ser que o signo diz respeito à potência obliquamente enquanto o ser manifestável à potência é incluído no próprio objecto. E assim, como o objecto não é aquilo a que se diz respeito como sendo alguma coisa de absolutamente em si ou segundo alguma ordem, mas como manifestável à potência, necessariamente a própria potência é tocada obliquamente por aquela relação, a qual atinge o objecto não por subsistir nele precisamente como é em si, mas enquanto é manifestável à potência; e assim de alguma maneira a relação do signo atinge a potência na razão de alguma coisa manifestável a outro, não por separadamente atingir a potência, mas por atingir aquilo que é .manifestável à potência, assim como, por exemplo, a virtude da religião diz respeito, pelo seu objecto formgl, ao culto como algo para ser
144
oferecido a Deus, não que diga respeito a Deus directamente, pois então seria uma virtude teológica, antes dizendo respeito ao culto directamente e a Deus indirectamente, enquanto Deus está contido no culto como termo para o qual o culto é oferecido, e a religião diz respeito ao culto como estando sob aquele termo, e não absolutamente ou sob alguma outra consideração. O mesmo se passa com a ordem para o bem, que desejo ao amigo na amizade; pois essa ordem não é terminada para o bem querido absolutamente, mas para um bem querido como atribuível ao amigo, e o amigo como termo daquele bem querido para alguém termina a mesma relação, embora não como objecto directo, mas como incluído no objecto directo, pelo facto de esse objecto directo, o bem desejado, ser respeitado enquanto relativo a esta pessoa e não absolutamente. É verdade que para que o signo diga respeito ao objecto deste modo, isto é, como manifestável à potência, é essencialmente pressuposto que o próprio signo diga respeito à potência por uma outra relação, ou enquanto objecto apreensível — se for signo instrumental — ou enquanto forma constituinte da apreensão — se for signo formal — , assim servindo para chegar ao conhecimento de outro como signo formal ou instrumental. Contudo esta relação do signo para a potência, como dissemos no início do capítulo, não é signo enquanto signo formalmente, mas enquanto objecto ou forma; pressupostamente todavia, esta relação do signo para a potência é requerida, porque um signo externo também é um objecto que move a potência, e a não ser que a mova como objecto, não se manifestará como signo, mas formalmente uma relação é distinguida da outra. E embora por virtude da relação para o objecto, na qual é incluída obliquamente a potência à qual esse objecto é manifestável, um signo não exercesse representação, a não ser que a moção da potência fosse conjugada com o signo enquanto objecto movente, contudo é devido àquele dizer respeito ao objecto que esse movimento de estimulação é significativo, isto é, representando e substituindo-se a favor do outro que significa, e não principalmente a favor de si. Disto deduz-se que a apreensibilidade do signo não é a própria razão fundante da relação do signo imediata e formalmente, porque ser apreensível ou cognoscível é a razão do objecto enquanto objecto, a qual só pressupostamente é requerida para a razão do signo; mas que o fundamento da relação do signo é a própria razão do meio que o signo tem para o significado como manifestável à potência, substituindo-se por aquele significado na razão de mover e representar. Muito menos é o conhecido ou apreendido no signo, que alguns chamam apreensibilidade próxima, que funda ou completa a razão 10
145
do signo, porque ser conhecido não pertence à razão do signo, mas ao seu exercício (com efeito, quando em acto representa, em acto é conhecido), não enquanto é representativo.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Prim eiro, é argum entado: a relação do signo com o objecto no signo natural é real, mas com a potência, entre os mesmos signos, é de razão, logo não pode haver uma única relação entre signo, objecto e potência cognoscente. A antecedente, para a primeira parte do problema, consta do capítulo precedente. A antecedente para a segunda prova-se porque a relação com a potência é a relação do signo, enquanto tal signo é apreensível pela potência. Mas a relação de algo apreensível ou cognoscível com a potência cognoscente é uma relação de razão, mesmo se esse algo é apreensível como signo, porque ser apreensível ou apreendido, seja no signo seja no objecto, nada de real põe no próprio; com efeito, a cognição ou apreensão só existe realmente na potência, mas na coisa apreendida, qualquer que ela seja, não põe nada de real. O mesmo argumento é feito a partir do diverso m odo e espécie' da relação do signo com a potência e da relação do signo com o objecto: pois a relação do signo com o objecto é do mensurado para a medida, porque o objecto é o principal, pelo qual o signo substitui e faz as vezes, como frequentemente já foi dito. Mas a relação do signo com a potência é uma relação de medida para 0 mensurado. Com efeito, o signo diz respeito à potência por uma relação não mútua, porque o signo tem-se da parte do objecto representado, e não funciona com o mensurado pela potência, logo como medindo a potência; pois a potência não mede a coisa apreendida, mas é medida por aquela, porque é aperfeiçoada por essa coisa apreendida. A resposta a estes argumentos, e outros semelhantes, que são multiplicados do mesmo modo, é que provam isto que a princípio dissemos, a saber, que a relação com a potência da parte do signo como objecto da potência, e a relação com o objecto como para os termos directos, não é uma relação única, mas múltipla. Contudo, nenhuma das duas é a relação do signo formalmente, mas a relação que directamente diz respeito à potência é a relação do objecto sob a razão e a formalidade de um objecto, enquanto a relação que directamente diz respeito à coisa significada está na razão da causa, ou do efeito, ou de outra razão semelhante; donde a coisa que é signo é determinada para que seja alguma coisa do objecto significado, e assim representa aquele objecto preferencialmente a outro.
146
Além disso, a própria relação do signo, formalissimamente falando, enquanto é signo, respeita à potência obliquamente, não enquanto o signo é apreensível pela potência e objecto daquela, mas enquanto o próprio objecto é manifestável à potência e atingindo o objecto ou substituindo-se a favor dele não absolutamente, mas como manifestável à potência deste modo, está envolvida uma potência cognitiva, virtual e indirectamente. Donde, embora a relação do objecto, ou apreensível, com a potência, tomada directamente e ao m odo de um objecto, seja de razão, contudo, essa relação com o objecto, ainda que como manifestável à potência, pode ser real, porque, no objecto, ser significável e representável à potência é alguma coisa de real, embora ele não diga respeito à potência realmente; pois o m odo como um objecto respeita à potência é uma coisa, outra bem diferente é o que, num objecto, é ser manifestável à potência. Ser manifestável e objectificável é alguma coisa de real, sendo aquilo de que depende a potência e pelo que é especificada; por outro lado, é pelo facto de um objecto ser assim real que não depende da potência por uma relação real. Donde, como o signo, sob a formalidade do signo, não diz respeito à potência directamente —- pois isto é a formalidade do objecto — mas diz respeito à coisa significável ou manifestável à potência, pelo que a potência, enquanto indirectamente inclusa naquele objecto manifestável, é atingida por uma relação de signo real, porque a potência não é respeitada separadamente, mas enquanto incluída no que é real no objecto como algo manifestável à potência; onde o todo que è atingido em acto e formalmente é real, e a potência entra aí apenas como algo conotado e indirectamente. Por exemplo, uma ciência que trata das cores enquanto objecto da visão, diz respeito às cores de forma real enquanto especificativas dela própria, embora as próprias cores incluam virtualmente uma ordem para a potência para a qual são objectos, ordem essa que é de razão nas próprias cores; todavia, a ordem da ciência para tais objectos não é de razão. Mas aquela relação pela qual um signo diz directa mente respeito à potência cognitiva, movendo-a e estimulando-a para conhecer o próprio signo, assim como o objecto cujas vezes faz, é uma relação de razão, mas distinta da relação do signo, pela qual o signo diz respeito ao objecto, porque é a relação de um objecto, não formalmente a relação de um signo enquanto signo. E assim é patente que a resposta ao segundo argumento é que procede da relação pela qual o signo directa e formalmente diz respeito à potência, que é a relação de medida ou de objecto mensurante, não da relação pela qual o signo diz respeito ao objecto enquanto esse referente é um objecto manifestável à potência, onde a potência é atingida apenas obliqua e virtualmente, não por um respeito de 147
razão. E assim o signo não é uma medida da potência, mas um instrumento do objecto para a potência. Segundo, é argum entado: estes termos, o objecto e a potência, são distintos mesmo na formalidade do termo, porque um ê termo enquanto algo que é atingido directamente, enquanto o outro é termo como alguma coisa «para a qual», logo distinguem-se mais do que materialmente. Com efeito, quando o signo tem vários objectos inadequados, então é relacionado com eles com o com vários termos materialmente diversos, e logo potência e objecto são distinguidos na razão dos termos mais do que materialmente. Isto é confirmado porque é da ordem para a potência que os signos são distinguidos especificamente, como claramente se vê nos signos formal e instrumental, que são de diversa espécie no gênero do signo, e não se distinguem do ponto de vista do significado; pois o conceito de fogo, por exemplo, pode representar a mesma coisa que o fumo, que é signo de fogo, mas os conceitos de fogo e fumo são distinguidos no seu m odo de funcionamento relativamente à potência, o conceito informando e o fumo objectificando. Logo, a ordem para a potência existe directa e não indirectamente no signo, uma vez que essa ordem especifica e distingue diferentes tipos de signo. Este argumento pode também ser feito de outra maneira, porque os signos podem ser divididos em diversas espécies ou tipos segundo a ordem para o objecto, quando a ordem para a potência permanece invariável; logo isto é signo de que existem relações distintas, uma para a potência, outra para o objecto, pois de outro modo, variando uma, variaria a outra. A antecedente é de facto verdadeira, pois diversos conceitos são variados pelos diversos objectos representados, enquanto a relação à potência cognitiva permanece da mesma razão em todos. Confirma-se em segundo lugar: a natureza do signo e a natureza da imagem diferem nisto, que uma imagem não diz respeito à potência, à qual representaria, mas ao exemplar ou ideia do qual é imitação. Pois, mesmo se uma imagem representa à potência, isso é acidental à imagem. O signo, contudo, diz respeito essencialmente à potência como aquilo a que representa. Logo, a relação com a potência é intrínseca ao signo e constitutiva dele, pois essa relação distingue essencialmente o signo da imagem. Finalmente, uma terceira confirmação surge porque a relação com a potência permanece no signo, mesmo depois de destruída a relação para o objecto, como é claro quando o objecto não existe, e contudo o signo conduz a potência para a apercepção daquele tal como antes. Logo, o signo diz respeito à potência na razão de conduzir e
148
de significar tal como antes, quando o objecto ainda existia, e assim a relação com a potência permanece. A resposta ao argumento principal é que o objecto, que é representado, e a potência, à qual é feita a representação, não são dois termos adequados e distintos na razão do termo, mas integram um termo estabelecido de algo directo e de algo indirecto. Assim como, por exemplo, na religião, o culto, que é oferecido, e Deus, ao qual é oferecido, não são dois termos adequados, mas um termo íntegro e completo da religião. E acreditar em Deus e Deus não são dois termos, mas um termo da fé, enquanto assim é atingido um termo, que termina não absolutamente e segundo ele próprio, mas como modificado e respectiva ou conotativamente se orientando para algum outro, assim como o objecto é atingido com o representável à potência. Para primeira confirmação responde-se que a divisão do signo em formal e instrumental é uma divisão por diversas espécies, as quais são directamente tomadas, não apenas a partir das diversas relações com a potência, mas também das diversas relações com o objecto, como representável à potência de modos diversos. Com efeito, qualquer objecto é representável por um duplo m eio repre sentativo, ou seja, um meio «no qual- e un\ meio «pelo qual». E, de m odo semelhante, o primeiro funda a representação formal actuando informativamente no interior da potência, o segundo funda a 'representação instrumental movendo a potência a partir d o exterior. Donde no próprio objecto representável se encontram diversas razões ou fundamentos para as relações que terminam a partir destas diversas representações ou modos de representar nos signos, embora a coisa representada possa materialmente ser a mesma. E, de m odo seme lhante, esta divisão dos signos em instrumental e formal, pressupõe nos próprios signos diversos modos de mover e de representar à potência, isto é , como objectos externos ou como formas internas; contudo isto é relacionado pressupostamente à razão do signo, enquanto a formalíssima razão do signo consiste em ser algo de substituto a favor do objecto enquanto representável de tal ou tal modo. E disto é claro, para a outra parte da primeira confirmação, que a ordem para a potência, embora seja da mesma razão em diversos objectos, contudo não requer que a potência seja envolvida por uma relação distinta, porque pode bem ser que as relações do signo sejam variadas especificamente pela diversidade dos objectos representáveis, embora convenham ou não difiram do ponto de vista dá conotação indirectamente inclusa, assim como, por exemplo, a fé e a opinião convêm na obscuridade, não na razão formal especificante.
149
Para segunda confirmação, responde-se que porque o signo diz respeito ao objecto precisamente como representável à potência, porque faz as suas vezes, sendo-lhe consequentemente inferior, enquanto a imagem diz respeito ao seu exemplar como imitável e como princípio do qual é originada e expressa, não podendo, assim, ser muito diferente desse exemplar, por esta razão, do ponto de vista do próprio termo com o qual directamente se relacionam, signo e imagem têm distintas formalidades ou razões formais de terminar, embora uma, o signo, siga indirectamente uma ordem para a potência no próprio objecto, que toca, e a outra, a imagem, não. E assim a razão formal distinguindo num caso é a razão do objecto com o tal, e no outro caso é a razão de um exemplar com o tal, e não, em ambos os casos, a própria potência à qual é feita a representação. Para terceira confirmação responde-se que, destruída a ordem para o objecto, é destruída a ordem para a potência, que no próprio objecto oblíqua e conotativamente se incluía. Contudo, porque esta ordem para o objecto não existente permanece no signo fundamental e virtualmente, aquela ordem para a potência, que vai com o objecto, permanece também fundamentalmente. De m odo formal, todavia, o signo pode reter em si a razão do objecto movente ou da forma representante, cuja razão ê outra relação diferente da relação do. signo, como foi dito.
C apítulo IV
DE QUE MODO SÃO OS OBJECTOS DIVIDIDOS EM MOTIVOS E TERMINATIVOS
Sejam supostas neste capítulo as definições destes objectos, moti vos e terminativos, que no primeiro livro das Súmulas transmitimos. E aquelas supostas... Seja a primeira conclusão: o objecto em geral, enquanto abstraído 'd e ser m otivo e term inativo, consiste nisto, que seja algum a coisa extrínseca, da qu a l é retirada e depende a razão intrínseca e a espécie de algum a potên cia ou acto; e isto é reduzido à categoria de um a causa fo rm a l extrínseca não causando existência, mas especificação. Para que esta conclusão seja entendida, advertimos de Caetano, no seu Com entário à Suma Teológica, I, q. 77, art. 3, que algumas coisas são inteiramente absolutas, não dependendo de nada extrínseco a elas na sua constituição e especificação, tal com o a substância, a quantidade, etc. Outras são inteiramente relativas, aquelas que têm todo o seu ser para outro e daquele dependem com o de um puro termo. Outras são médias entre estas, as que em si têm alguma essência absoluta, para que tenham alguma outra coisa a que respeitar e serem referidas: contudo na sua constituição e especificação dependem de alguma coisa extrínseca, não para se referir, mas para agir ou causar ou alcançar alguma coisa. E é deste m odo médio que as potências e os actos e os hábitos funcionam a respeito das coisas que atingem, e são ditos terem uma ordem transcendental para aquelas. E nota bem que, uma coisa é alguma coisa ser absoluta ou independente de alguma coisa extrínseca na sua especificação, mas
151
outra bem diferente é ser assim na sua existência. Com efeito, existindo, nenhuma coisa é absoluta ou independente de algo extrínseco, excepto somente Deus, que é de si, enquanto todas as restantes coisas são de Deus. Mas na presente questão falamos da dependência de uma coisa, na sua especificação, de algo extrínseco, e é deste m odo que um objecto funciona relativamente à potência. Pois um objecto não existe relativamente à potência ou acto como produzindo ou influenciando a existência; com efeito, isto não pertence ao objecto, mas a alguma coisa que é producente. Contudo d o objecto depende a especificação do acto ou da potência segundo ela própria, mesmo abstraindo da existência do objecto. Finalmente, um objecto, embora seja uma causa formal extrínseca, difere da ideia ou causa exemplar, tanto porque a ideia é aquilo à semelhança do que o objecto ideado é feito, sendo que o objecto, contudo, não é alguma coisa em cuja semelhança a potência ou o seu acto existe; como porque uma ideia é dita causa exemplar ao modo de origem, o objecto, contudo, não sendo princípio de origem a respeito da potência ou d o seu acto; e ainda, finalmente, porque a ideia é causa exemplar eficaz, e por esta parte também causa a existência, com efeito, influindo para formar a coisa singular em acto, e estando, enquanto tal, a ideia no intelecto prático, que se estende à obra e à existência de um efeito; o objecto, contudo, não m ove a potência ou acto no que toca ao exercício ou eficiência, mas só no que toca ao que é formal e à especificação. Assim, a conclusão posta é retirada de S. Tomás na Sum a Teoló gica, I-II, q. 9, art. 1, onde diz que -um acto é especificado segundo a razão do objecto», e que «um objecto m ove a potência determinan do-a ao m odo de um princípio formal, através do qual uma acção é especificada na ordem das coisas naturais». E em I, q. 77, art. 3, S. Tomás diz que -um objecto é relacionado com a potência passiva com o causa e princípio movente», «mas com o acto ou potência activa é relacionado com o termo ou fim». «Destas duas», diz, «uma acção recebe a sua espécie, nomeadamente de um princípio, ou de um fim e termo.» Logo, julga S. Tomás que os objectos das potências activa e passiva coincidem nisto, que é especificarem um acto. E finalmente, no seu comentário ao Livro II do tratado de Aristóteles D e A nim a, lect. 6, próximo do fim: «É manifesto», diz, «que todo o objecto é relacionado com uma operação da alma, ou com o activo ou com o fim; mas a operação é especificada de ambos.» Onde a palavra «todo» expressa aqui a razão universal do objecto. E a razão disto é que embora as potências activa e passiva sejam fundadas em razões tão diversas como diversos são o acto e a potência, porque uma é para agir e outra para receber, com o optimamente
152
ensina S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 25, art. 1, contudo os objectos de ambas coincidem nisto, que é determinar ou aperfeiçoar extrinsecamente a potência ou o acto dela. Pois a respeito da potência passiva, é evidente que o objecto funciona aperfeiçoando-a extrinseca mente, pois reduz aquela de potência a acto funcionando para ela como princípio do seu acto, que pertence à actualidade e perfeição; contudo, para a potência activa, um objecto é relacionado como termo e fim. Mas embora o que é puramente termo não aperfeiçoe, tal com o sucede no caso dos relativos, porque a relação não tende agindo, mas puramente dizendo respeito a, e do mesmo modo, o que é puramente efeito, não aperfeiçoa, mas é apenas aperfeiçoado, tal como sucede com as criaturas a respeito de Deus, que são pro duzidas por Deus de tal m odo que a sua acção não depende em si da sua terminação; contudo, nos actos criados a terminação dá perfeição aos actos, porque se não fossem terminados, não seriam perfeitos nem completos, mas com o se estivessem em transição e tendência; logo, são aperfeiçoados pela própria determinação para a qual tendem. E assim S. Tomás diz em D e Potentia, q. 7, art. 10, que no próprio efeito ou afecção é percebida uma espécie de bem e de perfeição do movente, como no caso dos agentes unívocos, que pelos seus efeitos perpetuam uma espécie de ser, e no caso de outros agentes, que movem, agem ou causam apenas enquanto são movidos; «pois do seu próprio movimento, pelo qual são afectados, são ordenados para produzir efeitos. E semelhantemente em todos os casos onde qualquer bem provém da causa para o efeito». Assim S. Tomás. Desta doutrina é evidente de que m odo o -o b je c to terminativo pode ser perfectibilizador da potência ou acção. Segunda conclusão: no objecto m otivo, enquanto se distingue do term inativo, salva-se a verdadeira razão do objecto. Esta conclusão está contra alguns que julgam que a razão do objecto é preservada apenas no objecto terminativo, mas que excluem o objecto motivo da razão do objecto, porque exprime a produção; o que pertence ao objecto enquanto objecto, contudo, não é produzir mas especificar. Mas um magno equívoco é cometido no uso do termo «motivo», aplicando-o apenas à causa eficiente, porque deve ser aplicado também a outro tipo de causas, assim com o um fim, por exemplo, ê dito mover, ou um objecto proposto pela vontade m ove a vontade, e o exemplar move para a sua imitação. Logo, seguindo este raciocínio, distinguimos entre o que é motivo pelo m odo do exercício, e o que o é pelo modo da especificação. E aquele primeiro m odo pertence à causa eficiente, o segundo ao objecto formal. E isto é evidente nas passagens de S. Tomás citadas sobre a conclusão precedente. Pois aí
153
S. Tomás ensina daramente que o objecto motivo especifica a potência passiva e se relaciona com ela como princípio movente, e assim é anterior à sua especificação no processo de definir. Logo, na razão do motivo existe a verdadeira razão do objecto, e não da produção eficiente; com efeito, o eficiente enquanto eficiente diz respeito ao ser da coisa que produz, não à especificação nem aos princípios de definição, enquanto S. Tomás apesar de tudo diz, especialmente na passagem já citada do seu comentário ao D e A n im a aristotélico, lect. 6, que o s objectos são anteriores às operações da alma no processo de definir», e falava tanto dos objectos terminativos com o dos activos ou motivos. Logo, a razão do motivo não exprime a eficiência no objecto, mas está contida dentro dos limites de uma forma objectiva, isto é, especificativa. A conclusão é confirmada, finalmente, porque a potência passiva enquanto tal é especificável por alguma coisa extrínseca, uma vez que a potência passiva ê ordenada com base no tipo de coisa que é para aquele especificativo externo, e, logo, o seu carácter específico, o tipo de coisa que é, não está inteira e absolutamente em si, e independente de todo o factor extrínseco. Mas o que quer que não esteja inteira e absolutamente em si, mas seja ordenável para outro como consequência do que é, é especificável por esse outro. Todavia, a potência passiva enquanto tal não é relacionada com um especificativo extrínseco como com um termo, mas como com algo movente, porque a potência passiva está na potência para que seja movida, não para que a sua actualidade seja terminada; uma vez que é uma potência passiva, e não activa. Logo, isto que é motivo dela é verdadeiramente um objecto especificativo. Dizes: pelo menos, o objecto motivo deve concorrer eficientemente com a potência para produzir o acto; logo, a razão do motivo no objecto pertence à ordem da eficiência. A resposta a isto é, em primeiro lugar, que a conclusão não é válida a respeito de toda a potência, mas apenas para o caso da potência cognitiva, na qual é mais provável que a espécie concorra com a potência para a produção do acto. Mas esta produção não é a formal e essencial razão da espécie, que essencialmente só precisa de ser representativa ou substitutiva do objecto do qual o acto cognitivo depende na sua especificação. Mas, que o acto possa tam bém depender do objecto efectivamente no que toca à existência, não pertence ao objecto enquanto objecto, nem à espécie enquanto precisamente é representativa e faz as vezes do objecto, mas porque a espécie intrinsecamente determina e age na potência, a qual, assim actuada e determinada, flui vitalmente e efectivamente num acto. Por esta razão, assim como a virtude da potência efectivamente influi,
154
também a actualidade e a determinação intrínseca do objecto influi ao eiiciar o acto na sua especificação, que depende do objecto. Se, contudo, inquires de que m odo é inteleccionada a razão do motivo na causa objectiva, sendo suposta uma causa objectiva que não é movente ao m odo da causa eficiente, responde-se, d o que foi dito, que é movente no que toca à especificação, não no que toca ao exercício. Isto é explicado por S. Tomás na Sum a Teológica, I-II, q. 9, art. 1, quando diz que «a potência ou força da alma pode estar na potência de duas formas, de um modo quanto ao agir ou não agir, de outro quanto ao agir de uma forma ou de outra; assim como a potência da vista às vezes vê, às vezes não vê, e às vezes vê isto, digamos, uma coisa branca, e às vezes aquilo, por exemplo, uma coisa preta. Logo, a potência necessita de algo movente e determinante quanto a estas duas formas». E o determinante ou movente para agir ou não agir é dito mover da parte do sujeito ou do exercício, mas mover para agir desta ou daquela forma é dito do movimento e determinação da parte do objecto. E assim S. Tomás acrescenta que ■um objecto m ove determinando um acto ao m odo de um princípio formal». Logo, mover à maneira de um agente ou da parte do sujeito e exercício, que pertence à ordem da causa eficiente, distingue-se da moção ao m odo do objecto motivo, que se reduz à ordem da causa formal extrínseca, a qual não é mais que o facto de que alguma potência, para eiiciar um acto de tal ou tal espécie, precisa de ser movida ou ordenada para um objecto extrínseco, não só na terminação do acto, mas também na eliciação e princípio daquele, porque, mesmo para eliciá-lo, a potência não é suficientemente determinada para uma espécie de acto, até ser determinada ou movida e completada pelo objecto. E disto segue-se que embora algumas vezes no objecto motivo, para que de facto mova, deva intervir a produção de alguma coisa, que pertence à ordem da causa eficiente, contudo a razão formal do objecto motivo não consiste essencialmente nesta produção, mas esta ocorre acidental ou concomitantemente. Há uma máxima razão para isto suceder entre as potências cognitivas, que não podem ser movidas pelos objectos, excepto se esses objectos são impressos nelas, e as espécies são efectivamente produzidas; contudo, a produção efectiva das espécies não é causalidade objectiva na razão formal do objecto motivo. Pois produzir efectivamente especificadores não pertence à razão do objecto, como é patente no caso do nosso intelecto e no dos anjos. Pois no nosso intelecto é o seu agir que eficientemente produz as espécies, não o objecto, e no caso dos anjos, Deus infunde as espécies, o que é produzi-las eficientemente; mas os objectos não agem efectivamente no intelecto dos anjos,
155
segundo a opinião de S. Tomás. E em todas as opiniões é manifesto que, no caso do conhecimento infundido, Deus produz ou infunde eficientemente as espécies, não são elas produzidas pelos próprios objectos. Logo, a razão formal do objecto motivo especificante não consiste na produção eficiente das espécies. Segue-se, em segundo lugar, que um objecto somente motivo não é formalmente o mesmo que um signo instrumental, nem o objecto apenas terminativo o mesmo que um objecto secundário, embora muitas vezes estes coincidam materialmente. A razão pela qual o objecto motivo não pode ser identificado com o signo instrumental reside no facto de a natureza de um objecto apenas motivo, embora movendo outro para além de si, contudo não dizer respeito directamente ao objecto, que representaria e cujas vezes faria, mas dizer respeito directamente à potência com o algo a ser m ovido por si. Donde tem-se na linha de um objecto coordenado com a potência, não na linha de uma representação ou substituição a favor de outro e coordenada com a coisa representada. São, com efeito, formalidades diversas a razão de um objecto motivo e a de um signo instrumental, porque directamente respeitam termos diversos: um objecto enquanto signo exprime a razão do m eio condutor para outro, e um objecto enquanto motivo exprime a razão do princípio de m over a potência. Donde o objecto motivo não exprime alguma coisa que seja inferior e mais imperfeita que aquilo relativamente ao que move, como, por exemplo, quando alguém é movido por um ente real para conhecer um ente de razão, ou quando alguém é movido por Deus para conhecer as criaturas, ou é m ovido pela essência de um anjo para conhecer os seus acidentes. Contudo, o signo enquanto signo é sempre alguma coisa mais imperfeita que a coisa significada, uma vez que faz as vezes dela e substitui-se em seu lugar na ordem do cognoscível. E assim é que a razão do signo é uma relação categorial, como dissemos, mas a razão do objecto motivo não é uma relação categorial, porque o objecto não diz res peito à potência, mas é antes aquela que a ele diz respeito, tal com o sucede com a relação da medida e do mensurado, que não é mútua. A razão por que um objecto terminativo não pode ser identificado com um objecto secundário explica-se pelo facto de, pela imagem, conhecer o protótipo, ou o boi pelo vestígio da pegada. Com efeito, o protótipo e o boi são objectos apenas terminativos, enquanto conhecidos pela espécie de outro objecto, e contudo não são objectos secundários, mas principais, enquanto primeiramente e por si mostram, sendo que a imagem e o vestígio são conhecidos com o conduzindo para aqueles objectos principais. 156
Última conclusão: o objecto term inativo tem também, a respeito da p otência cognitiva e apetitiva, a razão da causa fo rm a l extrínseca. Esta conclusão está contra alguns autores mais recentes os quais julgam que o objecto terminativo tem a razão do puro termo, assim como o termo a tem a respeito da relação categorial. Mas a conclusão exposta é retirada de S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 18, art. 2, resp. obj. 2, onde diz que «o objecto não é matéria a partir da qual, mas acerca da qual, e tem de certo m odo a razão de uma forma, enquanto dá a espécie», onde claramente o Santo Doutor fala do objecto terminativo: pois a «acerca da qual» não é o princípio de um acto movendo a potência para eliciar um acto, mas um princípio terminando um acto, porque o acto versa acerca daquela matéria. Logo, o objecto terminativo especifica extrinsecamente; pois um movimento toma a sua espécie do termo, como é dito no Livro V da Física. Isto retira-se também de S. Tomás, no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist.l, q. 2, art. 1, resp. obj. 2, onde diz que «o objecto de uma operação termina e aperfeiçoa essa operação e é o fim dela». Mas tudo o que aperfeiçoa tem-se formal mente a respeito do aperfeiçoável, pelo menos extrinsecamente, e com o não é alguma coisa aperfeiçoando por produzir, mas por terminar, dizemos que funcionam formalmente extrinsecamente. Finalmente, a conclusão é provada porque o objecto terminativo não funciona como puro termo, como sucede com o termo a respeito da relação categorial; pois o objecto terminativo especifica a potência activa, potência essa que não é uma relação categorial, mas diz respeito ao objecto por uma ordem transcendental. Logo, o objecto não é puro termo, pois de outro m odo só terminaria a relação categorial, não a transcendental. Que na verdade um objecto terminativo não termine e especifique em nenhum outro gênero de causa, excepto no gênero da causa formal, deduz-se disto: não funciona com o uma causa eficiente, porque não é um princípio de acção, mas um termo; nem é uma causa material, porque não é sujeito respeitando ou causa disponente; nem é um fim, porque o fim ou é flm-efeito ou fim-causa, ou seja, um fim por causa do qual. Um flm-efeito não especifica, porque com o efeito não aperfeiçoa o acto ou potência activa, mas é aperfeiçoado ou feito pela potência activa, nem, enquanto efeito, causa a própria potência activa, mas é causado por ela, Mas o fim como causa não especifica o acto terminativamente, mas move a causa eficiente metaforicamente, e assim não diz respeito à especificação de uma acção ou ao seu predicado essencial, mas à sua existência, pois para aquela, com efeito, move; logo, com o fim, é numerado entre as circunstâncias; mas com o objecto pode especificar, com o consta na Suma Teológica, I-II, q. 1, art. 2, onde 157
a especificação do acto moral é tirada do fim, enquanto o flm é bom e objecto da vontade. E na q. 18, art. 6, e q. 19, art. 2, o fim é dito especificar enquanto objecto do acto interior ou imperante; contudo, é uma circunstância do acto imperado, acto esse que é por causa do fim. Logo, se um fim com o fim especifica, reveste-se da razão do objecto, pois uma coisa é a razão do objecto especificante, outra bem diferente é a razão do fim de mover. E assim, a especificação pertence à ordem de uma causa formal extrínseca, a moção do fim pertence à finalização movente para produzir a coisa na existência, mas m over relativamente ao ser e à existência está fora da ordem da especificação. A partir daqui distingues outras divisões do objecto, com o em primário e secundário, formal e material. Com efeito, isto, que por si, ou primeiro, ou formalmente especifica, ou seja, o objecto que é forma e razão de especificar, é chamado essencialmente objecto ou razão do objecto; os restantes são ditos objectos secundariamente ou através de outro e materialmente. E a própria razão de especificar, tomada segundo ela própria, é também habitualmente dita «razão sob a qual» ou «objecto pelo qual». Mas considerada com o em alguma coisa e afectando-a, a coisa assim afectada é dita «razão que», enquanto o objecto material é dito «objecto que». Um exem plo fácil encontra-, -se no caso da parede colorida e iluminada, a respeito da visão.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
O primeiro argumento é contra a primeira conclusão. Com efeito, o intelecto divino e a sua potência, verdadeira e propriamente, têm objectos; pois eles versam sobre alguma coisa primeira e essen cialmente, o intelecto sobre a divina essência, a omnipotência sobre as criaturas. E contudo não são especificados pelos próprios objectos; pois a potência divina não é especificada pelas criaturas, de outro m odo teria actualidade e perfeição a partir das criaturas, assim como teria espécie. Nem, semelhantemente, a essência divina especifica o intelecto divino; pois em Deus não podem ser distinguidos o especificativo e o especificado extrínseco, nem o aperfeiçoante e o aperfeiçoável, o actuante e o actuável. Logo, a razão d o objecto não consiste nisto que é especificar extrinsecamente. Responde-se a este argumento que na inteligência divina é encontrada a razão d o objecto livre de imperfeições, isto é, a dependência de outro enquanto seu especificante extrínseco e formalmente causante. Pois não é dada em Deus nenhuma espécie ou coisa especificada, que seja causaçla, e consequentemente também
158
não é dada a razão do objecto, que cause com o causa formal extrínseca. Mas nestes actos divinos, que são inteleccionar e querer, dá-se a razão do objecto quanto ao que é da perfeição e da actualidade, nisto, em que se dá o termo e especifícativo da cognição, uma vez que a cognição e a volição devem atingir alguma coisa, embora o especifícativo não seja distinguido d o especificado, nem tenha relativamente ao especificado a razão da causa, mas sendo o especificativo e o especificado um e o mesmo, devido à sua suma eminência, como se tem de S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 14, art. 2 e 4. Mas a respeito da potência executiva relativamente às criaturas, isto é, da omnipotência, é dada a razão do objecto, enquanto as criaturas são aquilo acerca de que versa aquela potência executiva de Deus como seu puro efeito, não como perfectibilizador da potência, que de si tem toda a perfeição. O segundo argumento é contra a razão do objecto motivo, que já explicamos. Pois falando do objecto motivo formalmente enquanto motivo, a qualificação «motivo» exprime a razão, ou da moção eficiente, ou da moção formal. N o primeiro caso, não é própria e simplesmente um objecto, como mostramos acima, porque a moção eficiente não dá a especificação mas a existência. N o segundo caso, não é distinguida a razão do objecto motivo da razão do objecto terminativo, porque cada uma tem o mesmo modo de causalidade, nomeadamente o m odo formal, e assim o objecto motivo e o objecto terminativo especificam do mesmo modo. Que, com efeito, o objecto motivo tenha a razão do princípio não o muda na razão da causa formal extrínseca, e, logo, o objecto motivo não tem a razão de um- objecto enquanto motivo, mas enquanto coincide com o terminativo na razão de especificar extrinsecamente, não enquanto tem a razão do princípio movente. Isto é confirmado, porque se o objecto motivo enquanto motivo exprime a própria razão de um objecto, segue-se que não é dada alguma razão do objecto em geral, na qual convenham o terminativo e o motivo. Nem pode ser dada alguma razão comum ao motivo e ao terminativo, excepto a de respeitar a potência enquanto alguma coisa exterior àquela. Mas esta razão pertence ao mero acto da potência, que é alguma coisa distinta da potência e lhe diz respeito especificando, não sendo, contudo, o objecto da potência. Logo, a razão de um objecto enquanto tal não consiste nisto, que é dizer respeito à potência com o alguma coisa extrínseca especificante. Responde-se a este argumento que na expressão «objecto motivo» o qualificativo «motivo» é inteleccionado de uma moção formal ao modo de um princípio a respeito da potência passiva, com o foi dito acima, para que a especificação de um acto, e não apenas o exercício
159
ou existência desse acto, dependa de tal objecto, não da parte da terminação, mas da parte da eliciação e d o princípio. E quando se insiste que, nisto, o objecto m otivo coincide com o terminativo, responde-se que coincidem na ordem de causar a especificação, mas não no m odo nem na espécie d o acto causado, assim com o diversos actos e hábitos são especificados pelo mesmo m odo geral de especificação, mas não pelo mesmo m odo específico, porque são de espécies diversas. Mas os diversos modos de especificar e a diversidade de especificações são tirados, com o foi dito, disto, que um objecto pode funcionar ao m odo de um princípio ou de um termo, isto é, um objecto p od e ser aquilo de que depende a especificação do acto, ou na sua eliciação, ou na sua terminação, porque, como frequentemente diz S. Tomás na Sum a Teológica, I-II, q. 1 e q. 18, e noutros locais, a razão do acto retira-se do seu princípio e do seu fim ou terminação. E funcionando o objecto ao m odo de um princípio, induz um m odo de especificar que é diverso d o de um objecto funcionando ao m odo do teimo, porque um objecto especifica uma potência activa ou passiva, potências que são sempre potências diversas, e têm diversos actos. Para confirmação, responde-se que assim com o a apercepção de potência em geral abstrai das potências activa e passiva e junta as duas na razão do princípio ou acto, da mesma forma a apercepção de objecto em geral abstrai do motivo e terminativo e exprime o especificativo extrínseco da potência da parte do princípio ou termo. O acto, contudo, ou não é inteiramente extrínseco à potência, uma vez que procede daquela, ou, antes, deve ser dito que num acto, a respeito da potência, são consideradas duas coisas, nomeadamente a razão do produzido ou efeito, e assim considerado o acto não diz respeito à potência especificando-a, mas recebendo a sua existência, espécie e natureza da potência; ou é considerada a razão de algo perfectibilizante da potência no agir, enquanto como acto ultimamente consuma a acção da potência, e, assim considerado, o acto não especifica, excepto enquanto se mantém da parte do termo no qual é consumada a actualidade da potência, e por esta razão reveste-se da razão de um objecto terminante, assim como sucede com outros efeitos a respeito dos seus agentes, enquanto aperfeiçoam e consumam aqueles agentes em acto. Argumenta-se em terceiro lugar: um objecto é objecto motivo pelo m odo no qual a potência dizendo respeito a esse objecto é passiva; pois um objecto como motivo corresponde à potência passiva como passiva. Mas a potência cognitiva é passiva enquanto recebe uma espécie, recepção essa em que o objecto não influi com o objecto mas como eficiente e imprimente. Logo, a razão do m otivo não
160
pertence ao objecto como objecto, mas à razão de alguma coisa eficiente ou imprimente da espécie, uma vez que a potência passiva se tem com o passiva enquanto é afectada e recebe a espécie antecedentemente ao acto. Mas naquela condição ou estado anterior no qual a potência recebe a forma especificante e é movida, o objecto não está ainda objectificado, porque não é ainda atingido pela potência como objecto quando as espécies são imprimidas. Isto confirma-se, porque o objecto com o m otivo não pode especificar o acto nem a potência, logo, não especifica nada. A antecedente prova-se: o objecto motivo não especifica o acto, porque apenas aquilo que é m ovível p elo objecto p o d e ser especificado por esse objecto. Logo, um acto não é especificàvel pelo objecto motivo, porque o motivo enquanto motivo só especifica o movível com o movível. Nem a potência pode ser especificada pelo objecto motivo, porque o objecto não especifica a potência, excepto mediante um acto, com o ensina S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 77, art. 3- Logo, se o objecto motivo não especifica o acto cognitivo, também não especifica a potência. Responde-se que a potência é passiva tanto a respeito do agente ou coisa que imprime a espécie, com o a respeito da forma impressa. Mas a forma especificante impressa tem dois aspectos, nomeadamente: informar entitativa ou fisicamente, e isto pertence à espécie mate rialmente com o aquilo que tem em comum com todos os outros ácidentes; e informar intencionalmente, isto é enquanto a forma é representativamente uma com o objecto, e deste m odo o objecto informa intencionalmente na mesma ordem que a espécie, isto é, formalmente, embora o objecto esteja fora e a espécie no interior da potência. Mas a própria impressão eficiente das espécies não vem do objecto com o objectivamente movente, mas do que produz as espécies, cuja força produtiva nem sempre pertence à própria coisa que é objecto, mas pertence às vezes a outro agente, assim como, por exemplo, Deus infundindo as espécies nos anjos. Donde a razão do m otivo num objecto não é a razão de imprimir ou de produzir as espécies, mas a razão de objectivamente actuar e determinar a potência por meio de uma espécie intencionalmente, não apenas entitativamente, informando. E, por esta razão, o objecto m otivo é preservado a respeito do intelecto do anjo, não porque o objecto mova impri mindo a espécie, mas porque o objecto determina e age sobre a própria potência formalmente, não enquanto o objecto existe em si entitativamente, mas intencionalmente, enquanto representado na espécie, embora seja Deus quem efectivamente infunde aquela forma. Para confirmação, responde-se que o objecto m otivo especifica o acto cognitivo determinando ou actuando a potência passiva, que é ii
161
m ovível pelo próprio objecto, e principiando ou causando o acto quanto à especificação. Pois o objecto motivo, que especifica o acto, não diz respeito ao acto como sujeito movível pelo próprio objecto motivo, mas com o algo principiado; mas diz respeito à potência, que determina, com o sujeito movível. Donde negamos que o objecto motivo especifique a potência com o sujeito movível, mas especifica o acto, do qual é princípio, como principiado por si. Com efeito, a acção, com o diz S. Tomás, é especificada pelo princípio e pelo fim ou termo; mas porque inicia o acto por mover e determinar a potência para eliciar tal tipo de acto cognitivo, diz-se que o objecto é motivo. Um quarto argumento é contra a razão d o objecto terminativo. Pois de acordo com o que vimos dizendo, a razão do objecto é ser uma espécie formal extrínseca; mas o termo como termo não especifica o acto ou a potência; logo, um objecto terminativo, enquanto terminativo, não é um objecto. A premissa menor é provada, primeiro, porque de outro m odo o termo da relação categorial seria o seu objecto, porque especifica terminando. Segundo, porque o especificativo do acto e da potência real deve ser alguma coisa real, porque a espécie dada por essa coisa especificativa é real e dependente do especificativo com o de algo aperfeiçoante e actuante. Mas é certo que o objecto terminativo nem sempre é alguma coisa real; com efeito, são encontradas razões do objecto mesmo nos entes de razão, tal com o dissemos na questão introdutória sobre o objecto da Lógica. Terceiro, porque todo o especificativo é uma causa formal, pelo menos extrinsecamente. Mas toda a causa formal é um princípio dando ser, pois é a forma .que determina a existência da coisa. Logo, todo o objecto é princípio, enquanto é objecto e não termo, porque é causa formal especificante; e assim, todo o objecto será objecto motivo, que especifica ao m odo de um princípio. Isto é confirmado, porque o objecto m otivo e o terminativo participam na razão do objecto analogicamente, logo, um é objecto simplesmente, o outro, segundo uma forma qualificada, e a razão do objecto não pertence a ambos simplesmente. A antecedente prova-se porque ambos, tanto o objecto real como o de razão, são objectos motivos e terminativos; e porque as potências activa e passiva funcionam analogicamente na ordem da potência, como é dito por S. Tomás no Com entário à M etafísica de Aristóteles, IX, lect. 1. Logo, os objectos motivos e terminativos correspondentes àquelas potências são análogos. Donde o objecto motivo é aquele que simplesmente actua e informa, e assim, analogicamente, é dito que ambos, o motivo e o terminativo, especificam ou têm a razão da forma especificante.
162
Responde-se ao principal argumento negando a premissa menor. Para a primeira prova, responde-se que o termo da relação não especifica enquanto precisamente é termo, mas enquanto é sujeito de um fundamento, sem o qual a espécie das relações não é entendida, como dissemos no capitulo sobre a relação, e consta de S. Tomás, no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, I, dist. 26, q. 2, art. 3, mas o objecto especifica essencialmente enquanto é objecto. Para a segunda prova, responde-se que o especificativo intrínseco dando a espécie real a um acto deve necessariamente ser alguma coisa real, mas o especificativo extrínseco não, porque especifica não por informar e ser inerente, mas terminando a tendência de outro ou determinando extrinsecamente a eliciaçâo do acto. E assim, basta a um especificativo extrínseco que determine a própria potência a agir por meio de uma espécie real, forma essa que intrinsecamente informa realmente, mesmo se o próprio objecto em si não é real ou não existe realmente. Para a terceira prova, responde-se que o termo tem a razão da causa ou do efeito segundo diversas considerações, assim como as causas são causas umas para as outras. E enquanto precisamente termina ao m odo da execução ou do efeito, não especifica, mas recebe espécie e existência. Mas enquanto este termo é considerado como aperfeiçoando e consumando em facto existencial um acto da potência, dá a espécie terminando e aperfeiçoando, e assim é considerado com o princípio e causa extrínseca dando existência consumativa e finalmente, não motivamente e inicialmente; com efeito é a razão da perfeição no acto enquanto consumado, não enquanto iniciado. E assim, diz S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 33, art. 4, resp. obj. 2, que «a operação causa deleite como causa eficiente, mas o deleite aperfeiçoa a operação com o fim». D onde, o objecto terminativo não coincide com o objecto motivo; também precede na intenção, embora na execução, como efeito, se siga ou receba, e não dê especificação. Para confirmação, nega-se a antecedente. Para primeira prova, responde-se que o objecto ser real ou de razão só faz diferença na razão do ente, não na razão do objecto e do cognoscíveí. E está bem que alguma coisa seja simplesmente objecto, e não seja ente simplesmente. Pois um facto são as diferenças das coisas no ser da coisa è do ente, outro bem diferente são as diferenças na razão do objecto e do cognoscíveí, com ó bem adverte Caetano no seu Com entário à Suma Teológica, í, q. 1, art. 3. E assim, muitas coisas podem coincidir especificamente na razão do cognoscíveí, e não na razão do ente, ou vice-versa, como mais plenamente é dito na última questão do meu comentário aos A n a líticos Posteriores. Pois para a
163
presente questão, basta pôr alguns exemplos na Lógica, que é ciência univocamente com as outras ciências que tratam do ente real, embora a própria Lógica trate do ente de razão; e univocamente coincidem Deus e a criatura na razão de um objecto cognoscível ou metafísico, não na razão d o ente; e a quantidade e a substância univocamente são cognoscíveis pela Matemática e pela Física, assim com o estas ciências elas próprias são univocamente ciências, mas a quantidade e a substância não são unívocas na razão do ente. Com efeito, a razão do cognoscível só exprime a conexão necessária da verdade, conexão que coincide univocamente com qualquer outra conexão necessária na razão do verdadeiro, mesmo se não coincidem na razão do ente. E quando é dito que o objecto aperfeiçoa a potência, responde-se que mesmo o ente de razão a aperfeiçoa, não por razão de si formalmente, mas por razão do seu fundamento e do ente real por cuja proximidade é concebido. E se dissesses: esta razão d o cognoscível é transcendente relativamente a esta ou àquela razão de cognoscível, logo, não é unívoca; respondería que o cognoscível em geral, assim como o verdadeiro e o bom, propriedades do ente, é análogo a este ou àquele cognoscível, à maneira de qualquer essência predicável por uma predicabilidade do segundo predicável ou do primeiro predicável; isto é, é predicável transcendentalmente em todas as categorias unívocas. Mais ainda, dizemos que este ou aquele cognoscível determinado pode ser unívoco a respeito dos sujeitos ou entes a que pertence denominativamente à maneira do quarto predicável ou do quinto predicável, embora aqueles entes não sejam unívocos entitativamente, porque o cognoscível determinado em questão não é consequência do ente tomado em si absolutamente, mas com parativamente à potência cognoscente, e pode haver um mesmo modo de relacionar nas coisas não univocamente coincidentes segundo elas próprias e entitativamente. Para segunda prova, diz-se que S. Tomás, no texto em questão, fala da potência na razão do princípio para agir; pois deste m odo as potências activa e passiva não coincidem univocamente, porque a passiva não principia o acto, excepto enquanto dependente da activa, porque, de si, a potência passiva não está em acto. Mas na razão de alguma coisa especifícável por um princípio extrínseco, as potências activa e passiva são relacionadas univocamente, uma vez que ambas têm a significação da coisa assim dependente. À proposição acrescentada que o objecto motivo actua simplesmente, mas não o terminativo, responde-se que, ao especificar extrinsecamente ambos actuam simplesmente, enquanto de ambos depende na sua acção e perfeição a potência ou o acto. Pois, embora o objecto pelo qual a
164
potência passiva é movida para eliciar um acto se aproxime mais no m odo de m over à actuação da forma intrínseca, contudo a especificação depende simplesmente de ambos.
165
Capítulo V
SE SIGNIFICAR É FORMALMENTE CAUSAR ALGUMA COISA NA ORDEM DA CAUSALIDADE EFICIENTE
Para que o ponto da dificuldade seja claramente inteleccionado, supomos que não falamos, na presente questão, d o signo e da significação nos termos da própria relação na qual formalmente con siste o signo, com o mostramos acima, no capítulo i; pois a relação de nenhum m odo é eficiente, mas puramente respectiva ao termo, e dizer respeito não é produzir efeitos. Logo, falamos do fundamento do signo e da significação, enquanto representa à potência cognitiva alguma coisa, a favor da qual o signo substitui e cujas vezes faz ao representar essa coisa à própria potência. E inquirimos se esta condução ou exibição e representação do seu significado à potência é alguma causalidade eficiente, ou em que ordem de causa deve ser colocada. N o próprio acto de representar ou significar podemos distinguir três coisas que parecem pertencer ao acto de fazer presença de um objecto na potência; com efeito, representar não é outra coisa senão fazer o objecto presente ou unido à potência. O primeiro é emissão ou produção de espécies, que a partir do objecto e signo extrínseco vêm à potência. O segundo é a excitação da potência para que atenda, que se distingue da própria impressão da espécie; pois mesmo antes de recebidas as espécies é necessária alguma excitação para a atenção. O terceiro é o concurso do signo com a potência para eliciar a ideia da coisa significada. Para eliciar este acto, um signo externo 7 66
concorre por m eio da espécie intrinsecamente recebida, pela qual não só contribui para que seja formada uma apercepçâo de si, mas também do objecto, para o qual conduz. Mas este concurso com a potência não é significar, porque este concurso pertence à eliciação da cognição. Ora, eliciar a cogniçâo não é significar, mas se a cognição é do objecto, é o termo e fim de significar; com efeito, para isto m ove o signo, para que seja recebida a ideia do objecto significado. Por outro lado, se a cognição é do próprio signo, é pressuposta para significar, porque é do facto de que algo é conhecido que o signo conduz para outro ou significa. Nem duvidamos que esta representação do objecto e condução da potência para o atingir, para que seja algo de novo nas coisas da natureza, deva ter alguma causa eficiente. Mas inquirimos se isto, precisamente enquanto depende do signo, depende na ordem de uma causa eficiente, de tal modo que o signo produza a significação e que significar em segundo acto seja produção ou efeito; ou se isto provém eficientemente de outra causa, mas do signo apenas vice-objectivamente. Seja única a conclusão: S ign ifica r ou representar de nenhum modo é eficientem ente prod u zid o p elo signo, nem sign ifica r, form a lm en te fa la n d o, é p ro d u z ir um efeito. Portanto esta proposição: -O signo produz» nunca está no quarto m odo de predicaçâo essencial. Esta conclusão, que é muito comum • entre os tomistas mais recentes, que estão habituados a tratar dela •nas disputas quotidianas, pode ser retirada originalmente de S. Tomás, De Verítate, q. 11, art. 1, resp. obj. 4, onde diz que «a causa eficiente próxima do conhecimento não são os signos, mas a razão discorrendo dos princípios para a conclusão». Principalmente, contudo, a conclusão em causa tem o seu fun damento em dois princípios: O primeiro é que o objecto, enquanto exerce uma causalidade objectiva a respeito da potência e se representa a si, não o faz eficientemente, mas apenas funciona como uma forma extrínseca, que é aplicada à potência por outra causa eficiente, e é tomada presente a essa potência por meio de uma espécie. Nos casos em que o próprio objecto também tem força eficiente para se aplicar à potência, isto sucede materialmente e por acidente, assim com o nas coisas naturais a forma exibe a sua presença na matéria, mas precisamente enquanto derivada da forma, essa presença não existe eficientemente, mas formalmente, pois é feita eficientemente pelo agente aplicando e unindo a forma. O segundo princípio é que o signo sucede a e é substituído no lugar do objecto na própria linha e ordem de uma causa objectiva, mas não na razão de algo aplicando eficientemente, nem de algo
167
conducente da potência para o objecto ao m odo de uma causa eficiente, mas antes à maneira de uma causa objectiva, não principal, mas substitutiva, em razão do que o signo é dito instrumental, não como se fora um instrumento eficiente, mas como se fora um substituto do objecto; não informando como espécie, mas representando a partir de algo extrínseco. O primeiro princípio é explicado assim: porque a razão do objecto, como já vimos, não consiste em emitir e produzir espécies de si na potência cognitiva, etc. Com efeito, é evidente que as espécies são algumas vezes infundidas eficientemente por Deus, com o no caso dos anjos e do conhecimento infundido, quando o objecto não produz impressões eficientemente. E a principal causa disto é que a razão do objecto é preservada nisto, que alguma coisa seja representável e cognoscível passivamente pela potência. Mas ser representável passivamente não exprime de si a virtude aplicante e uniente do objecto à potência activamente, mas exprime que é unido e feito presente passivamente; assim com o representar é fazer presente, ser representado e representável é ser feito presente. Logo, se a razão d o obje,cto é salvada p or isto, que é o facto de a coisa ser representável, então consequentemente, fazer a representação activamente está fora da razão do objecto e não é requerido para ela;, assim com o se a forma consiste nisto, que é ser alguma coisa unível à matéria com o informante e pela sua presença tornando a matéria conhecida, a razão da forma não pode consistir em aplicar-se e unir-se efectivamente à matéria. Donde um objecto é comparado por S. Tomás a uma forma ou actualidade pela qual a potência é tornada actuada ou formada. O inteligível, com efeito, é o intelecto sobre o qual se agiu, com o ensina na Suma Teológica, I, q. 14, art. 2, e q. 79, art. 2, e em muitos outros locais. Logo, representar ou fazer presente não pertence ao próprio objecto, enquanto formalmente é objecto, com o à causa eficiente desta apresentação, mas com o à forma e acto que à potência é apresentado e unido. Mas pelo mesmo motivo segue-se que à razão do objecto não pertence excitar eficientemente, tanto porque esta excitação é feita eficientemente por outra causa, quer do interior por Deus, quer do exterior pelo homem ou outro proponente e aplicante do objecto aos sentidos, como porque, na excitação, o objecto é o que é aplicado à potência, mas não é requerido que seja ele próprio eficientemente a produzir a aplicação. Por último, o objecto interior à potência posto pela forma especificante pode efectivamente concorrer para a produção da apercepção, não em virtude do objecto enquanto é especificante, mas em virtude da potência determinada e actuada pelo objecto do qual é constituído, .conjuntamente com a potência,
168
um único princípio em acto, não que o próprio objecto acrescente Uma virtude eficiente à potência. E este concurso ou produção da cognição não é significar ou representar; com efeito, a eliciação da cognição supõe um objecto representado à potência e movendo-a, para que tenda à cognição consumada e à representação do objecto. E assim, aquela cognição do objecto é termo e fim da significação; pois m ove para conhecer. O segundo princípio é declarado a partir da razão própria do signo enquanto signo, porque o signo é substituído em lugar do objecto, para que conduza esse objecto à potência, de m odo a que o objecto actue essencialmente na razão de um objecto. Pois o signo, se é instrumental e extrínseco, não representa o significado de outra forma que representando-se como o objecto mais conhecido, e o significado com o alguma coisa virtualmente contida em si, isto ê, como algo mais desconhecido para o qual o signo exprime alguma relação e conexão. Logo, o seu concurso para representar o significado à potência é o mesmo que o seu concurso para se representar a si, porque representando-se a si representa também o objecto significado enquanto pertencente a si. Donde a emissão das espécies e excitação da potência pertence ao signo do mesmo m odo que pertence ao objecto quando este se representa a si, ou seja, causando-o objectivamente, não eficientemente, porque o signo instrumental não representa o objecto de outra forma que representando-se primeiro a si com o objecto, e ulteriormente estendendo a representação de si para outro em si virtualmente implícito e contido. E assim, o signo não representa objectivamente absolutamente, mas objectivamente instrumentalmente e como servindo para outro. Se, contudo, é um signo formal, é manifesto que representa não eficientemente, mas formalmente a partir de si, com o se segue da sua definição e é patente na apercepçào ou conceito, assunto das questões seguintes.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro, pode argumentar-se a partir de várias passagens de S. Tomás. Pois na Suma Teológica, q. 68, art. 4, resp. obj. 1, diz que ■■na vo z existe uma certa virtude para excitar a alma de outro, que é produzida na voz enquanto procede da concepção do sujeito que fala». Mas esta virtude, de que fala S. Tomás, é virtude eficiente fisicamente. Com efeito, diz aí S. Tomás, que a força espiritual nos sacramentos existe do mesmo m odo que essa força excitativa existe na voz. Mas essa força que está nos sacramentos é força eficiente; logo, também o é a força que está na vo z para excitar e
169
consequentemente para significar, pois a significação é feita pela excitação. Semelhantemente, em D e Verítate, q. 11, art. 1, resp. obj. 11, S. Tomás diz que -as palavras d o douto estão mais próximas de causar o conhecimento que as coisas sensíveis fora da alma, enquanto as palavras são signos de intenções inteligíveis". Logo, as palavras, enquanto signos, causam conhecim ento, não representando objectivamente, mas conduzindo para a coisa significada. Assim, no C om entário às Sentenças de Ped ro Lom bardo, IV, dist. 1, q. 1, quaestiunc. 1, resp. obj. 5, diz que «a demonstração de que tal é o caso procede de um signo comum»; mas uma demonstração produz eficientemente conhecimento por razão da matéria da qual é estabelecida, não por razão de uma segunda intenção; logo, um signo, do qual é estabelecida a demonstração, eficientemente flui no conhecimento. E finalmente, no Opúsculo 16, cap. 3, n. 219, diz que «a acção do espelho, que é representar, não pode ser atribuída ao homem reflectido no espelho», logo, dá-se que representar ou significar é uma acção. Responde-se à primeira citação de S. Tomás que aquela virtude excitativa na voz não é a própria significação actual ou o significar da voz, uma ve z que alguém é excitado antes para atender à significação da voz. Antes, a força da voz é o próprio uso do intelecto do falante, manifestando o seu conceito através da voz, com o adverte Caetano no seu comentário à passagem em questão. Este uso é alguma coisa além da significação, porque aplica a própria vo z significante para que o outro atente. E assim, aquela excitação e força excitativa procede eficientemente, como um tipo de energia latente, do que emite a voz e a usa, enquanto o mover representativa e objectivamente procede da vo z significante. E esta força excitativa, isto é, o uso da voz derivado do intelecto do que fala, é comparada por S. Tomás àquela moção virtuosa pela qual Deus m ove e usa os sacramentos para produzir a graça, porque os sacramentos são como que um tipo de signo e vozes de Deus excitando-nos para a graça e para produzir a graça. Mas esta força é distinta da própria significação dos sacramentos, pois é acrescentada àquela significação da mesma maneira que o uso de uma força excitativa do discurso é acrescentada à significação das palavras. Pois a excitação é feita para que atendamos à significação e sejamos movidos por tal significação. E precisamente como resultando da voz significante, esta significação ou representação não opera eficientemente, mas objectivamente; mas com o a voz é usada pelo sujeito que fala e estimula, tem uma força eficiente para excitar, nascida não da representação, mas do sujeito que propõe e 170
usá a vo z derivadamente significando, e assim o sujeito que fala funciona como aplicando a v o z significante, enquanto a vo z signi ficante funciona como aplicada e significando representativamente. Nem devemos disputar se aquela força e uso da voz é alguma virtude física acrescentada à voz, ou se é alguma coisa moral. Pois é suficiente para o proposto que aquela excitação, enquanto funciona eficiente mente — seja moral seja fisicamente — não é o próprio acto de significar, nem procede eficientemente do signo ao significar, excepto se a própria significação fosse dita moral ou metaforicamente, ou antes, gramaticalmente, uma acção e eficiência produtiva. A segunda citação da q. 11 de D e Veritate responde-se dizer S. Tomás que as palavras do mestre são mais proximamente relacio nadas a causar o conhecimento, mas não diz que são relacionadas eficientemente para causar tal conhecimento; basta que sejam mais próximas representativa ou objectivamente, porque o signo é substituto da coisa significada. A terceira citação responde-se que, na demonstração pelo signo, o próprio representar e significar do signo não é produzir a demonstração, ou produzir o conhecimento, mas aquele procede eficientemente do intelecto movido pelo objecto e signo objectiva mente, não eficientemente representando. E assim, diz o próprio S. Tomás em D e Veritate, q. 2, art. 1, resp. obj. 4, que -a causa efi.ciente próxima do conhecimento não são os signos, mas o próprio intelecto". À última citação responde-se que a acção do espelho é dita representar pressupostamente, não formalmente, porque o espelho pela refracçâo da luz gera eficientemente a imagem, que representa. É argumentado em segundo lugar: na própria definição do signo instrumental é incluída alguma razão de ser eficiente, logo, o signo formalmente enquanto signo é causa eficiente. A antecedente prova-se daquela definição geral de signo de Santo Agostinho: «Signo é aquilo que, para além de apresentar uma espécie aos sentidos, alguma outra coisa faz vir à cogniçâo.» Onde, «apresentar espécies» e «fazer alguma outra coisa vir à cogniçâo» importam uma causalidade eficiente; pois pelos mesmos movimento e causalidade pelos quais são apresentadas espécies aos sentidos para se represen tarem a si, o signo conduz à cogniçâo de outro. Mas apresentar espécies é poduzi-las eficientemente, logo, conduzir para a cogniçâo de outro é, do mesmo modo, funcionar produtiva e eficientemente. Isto é posto na definição do signo; logo, é essencial ao signo enquanto signo exercer uma causalidade eficiente, o que é significar. Pois representar eficientemente nada mais é que produzir a representação.
171
Mas o signo produz espécies, que são representações; logo, representa eficientemente. Confirma-se porque no signo, enquanto significa, convêm múltiplas causalidades eficientes. Pois os sacramentos, que são signos, são eficientes enquanto significam; logo, naqueles, significar é produzir efeitos, pois de outro modo, formalmente não seriam signos práticos, se enquanto significam, não produzissem. Semelhantemente, pertence ao signo, enquanto significa, excitar a potência, emitindo espécies, para influir na inferência da conclusão, o que pertence na totalidade à causalidade eficiente. Responde-se que aquelas duas coisas postas na definição do signo, ou seja apresentar espécies e fazer vir à cognição, não exprimem a significação ao modo de uma causalidade eficiente. Pois apresentar espécies é comum ao signo e ao que não é signo; porque mesmo um objecto que se representa a si próprio e não se significa, apresenta espécies, e isto o objecto não o faz eficientemente enquanto objecto, como provamos. Donde nisto, que é apresentar espécies, não pode consistir a eficiência da significação. Mas se os objectos externos eficientemente imprimem espécies, aquela produção de efeitos não constitui o objecto na razão do objecto, mas provém de alguma outra virtude, ou virtude oculta do próprio céu, como insinua. S. Tomás em De Potentia, q. 5, art. 8, e outros julgam assim ser, ou de alguma virtude manifesta, como da luz no caso das cores, ou do ar refraccionado no caso dos sons, etc. Mas no segundo dos dois factores, fazer vir à cognição, a palavra «fazer» não indica a causalidade eficiente da parte do signo, mas uma representação que é como se fosse objectiva ou vice-objectiva, que não exprime um concurso eficiente, mas uma causa formal extrínseca movendo representativa mente para a cognição de si, e além disto, também conduzindo para a apercepção de outro. Para confirmação responde-se que toda aquela eficiência que foi enumerada no argumento é extrínseca e acrescentada ao signo en quanto significante, não sendo essencialmente requerido para a significação que a eficiência seja acrescentada ao signo; donde a proposição «o signo é eficiente» nunca está no quarto modo da predicação. O facto de os sacramentos serem eficientes enquanto significam não sucede porque a significação formalmente seja produção, mas porque a significação é juntada e ligada à eficiência, ou de modo moral, enquanto os sacramentos são práticos e por comando de Deus e pela vontade activa do ministro procede não precisamente enunciando, mas dirigindo para a obra; ou actuam de modo físico recebendo de Deus a virtude de produzir a graça. Às observações acrescentadas sobre a excitação da potência e a emissão 272
de espécies, já foi dito que tal excitação não convém ao signo enquanto é signo eficientemente, mas objectivamente ou vice-objectivamente; todavia, a causalidade objectiva pertence à causa formal extrínseca, não à causalidade eficiente. Argumenta-se em terceiro lugar: pode ser dado um signo formal, que seja denominado tal não pela própria relação, que é formalíssima no signo — de outro modo todo o signo seria formal, porque todo o signo exprime uma relação — , mas pelo seu fundamento, porque a relação do signo é fundada em algo, que informa a potência re presentando-lhe como conceito e apercepção. Logo, semelhantemente, porque o fundamento do signo instrumental produz efeitos, ou seja, emite espécies e excita a potência cognitiva unindo-a com a coisa representada, de um signo instrumental será dito significar eficientemente, assim como do signo formal ê dito significar for malmente. Isto confirma-se porque o signo é verdadeiramente dito instru mental, logo produtor de efeitos, porque a causa instrumental é reduzida à eficiente, não à formal. Nem vale dizer que o signo é instrumental logicamente, não fisicamente. Pois o instrumento lógico é o que causa, mediante alguma intenção de razão. Mas o signo, especialmente se natural, não causa por meio de uma intenção de razão, mas por meio da realidade da representação. Responde-se a isto ser inteiramente verdadeiro que o signo é formal ou instrumental em razão do fundamento da própria relação do signo, mas não do ponto de vista da relação. Mais ainda, uma vez que este fundamento é a própria razão de manifestar outro 'da parte do objecto ou vice-objecto, não é impossível para este fundamento funcionar na ordem da causa eficiente. Pois a própria razão do objecto enquanto tal é a de ser o acto e a forma da potência; e apenas acidentalmente, porque não pode ser interior à potência entitativamente, é o objecto interior à potência intencionalmente por meio dos seus signos, que fazem as vezes daquele objecto enquanto são conceitos e apercepções. Donde uma causalidade formal extrínseca pertence ao objecto essencialmente. Mas que seja algumas vezes intrínseca, através de si ou através dos seus signos juntos e unidos à potência, não é contraditório. Mas que um objecto mova eficiente mente a potência aplicando e representando, está fora da linha de uma causa objectiva e pertence a outra linha de causalidade, não ao objecto enquanto objecto, como dissemos muitas vezes. Se um objecto tem também força eficiente para se aplicar e representar a si produzindo espécies, isto sucede por acidente e materialmente ou concomitantemente, não essencialmente formalmente e no quarto modo de predicação.
173
Se insistes: então, o que é significar e manifestar, se nem é excitar, nem emitir espécies, nem produzir a cogniçâo eficientemente? Responde-se que é fazer as vezes do objecto ou significado e tomar esse objecto presente à potência. Contudo, a presença do objecto na potência no primeiro ou no segundo acto depende de muitas causas: a que produz espécies ou aplica o objecto eficientemente; da potência geradora da apercepção, também eficientemente; do objecto apre sentando-se a si formalmente extrínseca ou especificativamente; do signo enquanto substituindo no lugar do objecto na mesma ordem da causa objectiva, embora não como principal, mas como seu instru mento ou substituto, e não efícientemente. Para confirmação responde-se que o signo é dito instrumental objectivamente, não eficientemente, isto é, fazendo as vezes do objecto, como foi dito. E é correctamente dito instrumento lógico, não físico, não porque opere mediante uma intenção de razão, mas porque não representa nem conduz a potência para o significado, a não ser se prim eiro conhecido, significando assim com o algo conhecido. Mas isto que convém à coisa enquanto conhecida é dito pertencer-lhe logicamente, porque a Lógica trata das coisas enquanto conhecidas. Mas a verdade é que as operações d o signo não são eficientes, mas objectivas ou fazendo as vezes e ocupando o lugar do objecto significado na mesma ordem e linha, não na ordem da causa eficiente, como está provado. E assim este instrumento não é reduzido à causa eficiente, nem é instrumento propriamente, mas metaforicamente ou logicamente.
Capítulo VI
SE A VERDADEIRA RAZÃO DO SIGNO SE ENCONTRA NO COMPORTAMENTO DOS ANIMAIS IRRACIONAIS E NAS OPERAÇÕES DOS SENTIDOS EXTERNOS
É certo que os animais irracionais e os sentidos externos não uti lizam signos por comparação e colação, actividade que exige o ra ciocínio e o discurso. Mas a dificuldade consiste nisto, se sem o discurso é dado propriamente o uso dos signos para conhecer as coisas significadas. Esta questão, em qualquer caso, conduz a um melhor entendimento do modo pelo qual o signo representa e significa à potência. Primeira conclusão: Os anim ais irracionais, ptopriam entefalando, u tiliza m signos, tanto naturais com o consuetudinários. Esta conclusão é retirada de S. Tomás em D e Veritate, q. 24, art. 2, resp. obj. 7, onde diz que -da memória de flagelos ou benefícios passados acontece que os animais irracionais apreendem alguma coisa como se fora agradável, e portanto devendo ser prosseguida, ou como se fora danosa e devendo ser evitada». E isto também pode ver-se na Sum a Teológica, I-II, q. 40, art. 3- E sobre os signos naturais diz em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 10, que os animais irracionais exprimem os seus conceitos por signos naturais. E sobre o uso dos signos consuetudinários fala no C om entário à M etafísica de A ristó teles, I, lect, 1, mostrando que alguns animais são disciplináveis, isto é. pelas instruções de outro podem habituar-se a fazer ou evitar alguma coisa; logo, os animais irracionais podem utilizar signos con suetudinários.
A razão disto, para além da experiência quotidiana, em que vemos os animais serem movidos por signos, tanto naturais — com o os gem idos, o balido da ovelha, o canto da ave, etc. — com o consuetudinários, como sucede, por exemplo, quando o cão, chamado pelo nome, é m ovido por costume, embora não inteleccione a imposição, mas sendo conduzido apenas pelo costume. Para além disto, digo, vemos que um animal irracional, ao ver uma coisa, tende para outra distinta, assim com o quando ao perceber um odor prossegue alguma via, ou vendo um ramo atravessado no caminho evita-o, ou ouvindo o rugido do leão treme e foge, e seiscentas outras coisas nas quais o animal não responde dentro dos limites do que percebe pelos sentidos exteriores, mas pelo que percebe dos sentidos externos é conduzido para outro. O que, claramente, é utilizar um signo, ou seja, a representação de uma coisa não só por si, mas por outra coisa distinta de si. E é claro que isto também se estende aos signos consuetudinários, como foi dito acima, porque alguns animais são capazes de disciplina: não percebem ao princípio algumas coisas, que posteriormente são conhecidas a partir do costume, como o cão não é a princípio movido quando chamado por tal ou tal nome, e posteriormente é movido quando se estabelece um hábito consuetudinário. Logo, alguns animais utilizam signos consuetudi-' nários; pois não são movidos a partir da própria imposição do nome, porque não conhecem aquela imposição ela própria, que depende da vontade do que a impõe. D igo em segundo lugar: Não só os sentidos internos, mas também os externos, em nós e nos anim ais, percebem a significação e u tiliza m signos. E falamos aqui do signo instrumental, pois o signo formal depende d o que deve ser dito nos capítulos seguintes: se a espécie ou acto de conhecer são signos formais, e se os sentidos externos formam alguma imagem ou forma em lugar do conceito. Logo, é provada esta segunda conclusão, primeiro de S. Tomás, que ensina que a coisa significada pelo signo é vista no próprio signo, com o é patente em D e Verilate, q. 8, art. 5: “Conhecemos», diz -Sócrates, por ver de duas formas, enquanto ver é assimilado a Sócrates, e enquanto ver é assimilado a uma imagem de Sócrates, e cada uma destas assimilações basta para conhecer Sócrates.» E mais adiante: «Quando a vista exterior v ê Hércules na sua estátua, não faz a cognição por alguma outra semelhança da estátua.» Veja-se também a Suma contra os Gentios, cap. x l i x . Como a imagem e a estátua representam à potência o seu significado ao m odo do signo, se a visão exterior na estátua e na imagem não só atinge a estátua, mas também aquilo
176
que a imagem representa, conhece uma coisa menos conhecida por outra mais conhecida, o que é utilizar signos. Esta conclusão é provada, em segundo lugar porque: não há razão para negar que o sentido externo seja conduzido de uma coisa para outra sem discurso nem colação. Mas para utilizar o signo e a significação não é requerida mais alguma coisa, nem é necessário o discurso. Logo, o uso de signos pode ser atribuído aos sentidos externos. A premissa maior prova-se porque os sentidos externos podem discernir entre um objecto da sua cognoscibilidade e outro, por exemplo a visão pode discernir entre as cores branca e verde, entre uma imagem que representa Cristo e outra que representa a Virgem; pode também, por um sensível próprio, por exemplo, uma cor, atingir um sensível comum, como por exemplo movimento ou figura, e distinguir entre um e outro. Logo, o sentido externo pode, numa coisa, conhecer outra ou ser conduzido para outra, porque para isto basta que conheça como distinguir entre um e outro, e conhecer uma coisa com o contida noutra ou pertencente àquela. E isto basta para o sentido externo ser conduzido de um para outro, porque se distingue entre um e outro, e conhece um como estando contido no outro — tal com o sucede com a figura enquanto afecta ou é afectada pela cor, a imagem como estando no espelho, Hércules na estátua, um verde enquanto distinguido de um branco — nada mais é requerido para que por um conheça o outro e seja conduzido de um para outro. A premissa menor, contudo, é provada porque o signo nada mais pede na sua definição, excepto que represente outro distinto de si e seja meio conducente para outro. Mas não pede que isto seja feito por meio do discurso ou comparando e conhecendo a condição relativa de um para outro; de outro modo, nem nos sentidos internos dos animais os signos poderíam ser encontrados. E se exigisse o discurso formal, nem os anjos utilizariam signos, o que é falso. Contudo, deve ser observado que o sentido externo não pode conhecer o objecto separado do signo e segundo ele próprio. Com efeito, o objecto está muitas vezes ausente, e se fosse presente e conhecido pelo signo como distinto do próprio signo, esta operação requerida a comparação de um para outro; senão, de que modo seria estabelecido que isto tomado distinta e separadamente daquilo é o referente daquilo? O sentido externo conhece o objecto referido como contido no signo e pertencente ao signo, e, com o diz S. Tomás, conhece Hércules na estátua. Nem nada mais é requerido para o signo; com efeito, o signo não representa mais amplamente o seu objecto que o que está contido no signo, e assim não é necessário 12
277
conhecer o signo por uma cognição mais ampla e perfeita, ligando e comparando o objecto com o signo com o coisas distintas entre si e por razão da relação de um para outro. Mas é conhecido o próprio objecto assim contido no signo, tal com o é conhecido que isto é a imagem de um homem e não de um cavalo, que aquela é uma imagem de Pedro e não de Paulo; o que não podería suceder se o objecto fosse de todo ignorado. Mas objectas: o objecto significado deve ser conhecido com o distinto do signo. Com efeito, se é conhecido com o sendo uno e o mesmo com o signo, o sentido externo não alcança na cognição outra coisa distinta do signo, o que é requerido para a razão da significação. Mas pela vista não é visto o referente distinto do signo, por exem plo quando é vista a imagem de S. Pedro, não é atingido pela vista S. Pedro, que está ausente, e aquele enquanto ausente é o objecto referido; pois o que quer que seja que está presente à vista nada mais é que signo e imagem. Logo, não é atingido o objecto com o distinto do signo, e assim o sentido externo não chega do signo ao objecto, mas toda a cognição externa é consumida no signo. Alguns são convencidos por este argumento que o sentido externo utiliza o signo apenas quando o objecto está também presente no signo, não quando está ausente. Mas obstam a esta solução duas. coisas: Primeiro, porque S. Tomás declara que quem vê a estátua de Hércules, vê Hércules na estátua; e na Suma contra os Gentios, III, cap. 49, diz que o homem é visto no espelho pela sua semelhança reflectida. Mas é evidente que o homem, cuja imagem está no espelho, pode estar atrás do homem que vê o reflexo, e não presente a ele. Segundo, porque se ambos, signo e objecto, são presentes ao sentido, o sentido não é conduzido do signo para o objecto, que está separado, mas o objecto é visto pelas suas próprias espécies, enquanto está presente a si e enquanto se apresenta a si à vista. Logo, o objecto não é então visto através do signo, nem o olho conduzido do signo para o objecto, mas ambos são manifestados a partir de si próprios, excepto talvez se comparando o signo ao objecto se vê que este é signo daquele. Mas isto exige um acto comparativo conhecendo a relação sob o conceito e a formalidade de dizer respeito a, e comparativamente ao termo, o que nunca pertence ao sentido externo. Donde simplesmente respondemos que o sentido conhece o objecto no signo pelo modo em que está presente no signo, mas não só pelo modo em que o objecto é o mesmo que o signo. Por exemplo, quando é visto um sensível próprio, com o uma cor, e um sensível comum, com o uma figura ou movimento, â figura não é vista como
178
o mesmo que a cor, mas como conjunta com a cor, e tomada visível por aquela cor, nem a cor e a figura são vistas separadamente; assim, quando o signo é visto e o objecto é tornado presente nele, o objecto é atingido aí com o conjunto e contido no signo, não com o existindo separadamente e como ausente. E se insistes: que é aquilo no objecto conjunto com o signo e presente no signo, além do próprio signo e da sua entitatividade? Responde-se ser a própria coisa significada noutra existência, assim como a coisa representada pela espécie é o próprio objecto no ser intencional, não real. E, assim como aquele que percebe o conceito, vê aquilo que está contido no conceito como representado nele, e não apenas o que funciona como representando, assim, quem v ê a imagem externa, vê não só a função ou razão de representar, mas também a coisa representada como estando nela. Mas pelo próprio facto de que também vê a coisa representada com o estando na imagem, vê algo distinto da imagem, porque a imagem como imagem é algo representando, mas não o representado; contudo, vê a coisa representada como contida e presente na imagem, não separadamente e como ausente, e, numa palavra, vê-a como distinta da imagem, não com o separada e à parte da imagem. Do que foi dito colige-se que nos animais e em nós se encontra a unívoca razão do signo, porque a razão do signo não depende do m odo como é utilizado pela potência ao discorrer, comparar ou atingir de m odo simples, mas do m odo como o signo representa, isto é, torna presente objectivamente outra coisa diferente de si, que é o mesmo, quer a potência conheça de modo simples ou discursivo.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Argumenta-se primeiro a partir das autoridades. Pois S. Tomás diz, na Suma Teológica, II-II, q. 110, art. 1, que «toda a representação consiste numa certa colação, a qual propriamente pertence à razão, donde, embora os animais irracionais manifestem alguma coisa, não têm intenção de manifestar". Logo, os animais não utilizam propria mente signos e representação, excepto materialmente e remotamente, enquanto fazem alguma coisa, donde se segue a manifestação, coisa que também os seres inanimados podem fazer. Do mesmo modo, em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, diz que, propriamente falando, uma coisa não pode ser dita signo, excepto se for alguma coisa da qual se chega à cognição de outra coisa quase como que discorrendo, e por isto, nega deste m odo os signos
179
aos anjos. Logo, com igual razão devem ser negados os signos aos animais irracionais, porque estes não utilizam o discurso. Responde-se que, em primeiro lugar, S. Tomás apenas fala da manifestação e representação de modo racional, não da representação feita de m odo natural, podendo, acerca deste assunto, ver-se Caetano. Donde S. Tomás diz mais abaixo que -os animais não têm intenção de manifestar, embora manifestem alguma coisa». Logo, é de opinião que significam alguma coisa, embora não tenham intenção de significar, e assim tal significação enquanto intencionada pede a colação e o discurso, mas não a significação absolutamente. Nem dos animais é dito significarem apenas porque fazem alguma coisa de que se segue a significação, mas porque exercem a significação e percebem o objecto referido, o que as coisas inanimadas não fazem. A segunda citação responde-se que o signo é dito ser encontrado propriamente na cogniçâo discursiva, falando da propriedade da perfeição de significar, não da propriedade que salvaria a essência do signo absolutamente. A razão do signo é discernida na cogniçâo discursiva mais expressa e distintamente que na cogniçâo simples, embora também seja encontrada na cogniçâo simples, como S. Tomás ensina noutros locais. E os anjos também fazem uso dos signos, porque têm o discurso eminentemente, embora o discurso apareça mais formalmente em nós. Argumenta-se em segundo lugar: para o uso do signo é requerido o conhecimento do signo e da sua significação, e do mesmo m odo é requerido o conhecimento do signo e do objecto, ordenado de tal m odo que um conhecimento é coordenado com outro e inferido daquele: de outro modo não se salva a definição do signo instrumental como aquilo que, da cogniçâo preexistente de si, representa alguma outra coisa. Mas estas duas características requeridas não se salvam sem algum conhecimento colativo e discursivo. Pois a significação de alguma coisa não pode ser percebida se não for percebida uma ordem ou conveniência relativamente a outro; mas conhecer a ordem é conhecer uma relação e comparação, o que o sentido interno do animal não pode de nenhum m odo conhecer, e muito menos o sentido externo. Semelhantemente, se uma cogniçâo é coordenada de outra e retirada daquela de tal m odo que a partir de uma cogniçâo se chega a outra, isto é discorrer e conhecer colativamente. o que de nenhum m odo pertence aos sentidos dos animais. Confirma-se porque quando é representado ou apreendido algum objecto no qual um outro está contido, aquela apreensão simples só subsiste no objecto imediato e proposto de m odo simples; de outro m odo não seria uma cogniçâo simples, se se movesse e transitasse de um objecto para outro. Logo, & uso de signos requer a potência
180
conhecendo colativa e discursivamente, e por mais que uma simples tendência; mas todos os sentidos nos animais conhecem de m odo simples e não colativo, E a nossa própria experiência sufraga que quando percebemos o signo e não a força significativa dele, é necessária a colação do signo para o objecto, para que do signo eliciemos a cogniçâo do objecto. Logo, como nos animais não existe a capacidade colativa, não podem perceber a força de um signo naturalmente desconhecido deles, e assim não procedem do costume para inteleccionar o objecto. Responde-se a este argumento que pára o uso do signo não é requerida a dupla cogniçâo, nem que de uma cogniçâo se alcance outra, mas basta que a partir de uma coisa conhecida se alcance outra coisa conhecida. Mas uma coisa é, por um objecto conhecido atingir um objecto diferente, outra é, a partir de uma cogniçâo causar outra. Para a razão da significação, basta que a partir de uma coisa conhecida se chegue a outra, mas não é necessário que se chegue de uma cogniçâo a outra. Donde, diz o Filósofo, no livro acerca da M em ória e Rem iniscência, que o movimento na imagem é o mesmo que o movimento na coisa da qual é imagem, o que S. Tomás, no comentário sobre esta passagem, lect. 3, e na Sum a Teológica, III, q. 25, art. 3, explica sobre o movimento relativamente à imagem, não enquanto é um tipo de coisa, mas como imagem, isto é, enquanto exerce a função de representar e conduzir para outro. “Com efeito, •o movimento na imagem é um e o mesmo que o movimento na coisa", diz S. Tomás. Isto optimamente entendeu Caetano no seu C om entário à Suma Teológica, quando explica que S. Tomás fala da imagem considerada no exercício de imagem ou função de representar, não como um certo tipo de coisa tal como é em si, com o se fora apreendida destacadamente. E que da parte do movimento apreensivo ou cogniçâo, o movimento na imagem e o movimento na coisa representada pela imagem sejam o mesmo, como Caetano aí nota, é o consenso geral de todos, pois no conhecimento de um relativo cai o correlativo. E assim não é necessário o discurso, mas a cogniçâo simples basta para que vista a imagem ou signo da coisa, a própria coisa que no signo está contida e significada seja atingida. E para isto que é dito sobre o conhecimento da significação, que é conhecer alguma relação e ordem, responde-se que não é necessário pôr nos animais o conhecim ento da relação form alm ente e comparativamente; mas os animais conhecem o exercício dela, que funda a relação, sem comparação nem colação. Por exemplo, o animal conhece a coisa distante, para a qual se move, recorda a coisa passada, e tem expectativa da presa futura, como ensina S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 40, art. 3, sem que conheça a relação de futuro,
181
passado ou distância; mas o animal conhece no exercício o que é distante ou futuro ou representante, onde se funda a relação, a qual formalmente e comparativamente ele não conhece. Para confirmação responde-se que, na cogniçâo simples que não se toma discurso nem colação, pode ser atingido não só o objecto, que imediatamente é proposto ou aposto ao sentido, mas o que nele está contido; assim como a visão vê Hércules na estátua, e a forma representando a coisa colorida também representa a figura e o movimento e outros sensíveis comuns aí contidos e juntos, contudo não pode por isto passar além da cogniçâo simples, embora o conhecido não seja simples, mas múltiplo; de outro m odo não poderiamos pela simples visão ver vários objectos. Mas se podemos ver vários objectos na simples visão, porque não também uma pluralidade ordenada, e uma coisa através de outra, e consequentemente o objecto através do signo e com o contido no signo? E a respeito daquela experiência de apreender o signo sem apreender a sua força significativa, é dito que no caso dos signos cuja significação a princípio não conhecemos, tanto nós quanto os animais temos necessidade do costume. Mas nós habituamo-nos com a razão e o discurso, já os animais se habituam enquanto a sua memória é fortificada por algumas pluralidades ouvidas ou conhecidas,, como por exemplo um certo nome, especialmente se daí são afectados por algum benefício ou prejuízo, donde recordam-no com o algo de que fugir, ou para prosseguir. E assim, a memória basta para a formar d o hábito, e os animais que não têm memória não são passíveis de formar hábito. Veja-se S. Tomás no C om entário à M etafísica de Aristóteles, I, lect. 1, e D e Veritate, q. 24, art. 2, resp. obj. 7. Por último, argumenta-se: uma ovelha, por exemplo, ouvido o rugido não apreende o leão, excepto como nocivo, mas não como representado a partir da força do rugido, logo, não utiliza o rugido com o signo. A consequência é patente porque não se pode utilizar nenhum signo, excepto para o que é representado pela força de tal signo. Logo, se isto que se apreende não é representado pela força de tal signo, então, formalmente falando, não utiliza aquele como signo. A antecedente prova-se porque a ovelha apreende o leão com o nocivo por um instinto natural, logo, não apreende de uma cogniçâo preexistente. Pois o que é conhecido por instinto natural não é atingido como resultado de uma cogniçâo preexistente, e assim não é pelo signo que a ovelha atinge o leão com o nocivo. Mas a ovelha não atinge o leão de outro m odo que enquanto nocivo. Confirma-se porque o signo, essencialmente, é meio condutor para a cogniçâo do objecto. Mas os meios diferem em consequência das diversas ordens para um fim, logç também os signos diferem por
182
causa disto. Mas nos homens e nos animais os signos não são ordenados para o objecto de m odo unívoco, porque os animais são trazidos para o objecto conhecendo a ordem e a relação do signo para o referente da mesma maneira que os homens. Logo, significar nos homens e nos animais não é dito univocamente, assim como não o é «conhecer» ou «ser disciplinado». Responde-se a este argumento que a ovelha, ouvido o rugido, apreende o leão como nocivo e, com o tal nocivo específico, pois foge e teme o rugido do leão mais que o uivo d o lobo. Donde faz a discriminação entre um e outro, o que não sucedería se não fosse conduzida por aquele signo ao leão e ao lobo como distintos entre si, e nocivos de m odo diverso. Mas que o instinto natural forme o juízo do leão e do lobo para fugir, não retira o facto de que a ovelha o faz de uma cogniçâo preexistente. Com efeito, alguma cogniçâo no sentido externo deve necessariamente preceder, seja a cogniçâo que vê o leão, seja a que ouve o rugido dele, para que o sentido estimativo o apreenda e julgue como inimigo. Pois os animais têm julgamento, mas sem indiferença, logo, determinado para uma coisa e a partir do instinto natural, instinto que não exclui a cogniçâo e o julgamento, mas a indiferença. Sobre isto pode ver-se S. Tomás na Sum a Teoló gica, I, q. 83, art. 1, e D e Veritate, q. 24, art. 2. Para confirmação responde-se que o signo e o acto de significar são tomados univocamente através da ordem para o objecto enquanto -manifestãvel à potência. Mas, que isto seja feito de tal ou tal m odo de acordo com a forma com o a potência faz uso do signo, não torna a razão do signo análoga ou equívoca na ordem de manifestar, mas toma os modos da potência diferentes na cogniçâo e no uso do signo. Nem existe semelhança entre conhecer racionalmente e representar, porque conhecer formalmente exprim e a cogniçâo segundo a razão e a consequência, que não convêm ao animal; mas representar significando exprime precisamente a manifestação de uma coisa através de algum meio, sem determinar que essa manifestação seja através de uma consequência ou razão.
183
CONSEQUÊNCIA E APÊNDICE A TODOS OS LIVROS
Coligindo o que acerca do signo natural e de razão dissemos nestas questões, expusemos qual é a definição do signo, quais são as condições requeridas para o signo, e de que modo difere a razão do signo da imagem e de outros manifestativos de coisas diferentes deles. E, na verdade, a definição de signo em geral é essencial. Mas definimos o signo em geral abstraindo do signo formal e instrumental, ou seja: «aquilo que representa alguma coisa diferente de si». Pois aquela definição que circula desde Agostinho: «Signo é aquilo que, além da espécie que apresenta aos sentidos, alguma outra coisa faz vir à cogniçâo», só trata do signo instrumental. Mas a definição aqui posta é trazida de S. Tomás no Livro IV do Com entário às Sentenças de Pedro Lombardo, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 1, resp. obj. 5, onde diz que «o signo importa alguma coisa de manifesto quanto a nós, pela qual somos conduzidos ao conhecimento de outra coisa». E em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, diz que «o signo, geralmente falando, é qualquer coisa conhecida, na qual uma outra coisa é conhecida», onde a palavra «geralmente» é o mesmo que «em geral». Esta definição é essencial pelo modo no qual os relativos são ditos serem essencialmente definidos pelo seu fundamento e em ordem para um termo; pois é do fundamento e do termo que é especificada a acção. Mas a razão do representativo não consiste na relação categorial formal, porque o representativo é dado também no termo não existente, como é claro no caso do imperador morto
185
representado pela imagem. Portanto, a razão do representativo permanece na relação não existente, e assim o representativo formalmente não é relação, mas no signo é o fundamento da relação, enquanto existe relativamente a outro e funda a representação de outro, e não permanece em si. E assim o fundamento do signo é tratado em termos de gênero e diferença. Pois «representativo" é um gênero, uma vez que é comum ao que se representa a si, com o o objecto movendo para a cogniçâo de si, e comum ao que representa outra coisa diferente de si, com o o signo, e é inferior ao ser manifestativo, porque muitas coisas manifestam e não representam, como a luz manifesta iluminando, não representando, e o hábito, que também é dito luz, e assim por diante com as outras coisas que efectivamente manifestam, mas não representativa e objectivamente. De tudo isto coliges que na definição de signo a palavra -representa* é tomada estrita e formalissimamente, em particular para o que representa de tal maneira que não manifesta de outro m odo excepto representando, isto é, o signo tem-se da parte do objecto representado de tal maneira que só serve a representá-lo, nem de outro m odo manifesta senão representando. Donde excluis muitas coisas que representam outras coisas diferentes de si e não são signos, e concluís que o signo deve ser mais conhecido e mais manifesto que o objecto significado ao representar, para que na existência e na razão do cognoscível seja dissemelhante e inferior a esse objecto. O primeiro ponto é patente porque muitas coisas manifestam outras diferentes de si contendo-as, ou iluminando, ou causando, ou inferindo, e assim não só representam mas iluminam e mostram pela força de alguma conexão, não em virtude da pura representação, isto é, na função de representar e de objectificar à potência na vez de outro. Assim, premissas enquanto inferentes não significam a conclusão (embora algumas vezes a demonstração seja inferida do signo, mas aí significar tem-se materialmente); assim, a luz não significa as cores, mas manifesta-as, Deus não significa as criaturas, embora as represente, porque não as contém puramente por representar e fazer as vezes delas, mas também as contém como causa e manifestando-as pela sua própria luz. Donde é impossível que seja dada alguma coisa manifestando outra puramente ao representar, excepto se é inferior e menos que aquela que representa, funcionando com o um substituto e fazendo as vezes dela. Mas o signo deve ser dissemelhante do objecto significado, porque é mais conhecido e manifesto, de outro modo, se é igualmente manifesto, não há razão para que isto seja signo daquilo ou de outra coisa; por isso, o signo deve ser .inferior e menor que o objecto,
186
porque igual, como vimos, não poderá ser. Mas se é superior, conterá ou causará o objecto, não o representará puramente e fará as vezes dele. Pois aquilo que é superior não representa outro a não ser se o causa; de outro modo, o homem representaria tudo o que é inferior a si, e o anjo supremo todas as coisas do mundo. Mas se uma coisa representa outra, porque a contém de m odo superior e a causa, e não representa puramente e precisamente fazendo as vezes dela, então não é signo. De tudo isto coliges quais as condições requeridas para que alguma coisa seja signo. Com efeito, o ser do signo consiste essencialmente na ordem para o objecto como coisa distinta manifestável à potência,e assim, o objecto e a potência não são parte das condições requeridas, mas fazem parte da razão essencial do signo. De forma semelhante, é requerida a razão do representativo, mas da parte do fundamento, e, logo, o representativo enquanto tal não é relação categorial, mesmo se é representativo de outro, mas relação transcendental; contudo, no signo, funda a relação do mensurado para o objecto, que é categorial. Além destas, são ainda requeridas ou seguem-se três condições já mencionadas: Prim eiro, que o signo seja mais conhecido que o objecto, não segundo a natureza, mas quanto a nós. Segundo, que seja inferior ou mais imperfeito que o objecto. Terceiro, que seja dissemelhante do próprio objecto. Donde se segue que uma imagem não é signo de outra imagem, nem uma ovelha é signo de outra ovelha, e quaisquer outras coisas que sejam as mesmas em espécie, enquanto tal, não funcionam uma como signo de outra, porque cada uma é igualmente principal. Nem obsta que uma imagem seja transcrita de outra, pois isto é acidental à razão do signo, assim como também um homem feito de outro não é signo daquele, embora seja imagem. Pois na razão de significar cada imagem tem o mesmo protótipo com o essencialm ente representado, embora uma imagem possa ter uma maior excelência que outra, porque mais antiga, ou primeira ou mais bem fabricada, o que é acidental. Mas um conceito pode representar outro conceito, como o conceito reflexo representa o conceito directo, embora difiram em espécie, porque representam objectos diferentes em espécie, ou seja, um representa um objecto externo, o outro o próprio conceito interno. Mas se inquires de que modo uma coisa semelhante representa ou manifesta outra coisa semelhante, responde-se que representa essa outra como correlativo, não como representativo, isto é, por aquela razão geral pela qual um relativo expressa uma ordem ao seu correlativo e o inclui, porque os correlativos são conhecidos simul
187
taneamente, e não pela razão especial pela qual uma coisa é repre sentativamente relacionada a outra e exerce a função de apresentar outros objectos à potência. Finalmente, d o que foi dito torna-se claro de que m od o diferem o signo e a im agem . Pois em primeiro lugar nem toda a imagem é signo, e nem todo o signo é imagem. Com efeito, p od e a imagem ser da mesma natureza daquilo de que é imagem, com o no caso do filho, mesmo nas pessoas divinas, e contudo não é signo daquilo de que é imagem. Muitos signos também não são imagens, com o o fum o é signo d o fogo, o gem ido da dor. Logo, a essência da imagem consiste nisto, que proceda de outro com o de um princípio e à semelhança desse outro, com o S. Tomás ensina na Sum a Teológica, I, q. 35 e q. 93, e assim a imagem é feita para imitação de outro e p od e ser tão perfeitamente semelhante ao seu princípio com o ser da m esma natureza qu e o p ró p rio e ser im agem p rop agativa e comunicativa, não apenas representativa. Mas da natureza d o signo não faz parte proceder de outro na semelhança, mas que seja m eio condutor de outro para a potência, e substitua a favor desse outro ao representar, com o alguma coisa díssemelhante e mais imperfeita que ele.
Capítulo I
SE É CORRECTA E UNÍVOCA A DIVISÃO D O SIGNO EM FORMAL E INSTRUMENTAL
D o signo instrumental, que verdadeira e propriamente seja signo, ninguém duvida; com efeito, nada é mais manifesto que o facto de os signos instrumentais e exteriores verdadeiramente serem signos. Mas toda a dificuldade surge ao abordar os signos formais, pelos quais a potência cognitiva é formada e informada para a manifestação e o conhecimento do objecto. E toda a dificuldade se resume a isto: de que modo pertence ao signo formal a natureza do meio condutor da potência para o objecto, e de que modo pertencem ao signo formal as condições do signo, especialmente esta, que o signo seja mais imperfeito que o seu significado, e que uma coisa seja dita ser conhecida mais imperfeitamente pelo signo que se em si própria e imediatamente fosse conhecida e representada. E a razão desta dificuldade reside no facto de que o signo formal, como é a própria apercepção ou conceito da coisa, não acrescenta numericamente a própria cognição para a qual conduz a potência. Logo, não pode possuir a natureza de um meio para que a potência seja tomada cognoscente, nem para fazer do objecto não manifesto um objecto manifesto, uma vez que o signo formal é a própria razão e forma de conhecer; e assim, o signo formal para isto conduz, para que o conceito e a apercepção sejam postos na potência e esta se torne cognoscente; mas o próprio conceito não é meio para conhecer. Pelo contrário, de alguma coisa é dito ser conhecida igualmente imediatamente quando é conhecida em si e quando é conhecida
191
mediante um conceito ou apercepção; com efeito, o conceito não faz a cognição mediata. Para que mais breve e claramente iniciemos este assunto, adverte S. Tomás no C om entário às Sentenças de Ped ro Lom bardo, TV, dist. 49, q. 2, art. 1, resp. obj. 15, e nas Quaestíones Quodlibetales, q. 7, art. 1, que o meio na cognição é triplo: m eio sob o qu a l, com o a luz sob cuja iluminação alguém vê; m eio p elo qual, ou seja a espécie pela qual a coisa é vista; e m eio no qual, ou seja, em que outra coisa é vista, com o quando no espelho vejo o homem. E este m eio no qu a l pode ainda ser duplo: ou alguma coisa material e fora da potência, com o aquilo em que existe uma semelhança ou imagem de outro, tal com o no espelho a imagem do homem; ou outra coisa formal e intrínseca â potência, como a forma expressa ou a palavra na mente, na qual a coisa inteleccionada é conhecida. Pois S. Tomás ensina em D e Potentia, q. 8, art. 1, e q. 9, art. 5, e nós mostramos nos livros D a Alm a, q. 11, que a palavra mental ou conceito é dado com o distinto do acto de cognição. Mais ainda, esta é a principal razão para explicar a palavra no Ser Divino, porque em nós tal verbo é dado procedendo por intelecção. Mas os que negam poder dar-se esta palavra em nós, destroem esta razão. E o primeiro m eio no qu a l faz a cognição mediata, isto é, a partir de outra coisa conhecida, ou' cognição deduzida, e pertence ao signo instrumental; mas o segundo m eio n o q u a l não constitui uma cognição mediata, porque não du plica o objecto conhecido nem a cognição. De resto, é verdadeira e propriamente um meio representando um objecto, não com o meio extrínseco, mas com o intrínseco e form ando a potência. Pois representar não é mais do que tornar o objecto presente e unido à potência na existência cognoscível, seja ao m odo do princípio e espécie impressa, que se mantém da parte do princípio, porque é dela própria e da potência que a cognição deve proceder; seja da parte d o termo na espécie expressa, que se mantém da parte do termo, porque na própria espécie o objecto é proposto e apresentado como conhecido e terminando a cognição no interior da potência, onde a espécie se reveste da razão do objecto. Mas um objecto é tomado presente ou representado à potência, não a partir dele próprio imediatamente, mas mediante o conceito ou espécie expressa. Logo, o conceito é m eio ao representar, meio pelo qual o objecto é tomado representado e conjunto com a potência. D igo portanto em primeiro lugar: na op in iã o de S. Tomás, é mais prová vel que o signo fo rm a l seja verdadeira e propriam ente signo, e logo univocam ente com o signo instrum ental, em bora no m odo de s ig n ifica r em m uito difiram .
192
E para tomar mais claro o que o Santo Doutor tinha em mente, devemos ponderar que algumas vezes fala do signo enquanto exerce precisamente o ofício de representar outro diferente de si, e desta forma concede ao signo formal a razão do signo simplesmente. De outras vezes fala S. Tomás do signo que, enquanto coisa objectificada e primeiro conhecida, nos conduz para algum objecto, e em tal acepção ensina que o signo se encontra principalmente nos sensíveis, não nos espirituais, que nos são menos manifestos, com o diz no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo , IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 2, e na Suma Teológica, III, q. 60, art. 4, resp. obj. 1. Logo, que o signo formal seja signo simplesmente e absolutamente deduz-se primeiro das Quaestiones Quodlibetales, q. 4, art. 17, onde diz que «a v o z é signo e não objecto significado; mas o conceito é signo e objecto significado, assim como é também coisa conhecida». Mas, segundo S. Tomás, não pode o conceito ser signo instrumental, pois não é patente a partir de si nem objecto extrínseco movente; logo, atribui-lhe a razão do signo enquanto signo formal. D o mesmo modo, em D e Veritate, q. 4, art. 1, resp. obj. 7, assim diz: «A razão do signo pertence primeiro ao efeito que à causa, quando a causa é relacionada ao efeito como sua causa de ser, mas não quando é relacionada ao efeito com o causa de significar. Mas quando um efeito tem da causa não somente a sua existência, mas também o facto de significar, então assim como a causa é anterior ao 'efeito na existência, assim também é anterior no significar, e logo a palavra interior tem a razão de significação que é anterior à da palavra exterior.» Assim S. Tomás, onde fala absolutamente da palavrá mental, também lhe atribui a natureza do signo, que não pode ser signo instrumental, porque a palavra mental não existe nem m ove fora da potência, com o foi dito. Finalmente, em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, diz que -os signos em nós são coisas sensíveis, porque a nossa cognição, como é discursiva, nasce dos sentidos. Mas, em geral, podemos dizer que é signo qualquer coisa conhecida, pela qual outra coisa é conhecida. E, segundo isto, uma forma inteligível pode ser dita signo da coisa que através dela é conhecida. E assim, os anjos conhecem as coisas através de signos, e um anjo comunica com outro através de signos». Assim, S. Tomás quando diz -em geral podemos dizer«, não usa a palavra -em geral» com o o mesmo que «imprópria» e «não ver dadeiramente», mas usa-a segundo a razão do signo que é si multaneamente geral e verdadeiro, embora não fale da maneira habitual na qual empregamos os signos de acordo com o nosso m odo de conhecer, passando de um para outro e formando a cognição, imperfeita ou discursiva, do signo para o objecto. E assim, m
193
quanto ao modo de conhecer, com maior propriedade se encontra a razão do signo no signo externo e instrumental, enquanto o acto de conduzir de uma coisa para outra é mais manifestamente exercido quando duas cognições existem, uma do signo, outra do objecto, do que quando existe apenas uma única cognição, caso que sucede no signo formal. Donde S. Tomás diz em último lugar em D e Verítate, art. 4, resp. obj. 5, que «não pertence à razão do signo propriamente entendida que seja anterior ou posterior por natureza, mas apenas que seja pré-conhecido por nós». Donde sucede que, para salvar a propriedade do signo, basta que este seja pré-conhecido, o que o signo formal alcança, não porque seja conhecido com o objecto, mas com o razão e forma pela qual o objecto é tornado conhecido no interior da potência, sendo assim pré-conhecido formalmente, não denominativamente e como coisa conhecida. E disto retira-se o fundamento da conclusão, porque ao signo formal pertence própria e verdadeiramente ser representativo de outro diferente de si, e é ordenado a partir da sua natureza para esta representação enquanto substituinte em lugar da coisa ou do objecto que torna presente ao intelecto; logo, preserva a natureza essencial do signo. A consequência é patente porque salva a definição que foi trazidado signo, que seja representativo de outro diferente de si ao m odo de alguma coisa mais conhecida e substituinte de outro, e, logo, não igual a esse outro, mas mais imperfeito e deficiente. E tudo isto se encontra no signo formal. Pois o conceito, por exemplo, de homem, representa outra coisa diferente de si, ou seja os homens; e é mais conhecido, não objectiva mas formalmente; uma vez que torna conhecido o homem, que sem o conceito é desconhecido e não presente ao intelecto; e pela mesma razão é primeiro conhecido formalmente, isto é, funciona com o razão pela qual o objecto é tomado conhecido. Mas isto que é razão para que alguma coisa seja de tal tipo, enquanto razão e forma é anterior a essa coisa, do mesmo m odo que a forma é anterior ao efeito formal. Logo, se o conceito é razão para que a coisa seja conhecida, é anterior pela prioridade da forma ao sujeito e razão denominante para a coisa denominada. Semelhantemente, um conceito não é igual ao próprio objecto representado, mas inferior e mais imperfeito do que aquele, com o é patente no caso dos conceitos criados, porque os conceitos criados são intenções ordenadas e subordinadas pela sua natureza para substituir objectos e fazer as vezes deles do ponto de vista do termo representado e do acto de conhecer pela potência. Logo, são inferiores ao objecto enquanto é objecto daqueles conceitos, porque sempre o objecto se tem como principal, e o «conceito com o representando e
194
fazendo as vezes dele. E assim, no ser intencional, o conceito é sempre inferior, embora noutros casos, no intelecto das entida des espirituais, o conceito possa algumas vezes superar o objecto. E quando dizemos que o objecto é principal e mais perfeito, falamos do objecto primário e formal do conceito; pois o objecto material e secundário comporta-se acessoriamente, nem é necessário que seja mais perfeito que o conceito, uma v ez que o conceito não se substitui por aquele objecto directa e essencialmente. Finalmente, não obsta que o conceito não paréça acrescentar numericamente ao objecto representado, uma vez que a coisa é vista no conceito e não fora dele. Pois embora no m odo representativo uma coisa possa ser vista como resultante do conceito representante e do objecto representado, contudo esta unidade não destrói o verdadeiro e próprio ser representativo e significativo. E ainda, quanto mais a representação é una com a coisa representada, tanto melhor e mais eficazmente é feita a representação. Contudo, não importa quão perfeito, um conceito em nós não atinge a identidade com o representado, porque nunca atinge isto, que se represente a si, mas antes sempre representa outro diferente de si, porque funciona sempre como substituinte a respeito do objecto; logo, retém sempre a distinção entre a coisa significada e o próprio significante. Nas pessoas divinas o caso é diferente. Pois o Verbo, porque é a suma representação em acto puro, pela força de tanta representação atinge a identidade com a essência divina representada, e assim perde a razão do signo, sobre o que veja-se S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 27, art. 1. E por esta mesma razão o conceito ou espécie èxpressa retém a razão do meio quanto baste para a razão do signo. Pois tem a razão do m eio no qual, porque nunca se representa a si, mas outro diferente de si, enquanto se mantém da parte do termo da cognição, não da parte do princípio, como sucede com a espécie impressa. Mas porque não é termo último ou conhecido enquanto coisa, mas servindo à potência, para que nele a potência apreenda a coisa enquanto finalmente conhecida, logo possui suficientemente a razão do meio, pelo próprio facto de que não é o termo último no conhecimento. Nem se diz relacionar-se deficientemente com o objecto, como se deficiente ê imperfeitamente representasse; pois uma representação imperfeita e deficiente não pertence à razão do signo, mas sobrevém-lhe fortuitamente. Mas para um conceito ser signo basta que, de si, seja subserviente ao referente e faça as vezes do objecto representado, substituindo-se em lugar daquele; uma vez que enquanto tal, é inferior àquilo por que se substitui. D igo em segundo lugar: a divisão em signo fo n n a l e instrum ental é essencial, unívoca e adequada.
195
Que seja unívoca e essencial deduz-se da conclusão precedente, porque o signo formal verdadeira e essencialmente é signo, como mostramos. Mas do instrumental ninguém duvida que seja signo. Logo, esta divisão é essencial e unívoca. Todavia, que a divisão seja adequada, estabelece-se porque os membros da divisão são reduzidos a contraditórios, e assim esgotam o todo dividido. Pois com o todo o signo é meio condutor para outro, ou este m eio é primeiro conhecido, para que o outro seja conhecido como resultado, ou não. Se é primeiro conhecido denominativamente ou objectivamente, é signo instrumental. Se não é primeiro conhecido objectivamente, e contudo representa outro, fá-lo formalmente, porque é a razão pela qual outro é tomado conhecido no interior da potência, não fora dela, com o objecto conhecido; logo, é signo formal. Finalmente, que a divisão seja essencial, não acidental, estabelece-se do facto de que a razão essencial do signo consiste na representa ção do significado, enquanto objecto tornado presente à potência e com aquela unido. Mas tornar outro formalmente presente à potência a partir de si próprio, e tornar outro presente como coisa primeiro conhecida e com o objecto da potência, são essencialmente modos diversos de representação. Logo, diferentes presenças resultam da forma representando imediatamente ou de um objecto primeiro conhecido como objecto, e consequentemente existem representações e coisas conhecidas essencialmente diferentes, e, logo, existem signos essencialmente diversos.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Contra a primeira conclusão podem ser formados argumentos, seja de algumas coisas escritas por S. Tomás, seja tentando provar que não pertencem ao signo formal as condições requeridas para a essência do signo. De S. Tomás pode objectar-se primeiro, porque na Suma Teológica, III, q. 60, art. 4, resp. obj. 1, diz que primeiro e principalmente são ditas signos as coisas que são oferecidas aos sentidos, mas os efeitos inteligíveis não têm a natureza d o signo, excepto quando são manifestados por algum signo. Ora, os signos formais são um tipo de efeito inteligível, assim como são conceitos e espécies expressas; logo, não são signos, excepto enquanto são manifestados por alguma coisa sensível. Semelhantemente, no Com entário às Sentenças cie Pedro Lombardo, IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 2, diz que «â palavra ‘signo’, quanto ao seu primeiro sentido, refere-se a alguma coisa sensível, de
196
acordo com a qual somos conduzidos à cogniçâo de alguma coisa oculta». Logo, como «signo formal» não designa alguma coisa sensível conduzindo para outra oculta, não são os signos formais primeira e essencialmente signos. E para a mesma conclusão serve o texto que citamos acima, D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, onde S. Tomás diz que o signo propriamente é encontrado quando a cogniçâo discorre de um objecto para outro; contudo, pode ser dito em geral que signo é tudo o que é conhecido, no qual alguma outra coisa é conhecida. Logo, o signo formal não é propriamente signo. Responde-se que nestes locais S. Tomás não fala do signo segundo a comum natureza do signo, mas segundo serve a nossa cogniçâo, enquanto a nossa cogniçâo necessita primeiro da condução externa de um objecto, e só depois requer formação por conceitos e formas inteligíveis; e, nesta última necessidade, a nossa cogniçâo coincide com a dos anjos, mas difere na primeira, e assim, é próprio da nossa cogniçâo ser conduzida a partir do objecto proposto externamente. Mas a respeito do nosso conhecimento, a razão própria do signo é encontrada no signo sensível que nos conduz ao objecto. D igo razão «própria», não de um signo enquanto tal, mas «própria» enquanto nos serve a nós no uso da nossa cogniçâo. Donde as coisas que são espirituais não estão sujeitas à nossa cogniçâo ao modo do signo [enquanto objecto que representa outro objecto], excepto se nos são manifestadas através de alguma coisa sensível. E é desta forma que S. Tomás fala na terceira parte da Suma Teológica e no C om entário às Sentenças, IV. Mas explica o que tem em mente em D e Veritate, q. 9, já citada, onde diz que o signo é propriamente encontrado quando a cogniçâo discorre de um objecto para outro. Digo «propriamente» quanto a nós, e enquanto o signo serve a aquisição da cogniçâo. Mas S. Tomás acrescenta que, em geral, qualquer coisa conhecida na qual outra coisa é conhecida pode ser dita signo, não entendendo pelo termo «em geral» que fale de um signo impróprio, mas a comum razão do signo, própria segundo a sua natureza, do signo, mas não própria segundo o nosso m odo de adquirir a cogniçâo. Argumenta-se, em segundo lugar, que as condições requeridas para o signo estão ausentes no caso do signo formal. Pois o signo formal não tem a razão do meio, mas pode ter a razão d o termo da cogniçâo, e consequentemente ser posterior à própria cogniçâo e proceder daquela, com o é patente no conceito ou palavra mental, que é termo de intelecção e procede da própria intelecção. Logo, o signo formal não é meio da própria intelecção. D o mesmo modo, o conceito não faz a cogniçâo mediata mas imediata, pois inteleccionamos a coisa objectificada imediatamente em si, m esm o se
197
inteleccionamos mediante o conceito e a apercepção. Mas é contra a razão do signo que faça alguma coisa conhecida imediatamente e em si; pois quando conhecemos a coisa pelo signo, conhecemos menos perfeitamente que se conhecéssemos a coisa em si própria imediatamente. Logo, como o signo formal não retira, mas antes conduz para conhecer a coisa em si, não se reveste da própria razão do signo. Confirma-se porque vemos que a razão formal sob a q u a l não é dita signo a respeito da razão objectiva a qual\ e que também não é dita signo a espécie impressa, porque é um princípio intrínseco de conhecer, com o diremos mais abaixo. Logo, também o signo formal não será signo, porque é a própria forma de conhecer, nem acrescenta em número com o objecto para o tornar conhecido, e tem-se da parte do termo intrínseco da cognição, assim como a espécie impressa se mantém da parte do princípio. Logo, ou ambas, espécie impressa e expressa, serão signo, porque são representativas, ou ambas não serão signo, porque são ambas formas intrínsecas da apercepção e da cognição. Resppnde-se para a primeira parte do argumento que o signo formal, que é um conceito, tem a razão de um termo da cognição, mas não de um termo final, antes de um termo ordenado para um termo ulterior, ou seja para a coisa que é conhecida e é representada naquele termo. Ora, não é inconveniente que alguma coisa seja termo e meio, quando não é termo último, mas diz respeito e está ordenado para alguma coisa exterior. Nem pode insistir-se que, porque o objecto não é atingido tal como é exteriormente, mas é-o tal como está contido e é tomado inteligível no interior do conceito, o conceito não é alguma coisa conducente para outra fora de si, mas conducente para uma coisa que subsiste em si. Responde-se distinguindo a antecedente: que o objecto não é atingido tal como é fora do conceito, é verdadeiro, se a expressão «tal como» expressa a razão de atingir; se exprime a coisa atingida, é falso, pois essa coisa que está fora é verdadeiramente atingida e conhecida, embora por m eio de uma cognição intrínseca e conceito, e isto basta para que o conceito seja signo e meio intrínseco. Para a outra parte do argumento responde-se que o signo formal não é necessariamente aquele que faz a cognição mediata pela mediação de um objecto conhecido, mas pela mediação de uma forma informante e tornando o objecto presente, como diremos mais amplamente ao tratar da palavra mental nos livros D a Alm a, q. 11. E do mesmo m odo verificamos que o signo formal é algo condutor para o seu significado formalmente, isto é, como forma representando
198
e unindo o objecto à potência, nâo instrumentalmente ou com o coisa primeiro conhecida, e também é mais conhecida formalmente, não objectiva ou denominativamente. À proposição acrescentada, que pertence à razão do signo fazer a cognição imperfeita não da coisa como é em si, responde-se que isto apenas pertence ao signo instrumental, que por alguma coisa estranha representa o objecto, mas não ao signo dito em geral, que só exprime alguma coisa mais conhecida, na qual é manifestada uma coisa menos conhecida, com o já dissemos muitas vezes de S. Tomás na q. 9 de D e Veritate. art. 4, resp. obj. 4. E esta razão geral é pre servada no signo formal, que é mais conhecido que a coisa significada, porque formalmente torna aquela conhecida e é meio para aquela também formal e representativamente, embora não seja uma repre sentação estranha e imperfeita, mas apenas a representação de outro diferente de si, a favor do qual substitui e para o qual é ordenado. E se insistes: pois o Verbo Divino é excluído da razão do signo por este motivo apenas, porque representa perfeitissimamente a Divina Essência; e semelhantemente o filho de Pedro, embora seja imagem dele, não é signo, porque perfeitamente iguala a semelhança de Pedro; e Deus nâo é signo das criaturas, embora as represente, porque as representa perfeitissimamente. Logo, pertence à razão do signo representar imperfeitamente. Responde-se a isto que o Verbo Divino nâo é signo de Deus, não só porque perfeitissimamente representa, -mas porque é consubstanciai e igual a Deus. E assim, não é mais conhecido nem substituindo ou servindo a favor d’Ele, muito menos a respeito das criaturas, para as quais não é ordenado, mas as criaturas são ordenadas para Deus, e assim, as criaturas são signos de Deus, signos que nos representam Deus enquanto são elas próprias mais conhecidas de nós. Contudo, não pertence à razão do signo a im perfeição da cognição que gera, mas a substituição a favor do objecto, que representa. Mas o homem, que é filho do seu pai, não é mais conhecido d o que o pai, mas univocamente igual, e assim não se reveste da razão do signo. Para confirmação responde-se que a razão formal sob a qu a l nâo é signo, porque não faz o objecto presente à potência, mas constitui o próprio objecto no ser de tal ou tal tipo determinada e especi ficamente; todavia, na razão de ser presente e conjunto à potência, isto é feito pelo signo formal, ou instrumental, ou alguma outra coisa fazendo as vezes do objecto. Mas à proposição acrescentada de que o signo formal nâo acrescenta em número com a própria coisa significada, para a tomar conhecida, responde-se ser verdadeiro que o signo formal não acrescenta em número como se existissem duas coisas conhecidas e
199
representadas; mas não é verdade que o signo formal nâo acrescente numericamente como se existisse uma coisa representando e outra representada; e assim, basta que haja um signo e um objecto, embora no ser intencional ou representativo o signo formal seja dito ser uno com o objecto, não só como sucede com aquelas coisas que coincidem numa razão comum, mas antes porque totalmente contém o mesmo número que está no outro, e representa aquele. Mas este facto supõe que sejam distintos o representante e o representado, de tal modo que nunca uma e a mesma coisa se represente a si própria, pois esta identidade destrói a razão do signo. Finalmente, para ó que é dito acerca da espécie impressa, que será signo da mesma forma que a espécie expressa, trataremos mais adiante no capítulo j p Basta por agora dizer que se a espécie impressa é removida da razão do signo, isto sucede porque não representa à cognição, mas à potência, para que produza a cogniçào. Mas a espécie expressa representa à potência e à cognição, porque é termo da cognição e também forma representando à própria cognição. Todavia, disto trataremos mais adiante. Contra a segunda conclusão, argumenta-se que esta divisão não parece nem unívoca nem adequada nem essencial. Ergo. A antecedente quanto à primeira parte, que a divisão não é unívoca, prova-se porque esta divisão compreende os signos instrumentais em toda a sua latitude, e assim compreende os signos instrumentais, os naturais e os convencionais, que não coincidem univocamente na razão do signo, uma vez que um é real, o outro de razão. Semelhantemente, a razão do meio não é encontrada univocamente no signo instrumental e no signo formal, mas é encontrada em um com uma prioridade natural sobre o outro, e dependentemente no caso do signo exterior. Donde diz S. Tomás em D e Veritate, q. 4, art. 1, resp. obj. 7, que a significação é encontrada primeiro por uma prioridade natural na palavra interior sobre a exterior, logo não univocamente. A segunda parte, que a divisão não é adequada, prova-se porque parecem dar-se alguns signos que não são formais nem instrumentais, e também alguns que podem simultaneamente ser as duas coisas. Exemplo do primeiro: certamente o fantasma é isto, no qual o intelecto conhece o singular, e contudo nem é signo formal, uma vez que não é inerente nem informa o intelecto; nem é instrumental, porque não conduz para o objecto a partir de uma cognição pré-existente, mas imediatamente representa o objecto; pois o intelecto não necessita primeiro de conhecer o fantasma enquanto coisa conhecida para ter conhecimento dos singulares. Semelhantemente, o fantasma do fumo a respeito do intelecto não é signo formal do fogo, porque nâo
200
informa o intelecto; nem é signo instrumental, porque não é efeito do próprio fogo, assim como o é o fumo da parte da coisa real. Do mesmo modo, o conceito não ultimado é signo formal a respeito da voz, e instrumental a respeito da coisa significada pela voz; e o conceito de homem ou de anjo, em ordem para si, 6 signo formal, e em ordem para aquele a quem se fala ê signo instrumental. Logo, a mesma coisa pode ser signo formal e instrumental. Finalmente, a terceira parte da antecedente, que a divisão dos signos em formal e instrumental não é essencial, prova-se porque esta divisão é tirada em ordem para a potência; uma ve z que o signo formal é inerente à potência, e o instrumental é o que é conhecido. Mas a ordem para a potência não pertence à constituição d o signo directa, mas obliquamente, como dissemos na questão precedente. Logo, esta divisão não é essencial primeiiamente e por si. E confirma-se porque não pode a mesma coisa ser dividida por duas divisões essenciais não postas subalternamente. Mas a divisão do signo em natural e convencional é essencial, com o abaixo diremos, e não é subordinada à divisão entre signo instrumental e formal, porque o signo natural também é superior ao formal e instrumental, e novamente o signo instrumental divide-se em natural e convencional. Logo, estas divisões não são essenciais. Para a primeira parte do argumento duas coisas podem ser ditas. Primeiro, que nesta divisão entre formal e instrumental o signo não é dividido em toda a sua latitude, mas apenas os signos naturais, porque só os signos naturais são incluídos em ambos os membros. E embora o signo convencional seja também instrumental, contudo nâo é um signo instrumental enquanto o instrumental é oposto do formal; pois o signo formal nesta divisão é contraposto apenas ao signo natural instrumental. Mas o signo convencional é signo com o se fora extrinsecamente e não por si. E, em toda a divisão, o que é capaz de ser incluído em cada um dos membros que dividem, deve sempre ser aceite como aquilo que é dividido. Por exemplo, quando o hábito intelectivo é dividido em sapiência e conhecimento, a divisão é unívoca; contudo, a palavra -sapiência" não deve ser entendida em toda a sua latitude, enquanto compreende também a sapiência incriada, pois assim entendida não divide o hábito. E, de m odo semelhante, a relação é dividida univocamente em relação de pater nidade e de semelhança; contudo não deve a paternidade ser inteleccionada em toda a sua latitude, enquanto inclui também a divina. Assim, é dividido o signo em formal e instrumental univocamente, nâo em toda a sua latitude da parte do signo instrumental, mas enquanto restringido ao signo natural.
201
Em segundo lugar, responde-se que a divisão pode ser unívoca mesmo tomando o signo instrumental em toda a sua latitude, enquanto também compreende o signo convencional, porque embora o que é real e o que é de razão não coincidam univocamente na razão de ser, contudo na ordem e na formalidade do signo podem coincidir univocamente, enquanto o signo pertence à ordem do cognoscível e objectivo. E bem está que na razão do objecto e do cognoscível o objecto real e de razão convenham, quando pertencem à mesma potência específica ou a ciências univocamente convenientes, por exemplo à Lógica, que trata do ente de razão, ou à Metafísica, que trata do ente real, embora na razão do ente estes objectos sejam analogizados. Assim, o signo natural e o convencional, embora ex primam relações analogicamente convenientes na razão do ente, contudo na razão do signo, enquanto pertencentes à ordem do cognoscível, coincidem univocamente como meio representativo do objecto. E assim, entendida a divisão do signo precisamente na ordem e na linha do cognoscível, pode univocamente ser estendida ao signo convencional, mas não quando a divisão do signo é entendida na ordem do ser real ou da relação. E por isto é explicado de que m odo coincidem o signo formal e o instrumental univocamente na razão do m eio representativo, enquanto ambos verdadeira e propriamente servem para representar. Mas a dependência que existe no signo instrumental a respeito do formal, e na vo z a respeito do conceito, é uma dependência física, não lógica, ou seja, é uma dependência para que um tipo de ente seja posto fisicamente em exercício, ou para que alguma operação de um tipo de ente possa depender de outra, assim com o a superfície depende da linha, o ternário d o binário, o misto do elemento, etc. Mas não é dependência lógica, isto é, ao participar da razão comum, assim com o o acidente depende da substância na própria razão do ente; e esta última dependência produz a analogia, não a primeira. Esta doutrina é comum e expressamente trazida de S. Tomás, no seu comentário ao D e Interpretatíone, lect. 8, n. 5 e 6. Para a segunda parte do argumento responde-se que o primeiro exemplo não é a propósito, porque o fantasma dos singulares não serve para a cognição do intelecto enquanto signo, mas enquanto aquilo pelo que o intelecto agente recebe a espécie. E assim, o universal representa os objectos com alguma conotação para os singulares, em razão de cuja conotação o intelecto reflectindo atinge os próprios singulares: não pelo fantasma como se fora signo, mas pela espécie abstraída como originada pelo fantasma e logo conotando o singular com o termo a partir do qual, não representando-o directamente, com o é explicado mais gmplamente na q. 1 da Física
202
e na q. 10 dos livros D a Alm a. Mas se o intelecto respeitasse o fantasma como coisa cognoscível e atingisse o singular mediante ele próprio, utilizaria o fantasma com o objecto conhecido manifestante de outro, e consequentemente como signo instrumental. Mas isto será por cognição reflexa sobre a entidade do fantasma. Os outros exem plos aduzidos no argumento são explicados semelhantemente, como o do fantasma do fumo a respeito do fogo, o conceito não ultimado para a coisa significada, etc. Pois estes exemplos provam que a mesma coisa pode ser signo formal e instrumental a respeito de objectos diversos e de diversos modos de representar, não a respeito do mesmo objecto e m odo de representar; assim como o fantasma do fumo é signo formal a respeito da fantasia, que p o r aquela representação form alm ente con h ece o fumo imediatamente, e o fogo mediatamente, como contidos no fumo representado; mas o fumo externo, enquanto conhecido, é signo instrumental. Mas se o intelecto reflectir sobre o fantasma do fumo como sobre a coisa conhecida, intelecciona no fantasma com o num signo instrumental o fumo externo e o fogo, que o fantasma significa. Também o conceito não ultimado representa a palavra pronunciada significativa, mas a coisa significada e na voz contida será representada mediatamente, enquanto as duas coisas ordenadamente representadas no mesmo conceito serão representadas formalmente. Mas a respeito da cognição, pela qual reflexivamente se conhece o conceito não •ultimado, o conceito representará a vo z e o significado da voz instrumentalmente, se todavia o conceito da palavra, conceito não ultimado, atinge a coisa significada pela palavra em qualquer modo, isso já não é assim tão certo, com o diremos mais abaixo. Finalmente, o conceito de falar do anjo representa formalmente ao falante, mas para o que ouve, que percebe o conceito com o coisa conhecida, nele a coisa representada representa instrumentalmente; mas isto é a respeito de diversos objectos e modos de representar. Para a terceira parte do argumento, que a divisão não é essencial, responde-se que embora a ordem para a potência seja, no signo, consequência da ordem para o objecto, enquanto representa aquele como significado à potência, contudo diversos modos de conduzir o objecto à potência redundam na diversidade formal d o objecto enquanto é objecto, enquanto respeitam diversos m odos de representabilidade no significado, pois representam essa coisa à potência por modos diversas. Mas a divisão segundo modos intrínsecos resulta ou supõe a diversidade essencial das coisas sobre as quais osmodos são fundados, assim como a diversidade segundo a obscuridade ou a claridade diversifica as revelações e luzes, embora na fé a obscuridade seja um m odo intrínseco, não a razão formal.
203
Para confirmação responde-se que, como mostramos nas Súmulas, q. 5, art. 4, resp. obj. 2, não é inconveniente que a mesma coisa seja dividida por várias divisões essenciais, não subaltemamente, mas imediatamente, enquanto cada uma dessas divisões é feita segundo alguma formalidade essencial tomada inadequadamente, não segundo o todo adequadamente considerado, onde isto com vários exemplos provamos, como pode ver-se nas Súmulas.
C apítulo n
SE O CONCEITO É SIGNO FORMAI
Procede a questão tanto do conceito do intelecto, que é chamado espécie impressa e palavra, quanto da espécie expressa da fantasia ou imaginação, que é chamada ídolo ou fantasma. De que modo a definição de signo formal, que é uma apercepção formal e que de si própria e imediatamente alguma coisa representa, convém àque les dois? Mas para que o homem rude e sem instrução possa pelo menos inteleccionar o que é o conceito, a palavra, a espécie expressa ou o termo da intelecçào (que são todos a mesma coisa), e porque são postos, é necessário advertir para o facto de que, por razões que mais amplamente disputaremos nos livros Da Alm a, q. 6, 8 e 11, o termo da cognição que é posto no interior da potência cognoscente, é posto por duas razões: ou por necessidade da parte do objecto, ou por fecundidade da parte da potência. P o r causa da fecundidade porque é da abundância do coração que a boca fala, e assim a palavra é chamada conceito, enquanto é expresso e formado pela potência para manifestar aquelas coisas que são conhecidas. Pois o intelecto naturalmente busca e desencadeia a manifestação; e tal manifestação expressiva é chamada discurso ou locução interior, e a própria palavra é uma espécie ou alguma semelhança expressa e dita. Mas p o r causa da necessidade de um objecto, o conceito é posto para que um objecto seja tornado unido com a potência na razão de um termo conhecido e seja presente à potência. Todavia, como ensina
205
S. Tomás na Sum a con tra os Gentios, I, cap. 53, existe uma dupla necessidade de pôr um termo ou objecto no interior da potência cognoscente. Ou porque o objecto está ausente e não pode terminar a cognição para ele, a não ser que seja tornado presente na razão do termo; e assim é necessário formar alguma semelhança ou espécie, na qual o objecto é tomado presente ou representado, Com efeito, assim com o foi necessário pôr a espécie impressa para o objecto ser presente e unido à potência na razão do princípio concorrente para formar a cognição, assim é necessário que outra semelhança ou espécie seja posta para que o objecto seja presente na razão do termo para que tende a cognição, se a coisa objectificada está ausente. Ou, em segundo lugar, é necessário pôr o conceito no interior da potência para que as coisas conhecidas ou os objectos se tornem proporcionados e conformes à própria potência. Com efeito, assim como um objecto não pode ser termo da visão externa, excepto quando é banhado na luz visível, assim também o objecto não pode ser atingido pelo intelecto, excepto se é despojado da sensibilidade e afectado ou formado por uma luz espiritual, que é imaterialidade ou abstracção. Mas a luz imaterial não é encontrada fora da potência intelectiva; logo, é necessário que no interior da potência o objecto seja iluminado e seja formado por aquela espiritualidade, para que" seja atingido; e isto que é formado no ser do objecto é a palavra ou conceito, que não é a própria cognição, com o já dissemos a partir de S. Tomás e diremos mais abaixo na questão 4; porque mantém-se da parte do objecto ou termo conhecido, e a sua função não é tomar formalmente cognoscente, enquanto a cognição é tendência para o objecto, mas tornar o objecto presente ao m odo de um termo conhecido. Nem o conceito antecede a cognição, com o sucede com a espécie impressa, porque é formado pela cognição, nem é dado com o princípio da cognição, mas com o termo. Nem isto torna necessário que tal palavra ou espécie seja conhecida com o objecto, assim com o ê conhecida a imagem exterior, para que a coisa representada nela seja atingida, porque com o representa no interior do intelecto e como forma informando aquele, não representa objectivamente e como algo primeiro conhecido, mas formalmente e com o razão de conhecer, como mais amplamente diremos nos livros D e A nim a, q. 11. Acerca destas várias questões pode também ver-se S. Tomás na Sum a contra os Gentios, I, cap. 53, e IV, cap. 11; e os Opúsculos 13 e 14 e muitos outros locais, onde trata da palavra mental. Mas se inquires através de que acto é feita esta expressão ou conceito, brevemente diremos (pois este assunto aguarda os livros
206
D e A nim ei), que é feita no intelecto por um acto que substancialmente é de cognição, mas tem alguma coisa mais, a saber, que seja cognição fecunda, isto ê, manifestativa e falante ou expressiva. Com efeito, o intelecto não conhece só a partir de si, mas produz também o ímpeto para manifestar; e aquele irromper para manifestar é uma certa expressão e concepção e parto do intelecto. Mas nas potências sensitivas S. Tomás parece conceder que exista um duplo m odo de fazer estas espécies expressas, que em si mesmas são chamadas ídolo. Primeiro porque as potências sensitivas formam ou produzem espécies activamente, como diz na Sum a Teológica, I, q. 12, art. 9, resp. obj. 2, que «ã imaginação forma a representação da montanha dourada a partir de espécies da montanha e de ouro previamente recebidas». Segundo, porque as potências sensitivas recebem as espécies expressas formadas por outras causas ou potências, sobre o que pode ver-se S. Tomás na Suma contra os Gentios, IV, cap. 11, e Opúsculo 14, dizendo que a forma ou re presentação é expressa pelo sentido e terminada na imaginação; e assim uma coisa é o princípio do qual emana esta semelhança, outra o princípio no qual é terminada. Embora o que foi posto — que os sentidos internos recebem as suas espécies expressas dos sentidos externos — tenha alguma probabilidade, parece mais provável, como dizemos nos livros D a Alm a, q. 8, art. 4, que a espécie expressa sempre seja uma imagem viva e produzida por acção vital da potência, à qual serve para que por meio dela a potência conheça. Mas as espécies impressas são espécies que são impressas por uma potência noutra e movem essa outra potência para a cognição e formação do ícone. E porque são trazidas pelos espíritos ou pelo sangue, assim, quando o sangue e os espíritos descem aos órgãos dos sentidos, então movem a imaginação, com o se fora movida pelos sentidos, como acontece nos sonhos, e às vezes um demônio ou anjo assim se ocupa da excitação da imaginação, com o ensina S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 111, art. 3, e D e M aio, q. 16, art. 11, e em outros locais. Primeira conclusão : O conceito ou espécie expressa pelo intelecto é, p o r excelência, um signo form a l. Esta conclusão é tirada de S. Tomás, que frequentemente ensina que a palavra mental é signo e semelhança da coisa, como nas Quaestiones Quodlibetales, q. 4, art. 17; D e Veritate, q. 4, art. 1, resp. obj. 7, e Suma contra os Gentios, IV, cap. 11. Mas não é signo ins trumental, porque não é objecto primeiro conhecido, que da cognição preexistente de si conduz para a coisa representada, mas é termo de intelecçâo, pelo qual, enquanto termo intrínseco, a coisa é tomada 207
conhecida e presente ao intelecto, como S, Tomás ensina nos locais citados e nos Opúsculos 13 e 14. Logo, a palavra mental é signo formal. E o fundamento da conclusão tira-se porque o conceito inteligível representa directamente uma coisa diferente de si à potência, por exemplo o homem, ou a pedra, porque é uma semelhança natural daquelas coisas, e pela sua informação o conceito toma o intelecto cognoscente em acto por uma cognição terminada pela própria cognição de si, e não por uma cognição de si pré-existente. Logo, o conceito é apercepçâo formal tornando o intelecto inteleccionante não ao m odo de um acto, mas ao m odo de um termo ou apercepçâo terminada. Segunda conclusão; Também o ídolo ou espécie sensível expressa nas potências interiores sensíveis é signo fo rm a l a respeito de tais potências. Esta conclusão não tem qualquer dificuldade se estes ídolos são formados pelas próprias potências, assim como o conceito é formado no intelecto. Mas a dificuldade reside em saber de que m odo pode ser mantido que sejam apercepções formais, pelo menos terminativamente, se é verdade que estas expressões podem ser formadas também por um princípio extrínseco, com o quando são formadas por um anjo ou demônio por comoção do espírito, ou também pelo descer do sangue aos órgãos dos sentidos dos que dormem. Mas, apesar de tudo, dizemos que mesmo concedendo aquela possibilidade (cujo oposto parece mais verdadeiro, com o dissemos), continuaria a ser o caso de que tais imagens ou ícones são signos formais, porque não conduzem a potência nem lhe representam o objecto a partir de uma cognição de si pré-existente, mas conduzem imediatamente para os próprios objectos representados, porque estas potências sensitivas não podem reflectir sobre elas próprias e sobre as formas expressas que têm. Logo, sem estas espécies expressas sendo conhecidas pelas potências sensitivas, as coisas são tornadas imediatamente representadas às potências; logo, esta representa ção é feita formal e não instrumentalmente, nem de alguma cognição anterior da imagem ou ícone. Donde, para que o conceito formado pelo sentido interno seja signo formal, basta que termine o acto de cognição, seja formado pela própria cognição, seja formado a partir de outra causa e unido àquela cognição de tal maneira que o acto é terminado para aquele ídolo; assim como se Deus por si só unisse o conceito ao intelecto e o acto do intelecto fosse terminado para aquele conceito, isto seria chamado verdadeira e propriamente apercepçâo formal terminativamente, embora não emanasse do próprio acto de inteleccionar.
208
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se que o conceito representa à potência como signo instrumental, logo, não representa com o signo formal. A antecedente prova-se, primeiro de S. Tomás, nas Quaestiones Quodlibetales, q. 5, art. 9, resp. obj. 1, onde diz que «o intelecto intelecciona uma coisa de duas formas, de um m odo formalmente, e assim intelecciona pela espécie inteligível, pela qual é constituído em acto; de outro modo à maneira de um instrumento, que é utilizado para .inteleccionar outra coisa, e é deste m odo que o intelecto intelecciona pela palavra, porque forma a palavra para isto — inteleccionar a coisa». Logo, segundo S. Tomás, o intelecto não intelecciona a palavra enquanto forma, mas enquanto instrumento, e por esta razão a palavra mental não é signo formal, mas instrumental. A antecedente prova-se porque o conceito representa com o conhecido, logo, como signo instrumental; pois o signo instrumental é o que, conhecido, conduz pára a cognição de outro. E isto prova-se porque S. Tomás diz em D e Veritate, q. 4, art. 2, resp. obj. 3, que «uma concepção do intelecto não é só isto, que ê inteleccionado, mas também aquilo pelo que a coisa é inteleccionada, para que assim, aquilo que é inteleccionado, possa ser dito ser a própria coisa e a concepção do entendimento». Logo, segundo S. Tomás, a palavra é conhecida com o aquilo que é conhecido, e assim representa enquanto conhecida. A mesma conclusão segue-se também porque inteleccionar é comparado à palavra, assim como o acto de existência é comparado com o ente em acto, como diz S. Tomás ná Suma Teológica, I, q. 34, art. 1, resp. obj. 2. Logo, a palavra não representa, excepto enquanto formada pela cognição e com o algo conhecido, e logo como signo instrumental, o qual enquanto conhecido representa. Responde-se negando a antecedente. Para primeira prova, tomada a partir da autoridade de S. Tomás, responde-se que S. Tomás chama à palavra mental instrumento, pelo qual o intelecto conhece alguma coisa, não enquanto meio conhecido, que é instrumento e meio externo, mas como meio interno, no qual o intelecto intelecciona no interior de si, e isto é ser signo formal. Mas chama-se forma impressa àquilo por que formalmente o intelecto intelecciona, porque mantém-se da parte do princípio de intelecçâo; ora, o que se tem da parte do princípio é chamado forma. E contudo S. Tomás não diz que a forma impressa significa ou representa formalmente, mas que é o princípio pelo qual o intelecto formalmente intelecciona; e uma coisa é ser signo formal, outra o princípio pelo qu a l de inteleccionar. Para a segunda prova responde-se que do conceito não é dito representar enquanto primeiramente conhecido ao m odo de um H
209
objecto extrínseco, de tal maneira que esse «conhecido» seria uma denominação extrínseca; más como um representar enquanto um conhecido intrínseco, isto é, como termo da cognição interior à potência. Mas porque não é o termo no qual a cognição se detém finalmente, mas um termo mediante o qual a potência é chamada para conhecer o objecto externo, por esta razão o conceito tem o ser do signo formal, porque é conhecido intrínseco, isto é, razão intrínseca de conhecer. Donde o signo instrumental é conhecido com o aquilo que é conhecido extrinsecamente e enquanto coisa conhecida, a partir de cuja cognição se chega ao objecto; mas o conceito é conhecido como algo que é conhecido, não enquanto coisa conhecida extrinsecamente, mas com o aquilo em que está contida a coisa conhecida no interior do intelecto. E assim, pela mesma cognição, são atingidos o conceito e a coisa concebida, mas a cognição da coisa concebida não é atingida a partir da cognição do conceito. E porque o conceito é aquilo em que a coisa ou objecto é tornado proporcionado e imaterializado ao m odo de um termo, por esta razão o próprio conceito é dito ser conhecido como algo que, não como coisa separadamente conhecida, mas enquanto constituindo o objecto na razão do termo conhecido. Ora, embora o signo instrumental possa ser atingido com o objecto por um único acto de cognição,. contudo permanece verdadeiro que é do signo conhecido que se atinge o objecto, que o próprio signo não constitui formalmente a coisa significada como conhecida. Para terceira prova responde-se que inteleccionar, com o é dicção ou expressão, tem por complemento a própria palavra enquanto termo. E assim, S. Tomás em D e Potentia, q. 8, art. 1, diz que «o acto de inteleccionar é completado pela palavra». Mas novamente, a própria palavra noutra ordem é actuada e completada pelo acto de inte leccionar, enquanto o acto de inteleccionar é a última actualidade na ordem do inteligível, assim como o acto de ser é a última perfeição na sua ordem, com o diz S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 14, art. 4. Mas que por razão desta actuaçâo a palavra seja tornada conhecida, não basta para a razão do signo instrumental, porque a palavra não é conhecida como objecto e coisa extrínseca, mas como termo intrínseco da própria intelecçâo; com efeito, isso é representar no interior da potência informando-a e tomando-a cognoscente, e, logo, o conceito ou palavra é dito signo formal. Argumenta-se em segundo lugar: a palavra não é apercepção formal, logo, não é signo formal. A consequência é patente da definição de signo formal. A ante cedente prova-se, primeiro, porque a apercepção formal é aquilo que torna a potência formalmente cognoscente. Mas a potência é 210
tornada formalmente cognoscente por um acto de cognição, que é a forma imediata do cognoscente, especialmente porque conhecer consiste numa acção, uma vez que é uma operação vital; mas a palavra não é a própria operação ou acto de conhecer, mas alguma coisa formada pela cognição e efeito dela. Logo, não é a forma que constitui o cognoscente, mas a forma que procede e é produzida pelo cognoscente; logo, não é a própria apercepção formal da potência. Donde a palavra não é constituída pelo acto de inteleccionar activamente, mas por ser inteleccionada passivamente; logo, não constitui formalmente o acto de inteleccionar, mas constitui for malmente a coisa inteleccionada, A mesma questão antecedente prova-se, em segundo lugar, porque no divino o Verbo não produz formalmente o entendimento, porque o Pai não intelecciona por uma sapiência gerada, como, a partir de S. Agostinho, ensina S. Tomás no C om entário às Sentenças de Pedro Lombardo, I, dist. 32, q. 2, art. 1. Logo, a palavra não toma a potência formalmente cognoscente a partir do gênero de coisa que é. Confirma-se porque se a palavra fosse apercepção formal, sem a palavra não poderia o intelecto ser formalmente cognoscente, pelo menos não perfeitamente. Mas sem a formação da palavra, o intelecto conhece formalmente, como é admitido ser provável no caso dos Beatos e é manifesto na intelecção pela qual o Verbo e o Espírito Santo inteleccionam. Ergo. ' Responde-se, ao argumento principal, distinguindo a antecedente: Concedo que a palavra não é apercepção formal ao m odo de uma operação; mas que o seja ao m odo do termo, nego. E assim a palavra torna o intelecto form alm ente -inteleccionante», form alm ente terminativamente, não formalmente operativamente. Mas quando é dita signo formal, que é apercepção formal, é inteleccionada da apercepção formal terminada, não da própria operação da apercepção sem termo, porque à razão do signo pertence que seja representativo, mas a operação enquanto operação não representa. Mas isto, que representa, deve ser expresso e semelhante ao que é representado, que pertence à razão da imagem; todavia ser semelhante e expresso propriamente pertence ao termo procedente, que é assimilado ao seu princípio, não à operação, que é mais assimilativa que a coisa semelhante. Mas que se diga que inteleccionar consiste na acção ou operação é verdadeiro do próprio acto formal de inteleccionar. Mas, quando o signo formal é chamado apercepção formal, não é inteleccionado da apercepção formal enquanto esta é operação, mas da apercepção formal que é representação e expressão, o que só pertence à apercepção formal terminada ou termo da apercepção, não à operação enquanto é operação. E quando se diz que a palavra 211
é efeito da cognição, é entendido que é efeito da operação da cognição e via ou tendência da cognição, não efeito da cognição com o terminada. Pois a palavra é a forma da cognição com o terminada, porque a palavra é o próprio termo da cognição; mas a palavra é efeito da cognição enquanto esta é operação expressiva e dicção, e assim supõe um acto de inteleccionar não terminado e completo, mas operante e expressante, e logo, resta um lugar para que a palavra seja apercepção formal formalmente terminativamente, não formal mente operativamente. E por esta razão, a palavra é constituída por ser inteleccionada, e não por inteleccionar activamente, porque não pertence à palavra enquanto signo formal ser apercepção formal operativa e activamente, mas terminativamente e segundo um ser intrínseco inteleccionado, pelo qual a própria coisa é tornada inte leccionada e representada intrinsecamente; contudo a representação, não a operação, pertence à razão do signo, assim com o lhe pertence ser apercepção formal representativa, não operativa. Para segunda prova responde-se que a natureza do Verbo Divino é diferente da do verbo humano, porque o Verbo no Divino supõe uma intelecção essencial totalmente terminada e completa, para que seja acto puro na ordem do inteligível; nem a Palavra serve para que a intelecção seja completada essencialmente, mas para que seja dita. e expresse nocionalmente. E assim, a Palavra Divina não torna Deus formalmente «inteleccionante» mesmo terminativamente, essencial mente e no ser perfeito do inteligível, nem toma Deus um objecto inteleccionado em acto, porque a essência divina segundo ela própria é em acto final -inteleccionante» e inteleccionada, porque é acto puro na ordem do inteligível, e não tem esta condição através da processâo da palavra, mas, antes, esta processâo da palavra supõe tal condição. Mas em nós, porque o objecto não é inteleccionado em acto último por si, é necessário que seja formado no interior do intelecto na razão do objecto terminante; e isto é feito pela expressão da palavra no ser representativo, e então por aquela palavra o intelecto é tomado formalmente -inteleccionante- terminativamente. Para confirmação responde-se que não pode dar-se alguma cognição sem palavra, ou formada pela própria pessoa que intelecciona ou unida àquela. Contudo, nem sempre é requerido que a palavra proceda ou seja formada por quem intelecciona. E assim, no caso dos Beatos, a divina essência é unida ao seu intelecto na razão da espécie expressa, assunto mais amplamente discutido por S. Tomás na Sum a Teológica, I, q. 12, art. 2, e aflorada nos livros D e A nim a, q. 11.
212
C apítulo m
SE A ESPÉCIE IMPRESSA É SIGNO FORMAL
Supomos que existem espécies impressas, as quais fazem as vezes do objecto unindo-se à potência para eliciar a cognição ou apercepção, do facto de que esta nasce da potência e do objecto. Donde é necessário que o objecto seja tornado unido ou presente à potência, •determinando-a para eliciar a cognição. E como o objecto não pode por si próprio ir para a potência e unir-se a ela, é necessário que isto seja feito por meio de alguma forma, que é chamada espécie, que assim contém o próprio objecto de m odo intencional e cognostível para que possa tomá-lo presente e unido à potência. E porque aquela forma ou espécie é instituída por natureza para esta função, diz-se representar o objecto à potência, porque lhe presentifíca ou toma presente o objecto. E é dita também semelhança natural do objecto, porque da sua própria natureza actua fazendo as vezes do objecto, ou é o próprio objecto no ser intencional. Esta unidade ou conveniência é dita semelhança, e é dita semelhante porque é dada para a potência formar uma semelhança expressa do objecto. Mas é chamada impressa porque é imprimida e acrescentada à potência por um princípio extrínseco, pois não procede nem é expressa pela potência da mesma forma que a espécie expressa. Com efeito, a espécie impressa é dada à potência para eliciar a cognição, e assim funciona ao m odo de um princípio e concorre com a própria potência para eliciar a cognição, não ao modo do termo procedente da própria potência e da sua cognição. Deste assunto mais amplamente falaremos em D e A nim a, e pode também ver-se S. Tomás, D e Potentia, q. 8,
213
art. 1; Opúsculos 13, 14 e 53; e Quaestiones Quodlibetales, 7, art. 1, e vários outros locais, onde explica a natureza da espécie impressa. Perguntamos portanto se esta espécie que assim representa o objecto ao m odo de um princípio de cognição possui a natureza do signo formal, assim como possui a natureza do representativo. Seja única conclusão: A espécie impressa não é signo fo rm a l. Esta conclusão é tirada em primeiro lugar de S. Tomás, que falando do signo geralmente expresso, o qual é aquilo que está em conformidade com o signo formal, diz em D e Veritate, q. 9, art. 4, resp. obj. 4, que é «qualquer coisa de algum m odo conhecida, na qual alguma outra coisa é conhecida, podendo assim uma forma inteligível ser dita signo da coisa que é conhecida através dela». Mas a espécie impressa não é forma inteligível — que é alguma coisa conhecida na qual outra coisa é conhecida — porque para que fosse alguma coisa conhecida, deveria ser, ou coisa conhecida, ou termo da cognição. Mas a espécie impressa é apenas aquilo por que a potência conhece como se de um princípio se tratasse, com o consta de S. Tomás nas Quaestiones Quodlibetales, q. 7, art. 1, e na Suma Teológica, I, q. 85, art. 2 e 7, e no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 49, q. 2 art. 1. Logo, não possui a natureza do signo geralmente expressa e ao m odo da forma inteligível, no sentido em que uma forma inteligível é signo formal. O fundamento desta conclusão é que a espécie impressa não representa o objecto à potência cognoscente ou à cognição da potência, mas une o objecto à potência para que conheça; logo, não é signo formal. A consequência prova-se a partir da própria natureza intrínseca do signo, porque é próprio e essencial à função do signo manifestar outro ou conduzir a potência para outro mediante a manifestação. Ora, a espécie não p o d e manifestar alguma coisa à potência antecedentemente à cognição, pois toda a manifestação é feita na própria cognição ou supõe-na, mas a espécie impressa não supõe a cognição, à qual manifestaria, porque é um princípio da cognição. Mas eliciada ou posta a cognição, não é a própria espécie impressa que manifesta, mas a expressa, que é o termo no qual é completada a cognição; pois nem a cognição tende para a espécie impressa, nem conhece nessa espécie. Logo, a espécie impressa não é aquilo que manifesta o objecto à cognição formalmente, mas aquilo que produz a cognição, no termo de cuja cognição, ou seja na espécie expressa, o objecto é tomado manifesto. E assim, o objecto concorre na espécie impressa como princípio da cognição determinando a potência para eliciar, não determinando-a como objecto conhecido, e, logo, nem como objecto manifestado; pois algurpa coisa não é tomada manifesta
214
à potência no interior da própria potência, excepto enquanto é conhecida. Logo, o que não manifesta à cognição, não toma o objecto manifestado e consequentemente nem significado. E confirma-se porque de nenhum m odo pode ser verificado que a espécie impressa seja apercepção formal, que de si própria imediatamente representa. Logo, a espécie impressa não é signo formal, pois tal apercepção formal é requerida para a sua definição. A antecedente prova-se: a espécie impressa é um princípio da apercepção formal; pois constitui o intelecto em acto primeiro para eliciar a apercepção formal. Mas pertence à razão da apercepção formal que proceda d o intelecto, tanto quanto com o termo do intelecto, ou seja a palavra, embora não seja absolutamente necessário que a palavra proceda de todo o intelecto que intelecciona por meio daquela palavra, mas baste ou que a palavra seja formada pelo intelecto que intelecciona, ou que a palavra formada por outro seja unida ao intelecto «inteleccionante», tal com o sucede na opinião provável de que a essência divina está unida ao intelecto dos Bem-Aventurados em lugar da palavra. Contudo, embora a essência divina não proceda do intelecto do Bem-Aventurado, ainda assim é unida ou pelo menos relacionada como razão inteleccionada intrinsecamente e com o meio no qu a l da própria cognição e entendimento. Logo, se a apercepção formal é recebida como fazendo as vezes do próprio acto de cognição, é manifesto que não coincide com a espécie impressa, uma vez que esta não é um acto procedente da potência, mas princípio do acto e da cognição. Mas se a apercepção formal é tomada por algo procedendo do intelecto, não ao m odo d e um acto, mas ao m odo do termo procedendo vitalmente, assim tomada a apercepção formal é espécie expressa, não impressa. Logo, nada que proceda do intelecto é espécie impressa, e, consequentemente, uma espécie impressa não é de nenhum m odo apercepção formal, porque a apercepção formal deve proceder da potência cognitiva, ou como acto, ou como termo, porque é alguma coisa vital, uma vez que tem por efeito formal tornar a potência vitalmente e formalmente cognoscente. Logo, a espécie impressa não é apercepção formal, e, logo, também não é signo formal. RESOLUÇÃO DOS CONTRA ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se: certamente a espécie impressa é verdadeira e propriam ente representativa do objecto, semelhança dele e substituindo ou fazendo as suas vezes. E não é representativa objectivamente nem eficiente ou instrumentalmente, logo, formalmente e com o signo formal.
225
A consequência é patente porque para que a espécie seja representativa à maneira do signo, basta que seja representativa de outro diferente de si, e ao m odo de algo substituindo a favor de outro que representa. A premissa maior é estabelecida por S. Tomás em muitos locais, onde a espécie impressa é chamada semelhança e representação, como em D e Veritate, q. 8, art. 1, onde diz que aquilo por que o que está vendo vê, ou é semelhança do objecto visto, ou essência dele. E acrescenta que o modo da cognição é conforme a coincidência da semelhança, que é coincidência segundo a representação. Mas é evidente que aquilo por que o que está vendo vê é espécie impressa. E no livro sobre a memória e a reminiscência, lect. 3, diz que na imaginação é imprimida uma espécie de figura sensível, impressão essa que permanece quando o objecto sensível está ausente, assim como a figura do anel é imprimida na cera. Mas é certo que o sensível não imprime na potência nada mais que a espécie impressa. Finalmente, na Suma contra os Gentios, I, cap. 53, diz que ambos, isto é, a intenção inteleccionada e a espécie inteligível são semelhança do objecto; e porque a espécie inteligível, que é um princípio de inteleccionar, é semelhança da coisa exterior, segue-se que o intelecto forma uma intenção semelhante dessa coisa. Onde clarissimamente fala da espécie impressa enquanto distinta da expressa. A premissa menor prova-se: pois em primeiro lugar a espécie impressa é constituída na ordem do representativo, porque está na ordem intencional. E não representa como objecto, mas como fazendo as vezes do objecto, logo, representa como meio entre a potência e o objecto. Nem representa instrumentalmente, porque não move a potência a partir de uma cognição de si pré-existente, pois a espécie não é conhecida para que represente; nem representa eficientemente porque não existe representação ou significação eficiente, como mostramos no livro precedente. Logo, representa formalmente, enquanto por si própria e através da união à potência torna a própria potência semelhante ao objecto por uma semelhança intencional, que é representativa. Confirma-se isto porque se a espécie impressa não é signo formal, pois não representa à cognição, mas tem-se da parte da potência como princípio da cognição, e contudo está verdadeiramente na ordem do representativo, logo, é representativa como princípio da cognição, logo, eficientemente representa à própria cognição, e assim é dada a representação ou significação eficientemente. Responde-se prim eiro à premissa maior do argumento, ser verdadeiro que a espécie impressa seja uma semelhança representa tiva do objecto, mas ao m odo de um princípio da cognição, não ao
216
m odo de uma apercepção formal ou supondo uma apercepção à qual representaria, e assim é chamada semelhança virtual, porque é princípio, donde surge a semelhança formal e apercepção formal. Mas, em razão disto, falta â espécie impressa a natureza do signo, porque embora seja semelhança do objecto e representação unindo e pondo o objecto presente à potência, não p õe o objecto presente à cognição, mas é princípio da cognição. Com efeito, representando à potência e não à cognição, a espécie impressa não representa manifestando em acto, porque a manifestação actual não é feita sem uma cognição actual, mas representa ou une e faz presente o objecto, para que a manifestação e a própria cognição sejam eliciadas. E é deste gênero de semelhança virtual e ao m odo de um princípio de que fala S. Tomás. E se insistes que, porque não é dito na definição d o signo que o signo represente à potência como cognoscente, ou à própria cognição, nem que o signo deva ser meio ou princípio de representar, logo, todas estas condições foram acrescentadas arbitrariamente à definição do signo. Responde-se que estas condições não são acrescentadas à definição de signo, mas estão contidas nela, pelo facto d e que o signo essencialmente deve ter uma representação manifestativa de algo e condutora para o objecto; mas a representação manifestativa apenas pode manifestar à cognição. Donde a representação, que une o objecto à potência para que seja determinada para eliçiar a cognição, não é representação manifestativa, porque é representação ou união e presença do objecto à potência ainda não cognoscente. -E assim, quando a espécie impressa informa a potência, não a informa tornando-a cognoscente, como fariá o signo formal, que é apercepção formal, mas tornando-a apta a conhecer, e consequentemente não torna o objecto manifestado em acto, mas actua e determina a potência para que elicie a cognição, na qual é então manifestado o objecto. Para prova da premissa menor do argumento principal responde-se que a espécie impressa não é representativa por nenhum daqueles modos, porque não é representativa manifestando em acto o objecto, mas actuando e determinando a potência, ao m odo de um princípio, para eliciar a cognição, e isto formalmente é o que a espécie impressa faz. Ora, isto não é formalmente ser signo, porque não é representar manifestando actualmente, tal como é requerido para a natureza do signo, cuja representação deve ser manifestativa e não apenas actuativa da potência para eliciar a cognição. Para confirmação responde-se que não se segue que exista o representar ou significar eficientemente, especialmente quando falamos da representação manifestativa, porque não convém à espécie impressa 227
actualmente, mas virtualmente. Nem, além disso, lhe convém outro m odo de representar, porque a espécie impressa faz a representação ao m odo de uma actuação da potência informando, não produzindo a representação na potência. Mas a produção da representação expressa é feita eficientemente a partir da espécie impressa, mas tal produção eficiente não é representação, mas produção de uma coisa representante, ou seja, da espécie expressa, da qual é feita a representação actual, não eficientemente, mas formalmente a partir do interior da potência, no caso do signo formal, ou de um signo exterior fazendo as vezes do objecto, no caso do signo instrumental. Argumenta-se em segundo lügar: a espécie impressa tem o que quer que seja formalmente requerido para a natureza da imagem, muito mais do que o tem a imagem exterior, logo, tem o que quer que seja que é requerido para a natureza do signo representando em acto. A antecedente prova-se porque possui aquelas duas condições que são, segundo S. Tomás, requeridas para a natureza da imagem (.Suma Teológica, I, q. 93, art. 1 e 2), ou seja, tem semelhança com alguma coisa e origem a partir dela. Ora, a espécie impressa é semelhante ao objecto, porque tem coincidência intencional com ele e, semelhantemente, é deduzida e originada pelo objecto. A consequência prova-se porque aquela imagem da espécie impressa tem uma representação adjunta, por ser uma semelhança intencional, e isto basta para que o conceito seja dito ter a natureza do signo formal, mesmo se é termo da cognição e não meio, porque não é termo último, mas ordenado para o objecto exterior. Logo, semelhantemente, a espécie impressa, embora tenha a natureza do princípio de representar, tem também a natureza de um signo, porque não é o primeiro princípio, mas mediador entre a potência e o objecto. E assim S. Tomás, no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 49, q. 2, art. 1, resp. obj. 15, e nas Quaestiones Quodlibetales, q. 7, art. 1, chama à espécie impressa meio da cognição. Responde-se, em primeiro lugar, que a espécie impressa não é imagem excepto virtualmente, não formalmente; pois existe sem aquela segunda condição, a saber, que seja expressa, pois não é expressa pelo objecto, mas impressa, assim com o o sêmen separado do animal não é imagem, porque embora seja originado a partir do animal, contudo não o é enquanto termo expresso, mas enquanto virtude impressa para gerar. E assim, não é qualquer espécie de origem a partir de outro que constitui a imagem, mas a origem ao m odo do termo ultimamente intencionado. Segundo, nega-se a consequência porque a representação da es pécie impressa não é representação ao m odo de um m eio ma-
218
nifestativo, porque não representa à própria cognição, mas ao m odo de uma forma determinando e actuando a potência para que possa conhecer. Nisto difere largamente do conceito, porque embora se tenha da parte do termo representando o objecto, contudo representa este objecto à própria cognição, e através daquela representação a cognição é tornada terminada, e assim o conceito formalmente representa terminativamente à potência cognoscente ao m odo da manifestação actual. Mas a espécie impressa, embora não seja primeiro princípio, contudo age sobre a potência anteriormente à cognição, e por consequência anteriormente à manifestação actual, o que não é ser m eio representativo manifestativamente, mas virtualmente, ao m odo de um princípio para produzir a manifestação e a cognição. Donde nem o próprio signo instrumental, que é objecto extrínseco, é dito significar e representar, excepto segundo o conhecido, não anteriormente à cognição. Com efeito, é condição no signo instrumen tal que primeiramente seja conhecido, para que signifique, e quando S. Tomás chama espécie impressa ao meio da cognição, diz-se m eio p elo qual, não m eio no qual; mas m eio pelo qu a l é um princípio para conhecer, não algo manifestativo em acto do objecto ou da coisa conhecida.
219
C apítulo IV
SE O ACTO DE CONHECER É SIGNO FORMAL
Supomos que o acto de conhecer é distinguido, no intelecto, do próprio objecto conhecido e da espécie impressa e expressa. Pois, como diz S. Tomás em D e Potentia, q. 8, art. 1, são quatro as coisas que no intelecto concorrem para a cogniçâo, a saber a coisa inteleccionada, o conceito d o intelecto, a espécie pela qual se intelecciona, e o próprio acto de inteleccionar. E a razão disto é que é necessário que sejam dadas no nosso intelecto algumas operações vitais, que procedem do intelecto quando é formado pela espécie impressa, uma vez que a operação do intelecto e a sua cogniçâo nascem do objecto e da potência; mas o objecto age sobre a potência por meio da espécie impressa. Novamente, esta operação não pode formalmente ser a própria espécie expressa ou palavra formada pelo intelecto, porque se a palavra é formada a partir da espécie impressa, é formada por alguma operação, e consequentemente a operação distingue-se de tal espécie expressa. E chamamos operação ao acto de inteleccionar, mas a espécie expressa é chamada termo ou palavra dita e expressa por aquela operação, enquanto é dicção. D onde isto também é mais amplamente confirmado porque inteleccionar ou é considerado enquanto -dicção que exprime», ou como puro acto de contemplar e conhecer. Se é considerado enquanto dicção, é essencialmente produção da palavra, e, logo, pede que a palavra seja termo de tal produção. Se é considerado com o puro conhecer, requer que o objecto seja aplicado e unido àquele acto numa existência imaterial, não só#ao m odo de um princípio pelo 220
qual é produzida a cogniçâo, mas também ao m odo de um termo no qual é atingido o objecto. Mas o termo da cogniçâo não é a própria cogniçâo, mas a cogniçâo é tendência para o objecto que é conhecido. E porque o objecto não é conhecido nem termina a cogniçâo segundo o ser real e material fora da cogniçâo, mas como é tomado espiritual e imaterial no interior da potência, é requerida alguma forma inteligível, na qual seja dado o objecto assim imaterial e espiritual da parte do termo. E isto é a espécie expressa ou palavra. Tudo isto explicaremos mais largamente no livro D e A nim a, q. 11. Então, porque é determinado da própria espécie impressa e expressa, se é signo formal, resta ver se o próprio acto do intelecto, que é a cogniçâo e a tendência para o objecto, é signo formal. Logo, seja única conclusão: O acto de in teleccion a r assim distingu id o da espécie impressa e expressa não ê signo fo rm a l, qualquer que seja a operação do intelecto considerada. Esta conclusão está contra alguns autores mais recentes, e também alguns tomistas; contudo, a favor dela pode ver-se Capreolus, no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 49, q. 1, e Ferrariensis, no seu C om entário ã Suma contra os Gentios, II, cap. 49. A razão desta conclusão é ser o signo essencialmente representa tivo, não sendo o acto de inteleccionar formalmente representação, mas operação e tendência para o objecto. Donde, como por tais actos multiplicados é gerado o hábito, um hábito produzido não é representativo, mas disposição da potência para produzir actos seme lhantes àqueles que formaram o hábito. E assim, S. Tomás, na Suma Teológica, I, q. 12, art. 2, negando que exista a espécie representativa dê Deus como é em si, concede que exista a luz da glória, que é semelhança confortando o intelecto da parte da potência, e assim nega que a luz ou o hábito possuam a razão da representação. Logo, semelhantemente, o acto de inteleccionar não é representação, porque os actos são semelhantes aos hábitos, e se o acto de inteleccionar fosse representação, muito mais a representação coincidiría com o hábito que com o acto, porque o hábito é um tipo de coisa permanente, enquanto o acto é um tipo de operação. E confirma-se porque se o acto fosse representação, a representa ção, ou seria distinta da espécie expressa, ou seria a mesma coisa que a espécie expressa. Não pode ser a mesma coisa, pois o acto de inteleccionar é uma coisa distinta da espécie expressa. Mas se o acto de inteleccionar é distinto, ou representa o mesmo objecto en quanto palavra, assim, um destes dois, acto ou palavra, é supérfluo, ou representa alguma coisa distinta, e assim, a mesma coisa não será conhecida pelo acto de cogniçâo e pelo seu termo, que é a palavra. 221
Finalmente, ou aquela representação do acto de eonhecer é semelhança impressa ou semelhança expressa, porque não parece poder dar-se alguma coisa intermédia entre a espécie impressa e a expressa na ordem da representação. Se a representação é espécie impressa, funciona ao m odo de um princípio que é imprimido ou infundido por algo extrínseco ao próprio intelecto. Mas o acto de inteleccionar não pode ser imprimido a partir de algo extrínseco, mas é originado a partir de algo intrínseco ao intelecto, para que seja vital. Se a representação é espécie expressa, então é palavra e funciona ao m odo do termo expresso e produzido; mas aqui falamos do acto de inteleccionar enquanto é distinto da palavra.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se: ser signo formal é ser apercepção formal de alguma potência ao m odo de uma representação; mas tudo isto. pertence ao acto de conhecer, logo, o acto de conhecer é signo formal. A premissa menor prova-se. Pois é manifesto que o acto de conhecer é apercepção formal, uma vez que é a própria cogniçâo, que é o mesmo que apercepção. Mas que o acto de conhecer exista ao m odo de uma representação prova-se porque une o objecto à potência; pois o acto de inteleccionar, como diz S. Tomás na Suma Teológica, q. 27, art. 1, resp. obj. 2, consiste nisto, que faça o entendimento uno com o próprio objecto inteligível; mas sendo este acto de unir um acto de fazer presente à potência o objecto que une com essa potência, logo é representação. E cónfirma-se porque a acção imanente não é produção formal, mas só virtual. Contudo, formalmente o acto de conhecer é um acto na ordem da qualidade, que versa sobre o objecto tendendo para ele, não operando nele. Mas esta tendência une o objecto à potência, embora o acto de dizer respeito a não produza o objecto, e consequentemente o acto de conhecer representa, porque representar é fazer presente ou unir cognoscivelmente. Responde-se que o acto de inteleccionar não é signo formal, porque lhe falta a razão de representar, como dissemos. E à impugnação oposta responde-se que o acto de inteleccionar une o objecto ao m odo de uma operação tendendo para o objecto, não ao m odo de uma forma que substitui e faz as vezes a favor daquele objecto. E assim não possui a razão de representar, porque a representação é feita contendo outro enquanto fazendo as vezes dele, não operando. Donde a acção unitiva não é dita representar, embora una, e assim 222
nem todo o modo de unir é modo de representar; assim com o também a espécie impressa, que une ao modo do princípio de cognição, não une formalmente ao m odo de um representante. Para confirmação responde-se que o acto de inteleccionar, embora seja qualidade, contudo não toma presente o objecto com o forma da parte do objecto, como se fizera as vezes desse objecto, mas como forma tendendo e operando da parte da potência sobre o objecto. E assim não é união representativa, mas operativa ou ao m odo de um acto segundo, não como continente mas como tendente para o objecto. Argumenta-se em segundo lugar: a apercepção do sentido exterior é signo formal, e contudo aí não é palavra ou imagem expressa, como ensina S. Tomás em D e Veritate, q. 8, art. 5, e Opúsculo 14. Logo, não é requerida para a natureza do signo formal a semelhança expressa, mas basta o acto de conhecer. A maior prova-se porque se a apercepção do sentido exterior não fosse signo formal, não seria dada a apercepção formal nos sentidos externos, e consequentemente não existiría cognição formal, porque a apercepção formal é signo formal, Assim, com o diz Soto, nas Súmulas de Lógica, cap. i i í , a apercepção dos sentidos exteriores é termo, enquanto vem do m odo de significar; mas é da natureza do termo que seja signo. Logo, o acto do sentido externo é signo, e como não é signo instrumental, logo, é signo formal. E confirma-se porque o acto do sentido externo é verdadeiramente acto imanente, logo é complemento último e perfeição da potência, logo no próprio é feita a última e perfeita união com o objecto, e logo também a representação, porque não existe outra união entre o sentido externo e o objecto que a união mediante o acto. Responde-se ser verdadeiro que o sentido externo não tem a palavra ou imagem expressa na qual conheça, porque devido à sua materialidade não pede tanta união com o objecto que este esteja no interior da potência, mas a sensação deve ser feita na coisa posta exteriormente, que é ultimamente tornada sensível enquanto existe fora do sentido. E embora a cognição do sentido externo seja acção imanente, contudo não existe necessidade de produção nem diz respeito ao termo com o mudado por si, mas com o intencional e objectivamente unido, embora virtualmente possa ter a força da produção; assim como a cognição enquanto dicção produz a palavra, e o amor enquanto espiral produz o impulso, e a sensação externa produz a representação ou espécie, não no interior de si, mas nos sentidos internos, com o ensina S. Tom ás na Sum a con tra os Gentios, IV, cap. 11, e no Opúsculo 14. Contudo, de si, o acto imanente não é uma acção ao modo de um movimento e via tendente para
223
um termo ulterior, mas ao modo de uma última actualidade na qual é completada toda a cognição, e por esta razão o acto de inteleccionar é comparado por S. Tomás ao próprio acto de existir na Sum a Teológica, I, q. 14, art. 4, e em muitos outros locais. Donde para prova d o argumento é dito que no sentido externo existe a apercepção formal ao modo de uma cognição, que é tendência da potência para o objecto, não ao m odo de uma representação, que é forma substituindo em lugar do objecto na potência. E assim, embora o signo formal seja dito apercepção formal terminativamente, porque é termo da cognição, contudo nem toda a apercepção formal é signo formal, ou seja, o próprio acto de conhecer. Nem a cognição do sentido externo é dita por Soto ser termo inqualificadamente, mas •qualificadamente, apenas enquanto é um tipo de cognição simples. Para confirmação responde-se que um acto do sentido externo é complemento final ao m odo de um acto segundo para diferença da acção em trânsito, porque, como diz S. Tomás em D e Veritate, q. 14, art. 3, o acto da operação em trânsito tem complemento no termo que é feito fora do agente; mas o complemento da acção imanente não é derivado daquilo que é produzido, mas de agir, porque o próprio acto é a perfeição e actualidade da potência. Donde a virtude nestas potências não é considerada segundo o melhor que é feito, mas segundo isto — que a operação seja boa. Assim S. Tomás. Mas, embora a operação do sentido externo seja perfeição última unindo o ob jecto à potência, contudo a operação não faz a união representativamente, porque, como dissemos muitas vezes, é união ao m odo de uma tendência da parte da potência para o objecto, não ao m odo da forma substituinte a favor do objecto; mas a representação é formalmente substituição a favor daquilo que é representado.
Capítulo V
SE É APROPRIADA A DIVISÃO DO SIGNO EM NATURAL, CONVENCIONAL E CONSUETUDINÁRIO
A conveniência desta divisão não traz dificuldade quanto à adequação, pois estes membros esgotam o todo que há para ser dividido; mas existe dificuldade quanto à qualidade desta divisão, ou seja, se o signo convencional é verdadeiramente signo, e consequente mente, se a divisão é unívoca. Seja única conclusão: Se esta divisão do signo em n a tu ra l e con ven cion a l é considerada entitativam ente e na ordem do ser real, é análoga; se é considerada na ordem do representativo ou do cognoscível, é unívoca, e o signo con ven cion a l é verdadeiram ente signo na fu n çã o e substituição do objecto que exerce. A primeira parte da conclusão é manifesta porque, como foi tratado no livro precedente, o signo é constituído na ordem da relação formalmente falando. Mas da relação real e de razão, entitativamente falando, não existe nada de unívoco, porque não podem estar na mesma ordem; contudo a relação do signo natural é real, com o já vimos, enquanto a relação d o signo convencional não pode ser real. Logo, entitativamente falando, não há nada de unívoco àqueles signos. Dizes: não é certo que a relação do signo natural seja real, nem que a do signo convencional consista na relação de razão, mas basta ao signo convencional a denominação extrínseca, pela qual é dito ser imposto pela vontade; logo, não subsiste o fundamento da con clusão posta. 225
Mas esta segunda proposição, que o signo convencional consiste na denom inação extrínseca, não enfraquece o fundamento da conclusão de que a divisão dos signos em natural e convencional é análoga na ordem do entitativo, porque se o signo convencional só tem o ser do signo a partir da denominação extrínseca, por este próprio facto é signo segundo um certo aspecto e não simplesmente, porque a denominação extrínseca não é formalmente ser real existente naquilo que é denominado, mas é pressupostamente no denominante extrínseco. A primeira proposição, que a relação do signo natural ao objecto é real, foi explicada no livro precedente, onde mostramos que o signo natural exprime alguma coisa real ao m odo de uma relação, embora alguns digam que aquela relação é transcendental, não categorial. Contudo, os que dizem que o signo, no que lhe é formal, consiste na relação de razão, devem consequentemente constituir a natureza do signo entitativamente unívoca nesta divisão dos signos em convencional e natural. A segunda parte da conclusão depende daquela célebre doutrina de Caetano, no Com entário à Sum a Teológica, I, q. l, art. 3, que diz que as diferenças das coisas como coisas são algo bem diferente das diferenças das coisas com o objectos e no ser do objecto; e coisas que diferem em espécie ou mais do que em espécie numa linha, podem noutra linha não diferir, ou não diferir da mesma forma. E assim, como a razão do signo pertence à razão do cognoscível, porque faz as vezes do objecto, estará bem que na natureza do objecto o signo natural real e o signo convencional de razão sejam signos unívocos; assim como o ente real e de razão no ser do objecto se revestem de uma natureza, uma vez que terminam a mesma potência, ou seja o intelecto, e pelo mesmo hábito podem ser atingidos, a saber, pela Metafísica, ou pelo menos especificam duas ciências univocamente convenientes, por exem plo Lógica e Física. Logo, no ser do objecto especificante os signos natural e convencional coincidem univocamente. Assim, também pelos signos convencional e natural a potência é verdadeira e univocamente movida e conduzida para o objecto. Pois que sejamos movidos pelos signos convencionais para perceber os objectos, é manifesto pela própria experiência, e que isto seja feito univocamente é evidente, porque o signo convencional não significa segundo o que e dependentemente do signo natural na própria razão de significar; pois por si só a palavra significativa enunciada conduz para o objecto, assim como os outros signos naturais instrumentais. Nem obsta que a palavra ou nome não signifique excepto mediante o conceito, que é signo natural. Pois isto também convém ao signo natural instrumental, que não representa a não ser mediante o conceito 226
e apercepção de si, e contudo o signo natural instrumental não é por isto signo analogicamente, mas verdadeira e univocamente. Pois que os signos ao representar dependam do conceito, não retira a unívoca natureza do signo, uma vez que conceito e cognição é aquilo que os signos instrumentais representam, não um meio pelo qual representam enquanto natureza formal, embora os signos instrumentais possam ser produzidos por esse conceito e cognição. Pois nem toda a dependência de uma coisa para outra constitui a analogia, mas só aquela que estã numa ordem para participar da natureza ou razão geral e comum; pois a não ser que aquela desigualdade seja em parte a mesma e em parte diferente, não destrói a univocidade, como muito bem explica S. Tomás no seu comentário ao D e Interpretatione, início da lect. 8. Finalmente, esta segunda parte da nossa conclusão é abertamente tomada de S. Tomás. Pois na Suma Teológica, III, q. 60, art. 6, resp. obj. 2, diz que «embora as palavras e outras coisas sensíveis estejam em ordens diversas enquanto pertencem à natureza da coisa, contudo coincidem na natureza de significar, que é mais perfeita nas palavras que nas outras coisas. E assim uma coisa que é de certo m odo uma é feita das palavras e coisas no caso dos Sacramentos, en quanto a significação das coisas é aperfeiçoada pelas palavras». E no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 1, q. 1, art. 1, quaestiunc. 5, resp. obj. 4, diz que «embora a representação, que é propriedade da semelhança natural, importe uma certa aptitude para significar, contudo a determinação e o complemento da significação vêm da instituição». Logo, sente S. Tomás no signo convencional que a significação não é analógica, uma vez que pode actuar e aperfeiçoar a significação natural e com ela constituir um signo artificial que é o sacramento.
RESOLUÇÃO DOS CONTRjVARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se; a razão específica não pode permanecer quando é removida a razão genérica; mas no signo convencional não é encontrada a razão genérica do signo, ou seja a relação, excepto analogicamente; logo, a razão específica do signo não é encontrada aí, excepto analogicamente. A premissa menor consta do que foi dito, porque a relação do signo no signo convencional é de razão, que não coincide univoca mente com a relação real na razão da relação. Responde-se que o argumento convence que o signo convencional, tomado na ordem do ente e categorialmente, não é univocamente 227
signo com o signo natural, mas não mostra que não é univocamente signo no ser do cognoscível e representativo. Pois assim como está bem que alguma coisa não coincida univocamente no ser da coisa, com o a quantidade, a qualidade e a substância, e contudo no ser do objecto e cognoscível coincidam univocamente, porque pertencem ao mesmo conhecimento ou potência cognitiva, assim está bem que alguns signos difiram no ser da coisa e na razão de ser categorialmente, e não coincidam univocamente, mas coincidam univocamente na razão objectiva ou vice-objectiva, que é a razão do representativo e significativo. E se insistes: certamente este próprio gênero representativo é rela ção, ou dissemos mal no livro precedente que o signo, na razão do signo, é posto na ordem da relação. Logo, se o signo convencional enquanto é relação não coincide univocamente com o natural, então também não coincide univocamente com o natural na razão do representativo. Responde-se que o próprio gênero significativo é considerado duplamente, no ser da coisa e no ser do objecto ou cognoscível, nem pode prescindir totalmente destas razões, porque são transcen dentais. E na razão do cognoscível o significativo é apenas uma propriedade coincidente do ente e pressupostamente ente, não formalmente, enquanto na razão do ente o significativo é, ou relação transcendental, ou categorial. E quando dissemos acima que o signo é constituído na ordem da relação, falavamos dos signos tanto formal com o categorialmente, isto é, representativamente na ordem do objectivo. Argumenta-se em segundo lugar: porque o signo convencional é constituído pela própria imposição, que nele nada de real põe, mas apenas a denominação extrínseca; logo, não consiste numa relação semelhante à do signo natural, nem tem em si alguma coisa em razão da qual seja representativo, mas só m ove por outro, nomea damente em razão da apercepção que o intelecto tem da própria imposição da voz. A consequência prova-se porque a denominação extrínseca é efeito proveniente da forma denominante, mas a forma denominante extrinsecamente não é relação, mas acto da vontade que impõe. A antecedente, por outro lado, prova-se porque se o signo con vencional não consiste na denominação extrínseca, mas na relação de razão, o signo não existiría em acto, excepto quando é actualmente conhecido, e assim os escritos no livro fechado, ou quando não são considerados actualmente, não serão signo. Responde-se que alguns assim sentem, ao tratarem dos sa cramentos, que a natureza do signo convencional nos sacramentos
228
consiste na atribuição extrínseca, não na relação de razão, como Suárez, no seu tratado sobre os sacramentos. Mas uma vez que a imposição da vontade só serve para determinar a tarefa e o ofício do signo, não enquanto alguma coisa absoluta, mas respectivamente ao objecto significado para o qual a voz não é determinada da sua natureza como coisa, segue-se que a própria atribuição da vontade só faz aquilo que nos signos naturais a própria natureza da coisa faz, natureza que ordena o signo natural para o seu objecto, e assim funda a relação, na qual consiste a própria razão do signo. Logo, semelhantemente, a imposição destinando a voz para significar funda a relação do signo, porque a própria destinação está no signo por respeito a outro. Mas porque esta relação é fundada nalguma destinação, a qual nada de real põe na coisa destinada, então é uma relação de razão. E para além disso, corre no signo convencional a mesma razão que no natural, uma vez que a razão do signo é uma razão respectiva exercendo a sua função numa ordem para o objecto como algo substituinte. Logo, se o signo convencional é signo e exerce esta função, deve revestir-se da natureza da relação, não real, porque carece do fundamento suficiente, logo, de razão. E para réplica diz-se que o escrito no livro fechado ou não considerado actualmente p e lo intelecto é signo actualmente fundamentalmente, não actualmente formalmente, porque a relação de razão não pode ter ser formalmente, excepto pelo intelecto. Mas é denominado absoluta e simplesmente signo, porque nestas relações de razão basta o fundamento próprio para denominar absolutamente, porque é posto da parte da coisa denominável o que quer'que seja que é requerido para tal denominação da parte de si. Mas porque aquela relação, ao contrário das relações reais, não resulta do fundamento, mas depende do acto de cognição, logo, não aguarda a própria relação para que seja denominado signo absolutamente, embora requeira a própria relação para que seja denominado como sendo relacionado em acto; assim com o Deus é absolutamente denominado Senhor e Criador, embora a relação de senhor e criador não seja conhecida em acto; contudo Deus não é denominado relacionado em acto às criaturas, excepto se é conhecido em acto. Mas para isto que é acrescentado, que o signo convencional não significa nem m ove por alguma coisa que em si tenha mas por outro, responde-se que significa por imposição, que é própria dele, embora seja requerida a apercepção da tal imposição enquanto condição e aplicação para o exercício da significação, não para constituir a forma do signo. Argumenta-se em terceiro lugar: porque alguns signos nem são convencionais nem naturais, esta divisão não é adequada.
229
A antecedente prova-se: certamente a imagem de César feita pelo pintor, que o artista não conhece, não é signo natural, porque não significa a partir da natureza da coisa, mas da livre acomodação do pintor; assim com o também muitas imagens costumam ser atribuídas a tal ou tal santo, ao qual não significam de propriedade. Nem são signos convencionais, porque não significam a partir da imposição, mas por m odo da imagem. D o mesmo modo, os signos que são dados por Deus, com o o arco-íris nas nuvens para significar que não haverá um dilúvio futuro com o o do Gênesis, cap. ix, 12-17, e o signo que Deus pôs em Caim, para que não fosse chacinado, não eram signos da imposição, uma vez que eram conhecidos de todos; mas os signos convencionais não são os mesmos junto de todos os homens, com o diz Aristóteles no D e Interpretatione, cap. i, nem eram naturais, de outro modo teriam sido impostos por Deus inutilmente. Responde-se negando a antecedente. Para o primeiro exemplo responde-se que a imagem pintada, embora seja signo feito pela arte, contudo representa naturalmente, ou seja em razão da semelhança que realmente tem, e não em razão da imposição. Mas é dita imagem artificial em razão da causa eficiente, pela qual é feita, não da parte da razão formal pela qual significa, a qual é real e intrínseca, nomeadamente a semelhança com o outro que é ordenado para representar. Mas estas imagens não significam directamente o objecto com o é em si, mas com o é na ideia do pintor, ideia essa que a imagem representa directamente. E porque a ideia do pintor algumas vezes é própria a respeito do seu objecto, outras vezes imprópria ou menos própria, assim também a imagem nem sempre representa o objecto propriamente, como é em si, mas a sua ideia. Mas quando uma imagem é acomodada a este ou àquele santo pelo uso do homem, tal representação constitui signo consuetudinário, como diremos na questão seguinte. Para o segundo exem plo responde-se que muitos signos são convencionais pela instituição divina, assim com o é patente nos sacramentos. E tais signos não representam para todos, mas só para aqueles cientes da própria imposição, e deste modo o arco-íris significa que não haverá dilúvio futuro a partir da própria imposição particular de Deus. Mas talvez o signo posto por Deus em Caim fosse alguma coisa natural, ou seja um certo tremor do corpo, com o S. Jerónimo diz na Epístola 36, que o tremor movia todos para a misericórdia, para que não o assassinassem. Contudo, se o signo em Caim fosse alguma coisa convencional estipulada pela instituição divina, deve ser dito que Deus inscreveu uma apercepção dele em todos os que viam Caim, para que não o matassem.
230
C apítulo VI
SE UM SIGNO CONSUETUDINÁRIO É VERDADEIRAMENTE SIGNO
Há uma especial dificuldade acerca de certos signos, que são acomodados para significar não a partir de alguma instituição pública, isto é, de uma autoridade publicamente emanada, mas apenas da vontade dos particulares, que frequentemente os utilizam para significar alguma coisa. Donde, porque toda a força de significar depende do próprio uso e frequência deste, é duvidoso se este uso e frequência significa de modo natural, ou se na verdade tem uma significação convencional. Seja única conclusão: Se o costum e d iz respeito a algum signo, destinando-o e propon d o-o pa ra signo, tal signo fu n d a d o no costum e será convencional. Mas se o costum e não propõe e in stitu i algum a coisa com o signo, mas expressa simplesmente o uso da coisa, e em razão daquele a coisa é tom ada p o r signo, ta l signo reduz-se ao signo natural. Logo, o costume ou pode ser causa do signo, assim com o se um povo pelo seu costume introduzir e propuser alguma palavra para significar; ou pode funcionar como efeito, que nos conduza para conhecer a sua causa, tal com o o cão frequentemente visto acom panhando alguém manifesta que este seja dono dele, e o costume de comer com guardanapos manifesta a nossa refeição quando vemos os guardanapos postos, e universalmente quase toda a indução é fundada na frequência e no costume, pelos quais vemos alguma coisa suceder frequentemente. 231
A primeira parte da conclusão prova-se de S. Tomás, na Suma Teológica, I-II, q. 97, art. 3, onde ensina ter o costume força de lei. Logo, o costume introduzindo alguma coisa para significar, introduz essa coisa como signo pela mesma autoridade pela qual a própria lei a introduziría. Mas se da lei pública alguma palavra é proposta para signo, é verdadeiramente signo convencional, porque é instituído pela autoridade pública. Logo, o costume, que é sub-rogado em lugar da lei e tem a autoridade da lei, constitui signo convencional d o mesmo m odo que a lei. E vemos muitas palavras serem deste modo introduzidas numa comunidade para significar, e muitas palavras agora não significam o que significavam anteriormente, porque caíram em desuso. Donde acerca de tais signos consuetudinãrios, quando a expressão “de» ou «a partir de» exprime a causa eficiente segundo o uso e o consenso do povo, deve falar-se dos signos consuetudinãrios da mesma maneira que se fala dos signos convencionais. Mas a segunda parte da conclusão prova-se porque o costume, como é um tipo de efeito, conduz-nos ao conhecimento da sua causa, do mesmo m odo que outros efeitos mostram as suas causas; e muito mais o costume que os outros efeitos, porque a frequência de produzir algo firma que aquilo seja efeito de tal causa. Mas todos os efeitos representam a sua causa enquanto procedem daquela, e. assim têm alguma conveniência e proporção. Logo, tal significação é fundada em algo natural, ou seja, na processão de um efeito da sua causa e na conveniência com aquela causa. Consequentemente, o costume como efeito fundando a significação é reduzido à causa natural. E assim o Filósofo diz que o prazer é signo de um hábito adquirido, porque encontramos o prazer nas coisas às quais estamos frequentemente acostumados, devido à coincidência relativamente àquilo em que temos costume.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Primeiro argumenta-se, porque o costume não é efeito natural, mas moral e livre, então não pode fundar a razão do signo natural. A consequência é manifesta porque o signo não pode ser dito mais natural que a causa da qual tem existência; logo, o signo se não provém de uma causa natural, consequentemente não pode ser dito signo natural. A antecedente prova-se porque o costume é o mesmo que o uso, do qual os actos são ditos morais ou humanos, como ensina S. Tomás na Suma Teológica, I-II, q. 1, art. 3. Logo, o costume entre os homens não é efeito natural mas moral, e assim, o signo que se funda no costume, é fundado.em algo de moral e livre, que
232
nas coisas exteriores não põe nada de real, mas apenas a denominação extrínseca; todavia, o signo fundado na denominação extrínseca não pode ser signo natural. Responde-se que, em primeiro lugar, geralmente falando, o costume não se encontra só nos homens, mas também nos animais operando por instinto natural. Donde S. Tomás, no C om entário à M etafísica de Aristóteles, I, lect. 1, mostra que os animais podem ser disciplináveis e acostumados a fazer alguma coisa, ou a evitá-la, através das instruções de outro, e assim nem todo o costume é acto humano, mas todo o costume pode fundar um signo natural, assim com o o costume de um cão seguir alguém é signo de que este seja dono dele. Em segundo lugar responde-se, falando do costume humano, que embora proceda de uma causa livre e assim seja denominado efeito livre, contudo a sua razão formal de significar não é alguma atribuição livre, mas a própria frequência e repetição do acto, e este significa naturalmente, porque não é moral, isto é, atribuição extrínseca que só moralmente denomina, mas processão intrínseca dos actos, e a sua frequência e multiplicação constitui o signo consuetudinário. Logo, a significação pertence naturalmente àquele signo, assim como também os actos livres multiplicados geram o hábito enquanto efeito natural e não livre, porque a própria multiplicação dos actos não funciona livremente para gerar o hábito, e, logo, nem para o significar da força resultante da repetição dos actos, embora os próprios actos em si sejam livres. Segundo argumenta-se: Se o signo consuetudinário representa naturalmente a partir do facto de que é acto frequentemente repetido, segue-se que qualquer costume será signo de alguma coisa, porque todo o costume é efeito procedendo de actos repetidos. Mas isto é falso, porque há muitos costumes que nada significam, assim com o o costume de dormir de noite, comer ao meio-dia, acender o fogo no Inverno, e infinitos outros costumes, nada significam. Logo, o costume não significa precisamente pelo facto de ser efeito de alguma causa, e assim não será signo natural. E confirma-se porque sem alguma mutação intrínseca um signo consuetudinário pode deixar de ser signo, nomeadamente apenas por cessação ou omissão de utilização daquele; logo, não é signo natural. A consequência é patente porque o signo natural deve ser constituído por alguma coisa intrínseca e natural, e, logo, não pode ser perdido apenas pela suspensão do uso voluntário, mas por alguma coisa real que lhe seja oposta. Responde-se que, para que alguma còisa seja signo consuetudi nário, requer-se que também tenha as coisas que concorrem para a
233
razão do signo, ou seja ser ordenado para alguma coisa que o próprio costume toma mais conhecido, não precisamente porque o costume é um efeito, mas porque é frequentemente repetido. Mas se, ou não é tomado como meio para alguma outra coisa, como os guardanapos para a refeição, ou da própria frequência da repetição não é tornado mais conhecido, como se vê que alguém é dono do cão pela frequência com que aquele o segue, não será signo consuetudinário, embora seja costume. Para confirmação responde-se que o signo consuetudinário não desaparece com a mera suspensão retirando a instituição, mas desaparece com a suspensão retirando a multiplicação dos actos e a frequência dos usos. Donde, porque a representação do signo consuetudinário é fundada na própria multiplicação dos actos, que constitui o costume, quando tal multiplicação é removida, é removido o fundamento do signo, e assim a determinação deixada com o consequência da multiplicação é destruída pela privação oposta, assim como o hábito da ciência é perdido por esquecimento, especialmente porque algo de positivo sempre intervém para se perder a memória ou o cpstume, enquanto os objectos se sucedem uns aos outros numa sucessão pela qual os primeiros objectos paulatinamente escapam da memória dispondo para o acto oposto ou impedindo a própria memória e o costume de criarem raízes. Por último argumenta-se: Apenas da vontade, sem alguma multiplicação dos actos, pode resultar o signo consuetudinário; logo, p elo menos então, não representa enquanto signo natural. A antecedente prova-se porque apenas da acomodação e da designação d o homem uma estátua ou im agem é posta para representar algum santo, ou do mesmo m odo um actor representa um rei, ou César, não por um decreto da república nem por um costume dos homens, mas apenas do facto particular de tal homem. E confirma-se porque se a doutrina dada é verdadeira, segue-se que as vozes naturalmente significam aquilo para o qual são impostas, porque mesmo se a imposição deste som «homens» fosse removida, continuaria a representar-nos o homem, por causa do costume que temos, logo, representaria naturalmente a partir do costume. Finalmente, porque o signo natural é o que significa o mesmo junto de todos os homens. Ora o signo consuetudinário não significa o mesmo junto de todos os homens, mas só junto dos que conhecem o costume, assim com o o signo convencional significa junto dos conhecedores da imposição; logo, não representa naturalmente. Responde-se que qualquer imagem, enquanto é imagem, só representa aquilo cuja semelhança expressa, nomeadamente a sua ideia, qualquer que ela seja. Mas.se do uso do homem é acomodada 234
para representar outro objecto diferente da sua ideia, aquela acomo dação ou destinação a respeito do objecto constitui a imagem na razão do signo convencional, se aquela destinação é feita a partir da autoridade pública, ou na razão de um signo consuetudinário, se a destinação é feita como consequência do uso dos homens. Mas se alguém, através de apenas um acto, sem um costume, p õe alguma coisa para representar outra, tal destinação será um tipo de costume incoativo, e assim representará para ele ao m odo de um signo consuetudinário ou como excitativo da memória. E por esta razão também d o actor se diz representar o rei ou p or significação consuetudinãria ou como um excitativo da memória, porque assim sucede entre os homens, para que visto o homem que tal personagem representa seja reduzido a uma memória da coisa representada; assim com o também do pacto ou acordo alguma coisa pode ser designada para signo ou estímulo da memória, o que na totalidade pertence redutivamente ao signo convencional ou consuetudinário. Para confirmação responde-se que as vozes apenas significam convencionalmente, mas por acidente significam a partir do costume, que é significar naturalmente não a partir de si, mas apenas para aqueles junto de quem o costume é conhecido. Nem é inconveniente que dois modos de significar pertençam à mesma coisa segundo formalidades distintas. Daí que, quando um m odo de significar é removido, o outro permanece, e assim o mesmo signo nunca é natural e convencional formalmente, embora materialmente seja o mesmo, isto é, as significações natural e convencional convenham no mesmo sujeito. Mas a proposição onde é dito ser signo natural o que significa o mesmo junto de todos os homens, é inteleccionada do que é signo natural simplesmente, porque a natureza é a mesma junto de todos os homens. Mas o costume é quase outra natureza, mas não a própria natureza, e assim significa para todos junto dos quais ê costume, não para todos simplesmente, e assim é alguma coisa mais imperfeita na ordem do signo natural, tal como o costume é alguma coisa imperfeita na ordem da natureza.
Livro III DIVIDIDO EM QUATRO CAPÍTULOS
ACERCA DAS APERCEPÇÕES E CONCEITOS
ACERCA DAS APERCEPÇÕES E CONCEITOS
Porque a divisão dos termos é feita entre mentais e vocais, e os mentais pertencem aos conceitos e apercepções, e porque a exacta explicação dos signos depen de maximamente dos conceitos e apercepções, para a exacta explicação destes pareceu-me p o r bem disputar algumas coisas sobre os conceitos e apercepções, especialmente enquanto pertencem aos termos mentais simples. Ora, com o dissemos no cap. m do primeiro livro das Súmulas, a apercepção, que é apreensão simples ou termo mental, divide-se, da parte da cognição, em intuitiva e abstractiva, enquanto da parte d o conceito divide-se em conceito ultimado e não ultimado, directo e reflexo. N o.presente livro apenas trataremos destas apercepções e conceitos.
239
C apítulo I
SE AS APERCEPÇÔES INTUITIVA E ABSTRACTIVA DIFEREM ESSENCIAIMENTE N A NATUREZA DA COGNIÇÃO
Supomos aqui dada a definição de apercepção intuitiva e abstractiva que transmitimos no primeiro livro das Súmulas, cap. m, segundo a qual apercepção intuitiva é -apercepção da coisa presente», fenquanto a apercepção abstractiva é «apercepção da coisa ausente». Onde presença e ausência não são tomadas intencionalmente pela própria presença ou união do objecto com a potência. Com efeito, é evidente que nenhuma apercepção pode dar-se sem esta presença, uma vez que, sem um objecto unido e presente à potência, nenhuma apercepção pode surgir nessa potência. Assim, diz-se apercepção das coisas presente e ausente, tomando a presença e a ausência pelo que convém à coisa em si. Donde diz S. Tomás em D e Veritate, q. 3, art. 3, resp. obj. 8, que o conhecimento da visão, que é o mesmo que a apercepção intuitiva, acrescenta sobre a simples apercepção alguma coisa que está fora da ordem da apercepção, ou seja, a existência das coisas. Logo, acrescenta a existência real, pois a existência intencional e objectiva não está fora da ordem da apercepção. E no Com entário ãs Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 14, q. 1, art. 2, quaestiunc. 2, diz que «aquilo que tem existência fora do sujeito que vê, é visto propriamente». Logo, a existência que é requerida para a apercepção intuitiva deve ser real e física. Sobre a dificuldade proposta, várias posições de autores se têm tomado conhecidas. Com efeito, alguns consideraram as distinções destas apercepções do ponto de vista do princípio, ou seja, da espécie
16
241
impressa. E assim disseram alguns, citados por Ferrariensis no Com entário à Suma contra os Gentios, II, cap. l x v i , que é apercepção intuitiva a que é feita sem recurso à espécie inteligível, enquanto a abstractiva é a que é feita mediante alguma espécie. Esta opinião, contudo, deve ser totalmente rejeitada, pois nenhuma apercepção pode ser eliciada sem uma espécie. Com efeito, toda a cognição depende do objecto e da potência, e este objecto não pode informar a potência intencionalmente, não importando o quanto em si seja presente, excepto mediante uma espécie, ou a não ser que o próprio objecto em si tenha existência intencional e espiritual que seja conjunta com a potência. Outros dizem que a cognição intuitiva é aquela que conhece a coisa através de espécies próprias, enquanto a abstractiva é a que conhece a coisa através de espécies estranhas. Parece que a cognição abstractiva e intuitiva pode também ser distinguida do ponto de vista da evidência, porque a apercepção intuitiva é sempre evidente como sendo da coisa em si, enquanto a abstractiva abstrai da obscuridade e evidência e se, por vezes, tem evidência, não é a de uma coisa em si imediatamente, mas como contida em alguma outra coisa, como p o r exem plo, nas suas causas e princípios ou outras coisas semelhantes, ou numa imagem, independentemente da presença. Outros distinguem a apercepção intuitiva do ponto de vista do termo ou do objecto com o terminante, segundo as definições aqui transmitidas, porque uma é acerca da coisa ausente, e outra acerca da coisa presente. Esta opinião é a mais comum entre os tomistas, pois aquela distinção do ponto de vista da espécie, de que a aper cepção é por uma espécie própria ou estranha, em si. ou noutra, obscura ou clara, estas não são formalidades que propriamente pertençam à natureza do intuitivo ou do abstractivo. Pois o intuitivo pode ser mantido através da própria cognição mediata, ou em outro; pode também o abstractivo ser mantido através de uma cognição com tanta evidência e claridade como a intuitiva, e semelhantemente pode o abstractivo ser feito pela cognição e pela espécie imediata. A primeira parte, que a distinção do ponto de vista da espécie não expressa a formalidade que propriamente pertence à natureza da apercepção intuitiva ou abstractiva é manifesta, porque as criaturas futuras são vistas na essência divina como numa forma estranha de especificação, e contudo Deus vê-as intuitivamente. E semelhante mente essa cognição é mediata e em outro. D e m odo semelhante os anjos, pela sua própria essência como por uma espécie podem ver intuitivamente os acidentes que estão em si; e do mesmo modo, por uma espécie representante de outra substância, podem ver os acidentes que estão presentes nessa substância, E nas palavras de S. Tomás o 242
intelecto não possui uma espécie directa dos singulares, e apesar disso pode ver intuitivamente as coisas singulares quando são presentes pelos sentidos. Logo, para a apercepção intuitiva não é requerida nem a espécie própria nem a cognição imediata e directa. Um exem plo do segundo caso, que a distinção do ponto de vista da evidência não expressa a form alidade própria à razão da apercepção intuitiva ou abstractiva, está no próprio caso de Deus, que conhece as criaturas possíveis abstractivamente, com tanta evidência e claridade da parte do cognoscente como se elas estivessem presentes. Semelhantemente, pode Deus infundir em alguém a cognição de uma essência possível fora do Verbo, e então esse sujeito conhecería a coisa possível através de uma espécie própria dele, e contudo conhecería abstractivamente. E um anjo pode ter a espécie própria do eclipse futuro e conhecer a sua futuridade e existência através de uma espécie própria, e contudo essa é uma cognição abstractiva; assim com o nós somos capazes de nos recordar de uma coisa ausente que vimos através de uma espécie própria, e mesmo ser levados a admitir a sua existência ao modo de um objecto, como por exem plo quando a partir dos efeitos conheço que Deus está presente, sendo contudo essa cognição abstractiva. Logo, a apercepção intuitiva e abstractiva não se distingue a partir disto, mas importa •recorrer ao termo conhecido, nomeadamente que uma cognição atinja o objecto terminante sob a sua própria presença física, e outra atinja o objecto terminante sob ausência. Daí que restem apenas dois modos de distinguir estas apercepções, que são também os mais frequentemente seguidos entre os tomistas. Pois alguns distinguem-nas essencialmente segundo a presença e a ausência enquanto segundo naturezas diversas que são representadas, e consequentemente as próprias representações diferem intrínseca e essencialmente, devido aos diversos objectos representados. Outros, contudo, dizem que estes tipos de apercepção diferem acidentalmente porque não requerem diversas representações formalmente, mas a mesma coisa pode ser representada numa apercepção intuitiva e numa apercepção abstractiva, nomeadamente a coisa que com a sua existência e presença significada em acto é conhecida e representada; mas as representações diferem apenas acidentalmente, devido ao diverso exercício de terminar. Com efeito, se o próprio objecto fosse tomado presente em si, e a própria presença fosse representada na cognição, por esse próprio facto a cognição seria tornada intuitiva. Mas se a presença física da coisa, presença através da qual o objecto termina a cognição, fosse removida, e todas as outras condições do lado da cognição e do lado da re presentação permanecessem invariantes, a cognição seria tornada
243
abstractiva. Donde alguns autores também dizem que o intuitivo e o abstractivo são apenas denominações extrínsecas, surgindo na cognição da própria existência ou ausência da coisa em si. Mas outras dizem que intuitivo e o abstractivo são modos intrínsecos à própria cognição, embora não variando a própria representação essencial mente, porque na verdade pertencem à própria tendência da apercepção para o objecto enquanto terminante de tal ou tal modo. Seja portanto única conclusão: A razão fo rm a l e p róp ria do intuitivo e do abstractivo não são razões essencial e intrinsecam ente variantes da cognição, mas acidentalm ente: p o r acidente, isto é, p o r outro e p o r razão d a qu ilo a que estão juntas, in tu itivo e abstractivo podem im porta r tipos de apercepção de diferentes espécies. A primeira parte desta conclusão é tirada das passagens de S. Tomás supracitadas de D e Veritate e C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, porque o conhecimento da visão ou apercepção intuitiva acrescenta sobre a apercepção simples ou abstractiva alguma coisa que está fora da ordem da apercepção, nomeadamente a existência da coisa. Logo, S. Tomás sente que a natureza da apercepção intuitiva e abstractiva não expressa diferenças essenciais e intrínsecas, porque estas naturezas não estão fora da ordem da apercepção, mas pertencem à própria ordem do cognoscível. Mas acrescentar algumacoisa que está fora do sujeito que vê e fora da própria ordem da. cognição, é acrescentar alguma coisa acidental e extrínseca. Ora, o fundamento desta conclusão é que o intuitivo e o abstractivo não importam a diversidade no próprio princípio formal de cognoscibilidade, porque o intuitivo e o abstractivo nas apercepções não, são originados dos próprios meios, ou objectos motivos, ou prin cípios especificantes, nem da diversidade na imaterialidade que é raiz da cognição, nem da diversa razão formal de representar «que» ou «sob a qual». Logo, não importam razões especificamente distinguintes a partir de si e por virtude das suas formalidades. A antecedente prova-se porque, como mostraremos no capítulo seguinte, presença e ausência não pertencem especialmente ao intuitivo e abstractivo como tipos de coisas representadas, com o se fossem tipos de essências, mas apenas segundo afectam e modificam o objecto em si e tomam esse objecto coexistente com a cognição ou não coexistente com ela. O que é manifestamente patente, porque a espécie representando a própria presença objectivamente como uma coisa representada pode ser encontrada numa apercepção abstractiva, com o quando conheço que Deus está presente a mim, ou que a alma ou o intelecto está presente ao corpo, ou quando tratamos da sua presença; e contudo não vemos nem a alma nem Deus intuitivamente. E algo semelhante sucede com as espécies dos 2 44
anjos, que representam as coisas e a existência e a presença antes que elas existam, e contudo os anjos não vêem as coisas in tuitivamente, excepto quando são em si em acto. Logo, a presença ou ausência como coisas representadas, por si e directamente não distinguem o intuitivo e o abstractivo, mas a presença enquanto representada pode ser encontrada numa cognição abstractiva. Todavia a presença ou ausência apenas variam intrinsecamente a ordem do cognoscível com o representadas e cognoscíveis por si, ou enquanto objecto por si, não como modificação e acessório de outro objecto, como mostraremos. Logo, a própria razão formal de uma intuição não é uma diferença essencial na ordem do cognoscível. E isto é confirmado porque presença e ausência constituem o intuitivo e o abstractivo enquanto o intuitivo e o abstractivo funcionam como m odo da coisa cognoscível ou representada, para que a própria presença não tenha a razão do objecto primeiramente e essencialmente representado, mas apenas modifique o objecto representado, para que aquela presença faça a cognição ser terminada para o objecto, enquanto esse objecto está presente, isto é, enquanto é tomado coexistente com a potência cognoscente, não enquanto a presença é ela própria uma coisa representada. Pois assim, com o dissemos, a existência da coisa em si pode ser atingida mesmo através de uma cognição abstractiva, porque é representada ao modo de uma essência, que é própria da cognição abstractiva. Logo, a presença só pertence •ao intuitivo enquanto é modificativa do objecto, não enquanto constitutiva do objecto. Logo, por si não é diferença essencial, porque não se tem da parte d o princípio especificante, que é objecto ou razão do representável, como razão -que» ou «sob a qual», mas supõe o objecto principal representado, do qual ela própria é o modo. Pois a presença modifica a terminação do objecto principal, não constitui a razão motiva, enquanto aquela presença coexiste terminativamente ou da parte do termo, modificação que no seu todo só acidentalmente varia a cognição, assim com o na visão a modificação de um sen sível comum para um sensível próprio, de forma que uma coisa branca, seja vista com ou sem m ovim ento, nesta ou naquela posição, não varia a visão essencialmente porque não se tem da parte do objecto essencial e formalmente, mas tem-se acidental mente da parte do objecto, e da mesma forma funciona a respeito da apercepção a modificação da terminação através da presença ou ausência. Disto segue-se que se as apercepções diferem porque uma diz respeito à presença como directamente representada e conhecida, e a outra não, tais apercepções poderíam diferir essencialmente, devido ao diverso objecto no ser do objecto representável, mas não diferiríam
2
45
apenas na razão do intuitivo e do abstractivo, mas na razão de objectos diversos ao m odo da essência e da coisa representada. A segunda parte da conclusão, ou seja que por razão de alguma coisa contingente à natureza de uma apercepção intuitiva ou abstractiva o intuitivo ou o abstractivo podiam importar uma diferença em tipo, é manifestamente verdadeira, porque o intuitivo e o abstractivo podem algumas vezes ser encontrados em cognições de outro m odo distintas em tipo, já que ou representam diversos objectos, ou representam sob diversos meios e luzes especificantes, com o é patente na diferença entre a visão intuitiva de Deus em si e a apercepção abstractiva d ’Ele através da fé, ou na diferença entre uma cognição intuitiva de Pedro e uma cognição abstractiva de um cavalo. Mas estas diversidades essenciais não são tomadas formalmente e precisamente da própria razão do intuitivo e do abstractivo, mas de outras razões formais que na ordem do cognoscível especificam estas cognições. A natureza do intuitivo ou do abstractivo é acrescentada a estas outras razões especificantes com o uma razão acidental acompanhante, não com o uma razão constitutiva. Mas inquires se estas razões do intuitivo e do abstractivo, dado que por si não são diferenças essenciais da apercepção, são contudo modos intrínsecos à própria cognição, para que realmente modifiquem a cognição; ou se são apenas denominações extrínsecas originadas por uma coexistência física; ou, finalmente, o que são. A resposta é julgarem alguns que o intuitivo e o abstractivo con sistem apenas na denominação extrínseca, enquanto o objecto é dito ser presente ou coexistente com a própria cognição, ou não coexistente. E esta opinião pode ser fundamentada pelos exemplos de verdade e de falsidade; pois a mesma cognição é dita de um m odo ser verdadeira, de outro m odo falsa, a partir da mera de nominação extrínseca de que um objecto existe ou não existe em si. Logo, sem elhantemente, uma ve z que o intuitivo exprim e a coexistência física do objecto, e o abstractivo nega essa coexistência, é apenas pela denominação extrínseca de tal coexistência ou não coexistência que uma apercepção é dita ser intuitiva ou abstractiva. E em Deus parece que isto deve ser asseverado sem qualquer dúvida, porque uma cognição numericamente a mesma que é intelecção simples a respeito dos possíveis, é tornada intuitiva pela mera de nominação extrínseca, porque a própria coisa passa de possível para futura ou existente, passagem que nada põe no próprio conhecimento divino excepto uma denominação extrínseca; assim com o também o facto de o conhecimento divino ser um conhecimento de aprovação, nada mais é que uma denominação extrínseca no conhecimento divino. Todavia S. Tomás em D e Yeritate, q. 3, art. 3, resp. obj. 8,
246
equipara o conhecimento da visão com o conhecimento da aprovação quanto a isto, que é acrescentar alguma coisa fora da ordem da apercepção. Esta opinião é provável. Contudo parece mais provável que o intuitivo e o abstractivo sejam alguma coisa intrínseca à própria apercepção a partir da sua ordem. E assim, quando a apercepção criada passa de intuitiva para abstractiva, e vice-versa, é realmente modificada. A razão disto é que a intuição importa a coexistência da presença física do objecto com a apercepção, não de qualquer modo, mas com o atenção e tendência da própria cognição determinada para tal coisa enquanto coexistente e modificante do objecto. Mas a diversa terminação da cognição mediante a atenção para a coisa coexistente põe alguma mutação intrínseca na própria cognição; com efeito, uma apercepção abstractiva não tem tal atenção e terminação para a coexistência da presença. Nisto reside a diferença entre a verdade ou falsidade da cognição e a natureza do intuitivo e do abstractivo, porque a verdade assim consiste na conformidade para ser ou não ser da coisa, mesmo se não se atende ao ser ou não ser da coisa,contudo se uma única vez profere um juízo sobre a coisa não existente no m odo em que foi julgada existir, por este próprio facto a cognição perde a verdade, e quando a coisa existe do m odo como é julgada existir, a cognição adquire verdade sem que nenhuma outra mutação •intervenha intrinsecamente na cognição. Mas para que alguém veja intuitivamente não basta, quando conhece alguma coisa, que essa coisa seja posta presente em si, mas é necessário que o sujeito que conhece atenda à sua presença como uma presença coexistindo consigo, e não precisamente enquanto presença representada; se tal tipo de atenção falta, a intuição é destruída, embora a coisa conhecida esteja presente em si, porque não está presente ao terminar a atenção e a apercepção; assim como Deus está presente em si à cognição que eu tenho dele próprio, e a alma e aquelas coisas que estão na alma estão presentes em si, e contudo eu não as vejo intuitivamente. Logo, uma atenção diversa de tal terminação do objecto como presente e coexistente é uma razão intrínseca na cognição, e todavia não varia essencialmente essa cognição, porque é uma modificação acidental ao próprio objecto, assim como a modificação de um sensível comum a respeito de um sensível próprio é uma modificação acidental ao objecto, pois não varia as cognições essencialmente, embora exija uma diversa atenção e terminação. Assim a presença, enquanto coexistente, modifica o objecto por si, não distingue essencialmente um objecto, e todavia, devido à diversa atenção, pertence intrinse camente ao acto de conhecer. 247
Mas para o que é objectado sobre a cognição intuitiva de Deus, a resposta é que assim com o o mesmo acto da vontade de Deus, devido à sua eminência, é necessário e livre através da sua perfeição intrínseca, embora conote alguma relação de razão ou denominação extrinseca a respeito do objecto, assim o mesmo conhecimento divino, devido à sua eminência, é intrinsecamente abstractivo e intuitivo e de aprovação, e simultaneamente também prático e especulativo, eficaz e ineficaz a respeito de diversos objectos, embora conote alguma relação de razão ou denominação extrinseca a respeito do objecto. O conhecimento divino, contudo, não consiste formalmente nesta relação de razão ou denominação extrinseca, mas sem essa relação não é denominado intuitivo nem acto da divina vontade livre. Ora o que um acto tem em Deus eminentemente, muitos actos têm em nós devido à sua limitação.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
O primeiro argumento é tomado da doutrina de S. Tomás na Suma Teológica, ft t , q. 67, art. 5, onde diz que uma cognição da fé não pode permanecer numericamente a mesma no céu porque •removida a diferença de alguma espécie, a substância do gênero não permanece numericamente a mesma» e assim «o conhecimento que primeiramente foi enigmático e que se tornou depois visão clara não pode ser numericamente o mesmo». A partir disto é formado o argumento: S. Tomás nega que uma apercepção numericamente a mesma que era enigmática, possa ser uma visão clara, pois quando a diferença de alguma espécie é removida, a substância do gênero não permanece numericamente a mesma. Logo, S. Tomás supõe que visão clara é uma diferença específica da apercepção, de outro m odo nada seria concluído de tal raciocínio, porque se a razão da intuição ou visão acrescenta apenas uma diferença acidental, quando essa diferença é removida a totalidade da substância dessa cognição pode permanecer. E isto é confirmado porque a apercepção intuitiva e a apercepção abstractiva são opostas formalmente e expelem-se uma à outra formalmente do sujeito. Com efeito, são opostas segundo o claro e o obscuro acerca da presença da coisa, porque o intuitivo implica intrinsecamente evidência e certeza da presença da coisa, o que o abstractivo não importa. E em razão desta evidência e certeza uma apercepção intuitiva exclui a apercepção abstractiva; com efeito, elas não são opostas num sujeito apenas com o dois acidentes da mesma espécie, de outro m odo as apercepções intuitiva e abstractiva não
248
seriam mais opostas que duas apercepções intuitivas ou duas apercepções abstractivas entre si. Donde também a fé não é oposta à visão da Glória de outro m odo que porque é abstractiva, enquanto a visão da Glória é intuitiva. A resposta a isto é que S. Tomás falava acerca da visão clara e da cognição enigmática que são iniciadas de diversos meios e não incluem apenas o m odo do intuitivo ou do abstractivo. Mas já dissemos acima que o intuitivo e o abstractivo, embora não sejam diferenças essenciais da cognição, podem contudo ser consequência e pressupor cognições especificamente distintas, às quais são conjuntos quando encontrados nas cognições constituídas através de diversos meios ou luzes ou através de diversas representações. Mas, que uma cognição enigmática e uma visão clara difiram segundo meios diversos, S. Tomás explica melhor no seu comentário à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap. xin, lect. 4. Para confirmação, a resposta é que o intuitivo e o abstractivo nem sempre diferem segundo uma evidência ou não evidência essencial à própria cognição, diferença essa que é derivada da própria razão formal do meio pelo qual é constituída a razão específica da cognição. Com efeito, pode dar-se uma apercepção abstractiva que também é evidente acerca de todos aqueles objectos que a apercepção intuitiva representa, embora essa apercepção intuitiva não tenha a evidência da própria presença enquanto coexistente com a apercepção. Mas . esta evidência não distingue essencialmente uma apercepção de outra, porque não se tem da parte de uma razão formal especificante, mas da parte da coexistência e aplicação do objecto. Donde S. Tomás diz, no seu C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 14, q. 1, art. 2, quaestiunc. 3, que -a claridade da visão resulta de três coisas, ou seja, da eficácia da virtude cognitiva, assim, por exemplo, aquele que é de visão mais forte conhece mais claramente do que aquele que é de visão débil; ou da eficácia da luz, como alguém vê mais claramente ao sol do que à luz da lua; ou, finalmente, da conjunção ou aplicação do objecto, assim como coisas próximas são vistas mais claramente do que coisas afastadas-. Logo, a evidência de uma apercepção intuitiva a partir da energia precisa e formal da intuição provém dessa apercepção apenas deste último modo. Mas é certo que tal claridade ou evidência é acidental e extrinseca, porque depende apenas da aplicação e da coexistência da presença mais ou menos próxima. Quanto ao que foi dito sobre a oposição d o intuitivo e do abstractivo num mesmo sujeito, a resposta é que eles se opõem entre si formalmente por uma formalidade acidental à própria apercepção, mas essencial à própria razão da intuição; assim com o
249
não é essencial para uma linha ser terminada ou não ser terminada por um ponto, e contudo uma linha não p o d e ter ambos simultaneamente. E a mesma cognição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, devido a terminações opostas relativamente aos objectos, e contudo verdade e falsidade pertencem à cognição acidentalmente. Mas a fé e a visão de Deus não só diferem segundo o intuitivo e o abstractivo, mas também segundo diversos meios, porque a fé é iniciada pelo testemunho do que fala, e a visão pela representação da própria coisa em si. D o mesmo m odo a visão da divina essência em S. Paulo, e a recordação pela qual ele recordava que a tinha visto, diferiam não apenas segundo o abstractivo e o intuitivo, mas segundo diversos meios de representação, porque ele viu Deus imediatamente em Si através da Sua representação, mas recordou-se de que tinha visto Deus através de uma espécie criada representando imediatamente algum efeito criado, ou seja a visão quanto ao ter ocorrido de facto. Argumenta-se em segundo lugar: o intuitivo e o abstractivo diferem segundo diversos objectos formais e segundo diversas coisas representadas; logo, importam diferenças essenciais na ordem da cognição. A consequência é patente porque não existe nenhum princípio para distinguir cognições essencialmente, excepto segundo diferentes objectos formais, e as representações são distinguidas segundo as diversas coisas representadas. A antecedente prova-se porque o in tuitivo com o intuitivo diz respeito ao objecto como presente a si próprio formalmente, e segundo esta formalidade difere do abstractivo. E na apercepçâo intuitiva é representada a própria presença da coisa, uma vez que é conhecida e atingida como uma coisa conhecida. Nem basta que a presença exista no próprio objecto, a não ser que essa presença também seja representada na cognição, com o é claro no caso de alguém que não atenta numa coisa que passa à sua frente e de outros exemplos trazidos mais atrás. Logo, o intuitivo não implica a presença da coisa com o puramente entitativa e fisicamente independente da ordem da apercepçâo, mas com o representada e atingida cognoscivelmente. Se fosse dito que aquela presença é representada em exercício e não enquanto coisa directamente representada, quanto a isto existem duas instâncias; a primeira sucede no caso dos nomes e dos verbos que, com o dissemos na questão 2 das Súmulas, art. 3, tem nas suas formas flexionadas conceitos fisicamente, embora não categorematicamente, distintos dos conceitos das suas formas não flexionadas, e contudo não diferem segundo as diversas coisas representadas, mas segundo as diversas conotações exercidas da mesma coisa
250
representada. A segunda instância está na razão formal >sob a qual», pela qual é distinguida essencialmente uma cognição de outra, e contudo não é representada nem atingida pela cognição directa, pois assim seria razão «que» e não «sob a qual». Isto confirma-se, porque o presente e o ausente distinguem essen cialmente actos apetitivos, logo, também distinguem actos de cognição. A consequência é patente da paridade da razão no bom e no verdadeiro em relação ao presente e ausente. Mas a antecedente prova-se, porque o temor e a tristeza diferem apenas por razão de um mal ausente ou presente, assim com o a esperança e a alegria diferem apenas por razão de um bem ausente ou presente. Logo, a presença e a ausência apenas especificamente diversificam actos de apetite e cognição. A resposta ao argumento principal é que o intuitivo e o abstractivo não diferem segundo diversos objectos formais no ser e formalidade de algo cognoscível, mas no ser e formalidade de alguma condição e m odo acidental. E uma coisa é que seja formal e essencial ao próprio intuitivo, outra que seja formal e essencial à própria cognição, assim como é essencial ao branco que diferencie a visão em contraste com o negro, e contudo não é essencial que o homem seja branco; e semelhantemente, um objecto como presente ou ausente, quanto à coexistência com a própria cognição e aplicação do objecto, é essencial ao próprio intuitivo e ao próprio abstractivo, e contudo •não é essencial à própria cognição. E assim o intuitivo e o abstractivo diferem entre si essencialmente e por definição, assim como sucede com o branco e o negro, mas estas diferenças são acidentais à própria cognição porque, como foi dito, não dizem respeito ao presente e ao ausente enquanto estes fundam a cognoscibilidade e imaterialidades diversas, mas enquanto fundam a aplicação do objecto à coexistência física ao terminar a cognição. E quanto ao que foi dito acerca das diversas representações, res ponde-se que o intuitivo e o abstractivo formalmente e por virtude deles próprios não diferem segundo as diversas coisas representadas. Com efeito, pode também a apercepçâo abstractiva representar a presença da parte da coisa representada; assim como, por exemplo, eu agora penso que Deus está presente a mim, e con h eço evidentemente através dos efeitos que a minha alma me está presente, e contudo não vejo Deus nem a alma intuitivamente. Donde estas representações não diferem segundo as diversas coisas representadas, nem segundo uma conotação ou hábito relativamente a distintas coisas representadas ou segundo distintas razões «sob as quais» essencial mente conduzindo para a representação, mas apenas segundo a diversa terminação para a presença do objecto com o coexistente 251
com a própria cognição, com o já foi dito. Donde nem toda a variação na representação é variação essencial, excepto se reduzida a diversas razões «qual» ou «sob a qual» da própria representação. Assim como também na visão exterior não é qualquer mutação que varia essencialmente a visão — por exemplo se só é feita a variação segundo um sensível comum diverso, como quando o branco é visto com movimento ou sem movimento, com esta ou aquela posição ou figura — mutações estas que não variam essencialmente a própria visão, mas acidentalmente, como dissemos. Acerca disto veja-se Banez no seu Com entário à Sum a Teológica de S. Tomás, I, q. 78, art. 3, n. 8. Assim, também a presença ou ausência não variam essencialmente a cognição enquanto implicam diversas terminações da cognição para a presença do objecto com o coexistindo com a cognição. Mas se presença e ausência também funcionam com o coisas representadas, podem deste m odo variar apercepções enquanto seus objectos diversos, mas não quando apenas fazem as vezes de condição pertencente à coexistência da presença de um objecto com a apercepção. A partir disto também se toma clara a resposta às duas instâncias aduzidas acima. Pois nos diversos casos de nomes distinguindo conceitos essencialmente, isto sucede porque trazem ao objecto algum hábito e conotação diversos relativamente à coisa representada, como, por exemplo para a coisa ao modo de um agente ou de algo possuído, que é ser representado ao m odo «de que» ou «do qual» ou «para o qual», hábitos que são inteleccionados para afectar a própria coisa representada e para serem fundados nela, e que são a fo rtio ri diversas razões «sob a qual». Mas o intuitivo e o abstractivo segundo a sua precisa formalidade não exprimem a própria presença ou ausência enquanto coisas representáveis; pois deste modo, com o já dissemos, a presença da coisa pode ser a coisa representada através de uma cognição abstractiva, como quando conheço abstractivamente que Deus está presente. Mas se alguma cognição abstractiva não representa a presença como coisa representada, enquanto uma cognição intuitiva o faz, então tais representações difeririam essencialmente não em virtude do intuitivo e do abstractivo precisamente, mas devido à razão geral de representarem diversos objectos. Logo, estando na precisa formalidade do intuitivo e do abstractivo, que não postulam diversas coisas representadas nem diversos hábitos ou conotações fundados na própria coisa representada, mas diversas terminações e aplicações do objecto segundo a coexistência com a apercepção, por esta razão os conceitos não variam essencialmente, assim como não varia uma coisa branca quando é vista com movimento ou sem movimento, ou não varia a cognição quando é tornada ver
252
dadeira ou falsa a partir da coexistência relativamente ao ser de uma coisa. Para confirmação, a resposta é que existem diversas razões nos actos do apetite e nos actos da cognição, porque o apetite é feito no bom ou mau, mas a razão do bom ou do mau é variada essencialmente segundo diversas conveniências ou inconveniências. Mas conveniência ou inconveniência dependem mais do que qualquer outra coisa da presença ou ausência da coisa, porque um objecto presente satisfaz o apetite, mas um objecto ausente estimula-o e fá-lo mover, pelo facto de que o apetite funciona ao m odo de uma inclinação e de um peso. Mas o peso comporta-se de uma maneira quando está ao centro, e de outra maneira quando está fora d o centro, e por esta razão a presença ou a ausência de um objecto que funciona ao m odo de uma inclinação conta muito para variar a razão formal d o objecto. Mas com o a cognição é aperfeiçoada no interior da própria potência trazendo as coisas para si, sempre é aperfeiçoada pela presença daquelas coisas no ser do cognoscível e do intencional. Donde, excepto tal presença seja variada, não é feita a variação na razão essencial da cognição, e assim isto, que resta da presença física do objecto, seja coexistente ou não coexistente com a apercepção, está fora da ordem de tal apercepção e é considerado por acidente, porque já não pertence à presença intencional. Por último argumenta-se, porque o intuitivo e o abstractivo, se não variam essencialmente a apercepção, mas acidentalmente, ou são denominações extrínsecas ou intrínsecas. Não são denominações extrínsecas, pois se o fossem, uma apercepção numericamenté mesma podería ser de um m odo intuitiva, de outro m odo abstractiva, assim cómo a mesma cognição pode ser verdadeira ou falsa. E se a presença e ausência são comparadas a respeito da apercepção intuitiva e abstractiva, com o o é um sensível comum a respeito da visão, é claro que não podem ser relacionadas por denominações extrínsecas; pois a tendência para um sensível comum não é uma denominação extrínseca na visão. Mas se o intuitivo e o abstractivo são modos intrínsecos, não podem ser outra coisa senão tendência e ordem para o objecto, o que essencialmente varia a cognição. Nem pode ser inteleccionado como estes modos intrínsecos variariam o conceito acidentalmente, e não variariam a própria representação na ordem para a coisa representada. Antes não é dada a divisão da cognição segundo modos intrínsecos, excepto se também for uma divisão essencial, assim como a distinção segundo o que é claro e o obscuro essencialmente varia a cognição, embora a obscuridade não seja uma razão formal, mas um m odo intrínseco da cognição. 253
Finalmente, podem ser aduzidos alguns exemplos que parecem provar que esta distinção é essencial, assim com o o prático e o especulativo são diferenças essenciais, exprimindo o prático, contudo, uma ordem para o trabalho que está fora da razão. E o bom e o mau são diferenças essenciais dos actos humanos, e contudo o mau pode ser derivado de alguma circunstância intrínseca. A resposta a isto é que o intuitivo e o abstractivo são modos acidentais, que redutivamente pertencem à ordem da cognição como modos, não com o espécies essenciais; e com o dissemos, é mais provável que sejam modos intrínsecos. E quando é dito que são a própria ordem ou tendência para o objecto, dizemos que formalmente e directamente eles não são a própria ordem para o objecto na razão •do objecto representado, mas modificações desta ordem, enquanto fazem a apercepçâo tender para o objecto não apenas com o representado, mas com o coexistindo com a apercepçâo, para que a razão para o objecto com o representado e conhecido formalmente constitua a especificação, mas a razão d o ser para o objecto assim representado como coexistindo com a apercepçâo é um respeito modificante. Todavia, quando comparamos a razão do intuitivo com a ordem e relação para um sensível comum, o exem plo tem-se nisto, que um sensível comum não é alguma coisa prim eiram ente representada, mas é representada com o modificando a cor por uma modificação que está acidentalmente para a visibilidade. Assim a presença no conhecimento intuitivo não funciona com o a coisa directamente representada, pois então podería ser representada numa apercepçâo abstractiva, mas funciona com o modificando o objecto representado por uma modificação acidental, com o foi dito; contudo, da parte da coexistência, o exem plo de um sensível não se mantém. E quando é dito que a divisão segundo os modos intrínsecos é também uma divisão essencial, a resposta é que os modos podem ser ditos intrínsecos, seja porque modificam a própria razão formal constitutiva e assim são intrínsecos à própria constituição; ou podem ser ditos intrínsecos porque não denominam extrinsecamente, embora não modifiquem a constituição intrinsecamente. E a divisão em termos de modos do primeiro gênero é também essencial, porque um m odo não pode ser variado sem que varie a constituição dependente do seu ser variado; mas a divisão em termos de modos do segundo gênero é uma divisão acidental, com o foi dito. Para exemplos, responde-se que o prático e o especulativo diferem essencialmente, porque a relação para um trabalho externo é originada a partir de princípios e meios de conhecer diferentes da razão formal do especulativo. Essa diferença não origina apenas a diversa aplicação e coexistência do objecto como sucede com o intuitivo e o abstractivo,
254
mas diversos princípios formais de conhecer um objecto de m odo sintético e resolutivo. E para o que é dito sobre a diferença entre o mal moral e o bem moral, a resposta é que existe uma diferença essencial a respeito de um acto considerado no interior da ordem do costume, contudo a espécie essencial ou o tipo de um acto moral mau não são derivados da circunstância, a não ser que a própria circunstância passe para condição principal do objecto, com o é dito na Sum a Teológica, I-II, q. 18, art. 10. Mas o intuitivo e o abstractivo sâo sempre circunstâncias da cogniçâo, porque pertencem àquela coexistência.
255
Capítulo n
SE PODE SER DADA UMA COGNIÇÃO INTUITIVA DA COISA FISICAMENTE AUSENTE, SEJA NO INTELECTO SEJA NO SENTIDO EXTERNO
Para explicar exactamente a natureza do intuitivo e do abstractivò é necessário ver as diferenças que lhes pertencem formalmente entre si. Existem habitualmente quatro diferenças enumeráveis. A p rim eira é da parte da causa, porque a apercepção intuitiva é produzida pela presença do objecto, enquanto a apercepção abstractiva é produzida pelas espécies deixadas para trás pelos objectos que já não estão presentes. A segunda é da parte do efeito, porque a apercepção intuitiva é mais clara, e, logo, mais certa que a apercepção abstractiva. A terceira é do ponto de vista da ordem, porque a apercepção intuitiva ê anterior à apercepção abstractiva. Com efeito, toda a nossa cogniçâo nasce de algum sentido externo mediante uma cogniçâo intuitiva. A quarta é da parte do sujeito, porque a apercepção intuitiva pode ser encontrada em todas as potências cognitivas, sejam sensitivas, sejam intelectivas, mas a apercepção abstractiva não p od e ser encontrada nos sentidos externos. Ora estas quatro diferenças supõem uma diferença principal, que é derivada da coisa atingida e é explicitamente dada nas definições destes tipos de apercepção, nomeadamente que a apercepção intuitiva é de uma coisa presente, enquanto a abstractiva é de uma coisa ausente. E certamente as primeiras três diferenças não são tão in trínsecas que não possam algumas vezes faltar a estas apercepções, em bora sejam diferenças muitas vezes encontradas na nossa experiência. Pois a espécie representando abstractivamente alguma 256
coisa ou essência, incluindo mesmo a presença da coisa ao modo de uma essência, pode ser infundida por Deus antes que alguma coisa seja representada intuitivamente; nem pode alguém atribuir menos claridade e certeza às apercepções abstractivas do que às apercepções intuitivas, assim como o próprio Deus não conhece as coisas possíveis com menos claridade que as coisas futuras. Donde as principais diferenças são reduzidas a estas duas: no meadamente, da parte do objecto, que a apercepção intuitiva versa acerca da presença da coisa; e da parte do sujeito, isto é, das potências cognitivas, nas quais tais apercepções podem ser obtidas. Acerca disto levanta-se uma questão sobre os sentidos externos: saber se uma apercepção abstractiva pode ocorrer neles. Acerca da primeira destas duas diferenças há muitos que julgam que para a apercepção intuitiva basta a presença da coisa objectiva, mas que não é requerida a presença da coisa física, isto é, basta que a presença seja conhecida, mas não é requerido que seja coexistente com a própria apercepção. Disto se segue que pode essenciaimente ser dada uma apercepção intuitiva da coisa fisicamente ausente. E acerca da segunda, alguns julgam que é possível, pela potência de Deus, que a coisa física ausente seja atingida pelo sentido externo, se essa coisa é representada como presente. Acerca disto vejam-se os Conimbricenses no seu comentário ao D e A n im a aristotélico, cap. m, q. 3, art. 1 e 2. Brevemente contudo (pois este assunto pertence mais aos livros D e A n im a ), a resposta a estas opiniões é dupla: A primeira: A co g n içâ o in tu itiv a n ã o só p ed e a p re s e n ça o b je ctiv a d o seu objecto, m as tam bém fís ic a , e assim n ã o é d a d a n en h u m a in tu iç ã o d o passado e do fu tu ro , excepto se f o r re d u zid o a a lg u m a m edida n a q u a l esteja presente. Esta conclusão é com um m ente deduzida da doutrina d e S. Tom ás na Sum a Teológica, I, q. 14, art. 13. E ao comentar esta passagem, aqueles que aprenderam com S. Tomás, para porem em Deus a visão dos eventos futuros, geralmente dizem que as coisas futuras devem estar fisicamente presentes na eternidade, pois d o futuro com o futuro não p od e ser dada alguma visão. E certamente o argumento de S. Tom ás naquele artigo necessariamente requer a presença física do futuro na eternidade. Pois S. Tomás prova qu e Deus con h ece todas as coisas futuras com o presentes, porque não as conhece nas suas causas, mas em si próprias, segundo cada uma delas está em acto em si própria, e porque a Sua cogniçâo é medida pela eternidade, mas a eternidade abrange a totalidade d o tempo, e assim todas as coisas que são no tempo são presentes a Deus pela eternidade. Este argumento, se é apenas sobre a presença objectiva, é completamente 17
257
ineficaz, porque provaria o mesmo através do mesmo, uma vez que como tenta provar que Deus vê as coisas futuras com o presentes em si próprias, o que é ter a sua presença na cogniçâo e objectivamente, provaria isto, que porque as coisas futuras estão presentes na eternidade objectivamente, estão presentes à cogniçâo, e assim provaria que são presentes objectivamente, porque estão presentes objectivamente. E o fundam ento da conclusão é tom ado disto, que todos concordam que uma apercepção intuitiva deve respeitar um objecto presente. Pois a visão deve atingir as coisas em si próprias, e segundo existem fora do sujeito que vê, já que uma visão intuitiva funciona como uma cogniçâo experimental, ou antes, é a experiência ela própria. Mas não se entende que seja dada experiência, excepto de uma coisa presente, pois de que m odo pode cair sob a experiência a ausente enquanto ausente? Mas disto, sobre a própria visão, que é conhecido por todos, deduz-se manifestamente que é requerida a presença física do objecto, nem pode ser entendido que baste a objectiva. Pois a presença da coisa pode ser conhecida apenas de duas maneiras, seja significada em acto, com o um tipo de essência, ou enquanto é exercida e afecta a própria coisa, tomando essa coisa presente em si. E o primeiro modo de conhecer serve abstractivamente para uma apercepção, porque é próprio de uma cogniçâo abstractiva considerar a coisa ao m odo de uma essência e natureza. Logo, considera a própria presença também com o uma coisa e com o um tipo de essência ou carácter definível, sendo uma cogniçâo abstractiva preservada mesmo a respeito de uma presença considerada enquanto é um tipo de coisa e com o um objecto de discurso. Isto é patente, por exemplo, quando intelecciono através do discurso ou através da fé que Deus está presente, e que a minha alma está presente em mim, e contudo eu não vejo Deus nem a alma intuitivamente. Mas é requerido para a razão do intuitivo o segundo m odo de presença cognoscente, ou seja, é requerido que alguma coisa seja atingida sob a própria presença, atingida enquanto é afectada pela própria presença e enquanto a presença é fisicamente exercida na própria coisa. Mas se a presença é atingida deste modo, não pode ser atingida tal como existe no interior das causas e ao m odo de alguma coisa futura, nem enquanto passou e teve o m odo de alguma coisa passada, porque nenhuma destas coisas é ver uma coisa em si própria, ou ser movido por ela ou ser atingido excepto segundo é em outro. Pois o futuro sob a razão do futuro não pode ser inteleccionado excepto nas causas na quais está contido. Com efeito, o futuro exprime essencialmente aquilo que não está ainda fora das suas causas, mas se encontra ainda no interior dessas causas, que
258
são, contudo, ordenadas para produzir a própria coisa. Logo, envol vería uma contradição conhecer alguma coisa enquanto futura, excepto como estando no interior das suas causas ou numa ordem para elas; pois por este próprio facto que é concebido em si e separado das causas, cessa de ser concebido como futuro. Semelhantemente, alguma coisa passada enquanto passada não pode ser concebida excepto segundo a razão de uma existência anterior. Logo, já não é concebida como em si, porque em si não tem entitatividade nem existência; logo, o passado é concebido como despojado de presença e existência. Donde não pode representar excepto mediante algum efeito ou traço de si deixado para trás, ou mediante a determinação de uma espécie para a existência que teve — a totalidade do que não é ver uma coisa em si própria segundo o ser que tem em si fora do sujeito que vê, mas segundo está contido em outro e exprime uma condição e hábito relativamente a outro. Logo, com o a visão intuitiva é feita na coisa presente, enquanto a presença afecta essa coisa em si, e não enquanto essa coisa é contida noutra ou enquanto a própria presença é conhecida como sendo um tipo de coisa e essência, a conclusão manifesta é a de que a intuição é feita a partir da presença física, enquanto fisicamente funciona da parte d o objecto, e não apenas enquanto está objectivamente presente à potência cognitiva. Com efeito, isto que é estar objectivamente presente, é preservado mesmo numa apercepção abstractiva, que pode conhecer a presença não enquanto pre sencialmente terminando a apercepção, mas enquanto contida ou deduzida de algum princípio, seja representada enquanto é -um tipo de essência, com o quando conhecemos abstractivamente que Deus está presente a nós. Isto é optimamente coligido por Caetano no seu C om entário à Suma Teológica, I, q. 14, art. 9, onde pôs duas condições para que aiguma coisa seja dita ser vista por si e imediatamente: Prim eiro, que esteja presencialmente objectifícada ao que vê, isto é, objectificada através da presença, e não enquanto contida noutro, mas enquanto afecta a própria coisa em si. Segundo, que a coisa vista tenha existência fora do sujeito que vê, uma condição que S. Tomás também tinha posto no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 14, citado acima. Por esta razão, não basta que o objecto de uma apercepção intuitiva tenha existência no interior d o sujeito que vê por m eio de uma representação intencional de si, mas deve também ter existência fora da pessoa que vê, o que é ser um objecto físico, para o qual a apercepção é terminada. Mas se perguntas: onde está a contradição em supor que Deus podería infundir na mente de alguém a representação de uma coisa
259
futura, com o por exem plo a do Anticristo, enquanto é em si futuro, e segundo uma existência distinta das causas, contudo com uma ordem e um hábito relativamente às causas, assim com o as próprias coisas existentes também exprimem um hábito relativamente às suas causas: a esta questào responderemos na solução d o primeiro contra-argumento abaixo. Segunda conclusão: É im possível qu e seja en con tra d a no sentido e x te rio r um a apercepção abstractiva, isto, é um a apercepção da coisa ausente. Tratamos desta conclusão nos livros D e A n im a , q. 6, art. 1, e os Conimbricenses mencionados acima concordam com ela, embora difiram enormemente na razão que dão, e julgam possível que uma coisa fisicamente ausente seja sentida desde que seja representada com o presente. Contudo, a nossa conclusão é a mais comum entre os autores, especialmente junto dos tomistas; e a opinião de S. Tom ás pode ser vista na Sum a Teológica, Dl, q. 76, art. 7, e no seu C om entário às Sentenças de P ed ro Lom bardo, IV, dist. 10, q. 1, art. 4, quaestiunc. 1. Será óbvio que a coisa ausente não pode ser vista, porque os sentidos externos devem receber espécies dos objectos. Mas se os objectos não são presentes aos próprios sentidos, não podem m ovê-los e. produzir espécies. Logo, ao menos para isto a presença física de um objecto é requerida. Depois, nos sentidos requerendo um contacto físico para produzir a sensação, com o é o caso do tacto e do gosto, é manifesto que a presença física d o objecto é essencialmente requerida, porque o contacto é requerido, pois é através desse contacto que a própria sensação é intrinsecam ente produzida. Mas o contacto requer essencialmente a presença dos contactantes, porque não p od e ser feito entre coisas distantes; logo, muito menos entre coisas ausentes, porque todo o ausente in re está distante. Mas se alguém toca, não a própria coisa, mas algo no lugar dessa coisa, então ele não é dito tocar aquela coisa, mas aquilo que é sub-roga d o em seu lugar, assim com o alguém que tem a língua infectada por um humor amargo prova esse humor antes d o sabor de outra coisa que lhe parece amarga: donde a amargura, que ele sente, está presente. Acerca d o resto dos sentido externos prova-se também: tanto a p o steriori, porque toda a cognição do sentido é experimental e indutiva, uma v e z que a certeza d o intelecto é ultimamente resolvida nessa cognição. Mas é impossível que seja feita uma experiência acerca da coisa ausente, porque, enquanto está ausente, necessita de outro m eio a partir d o qual a sua cognição seja recebida. Logo, al guma coisa lhe falta ainda para a experiência, porque a experiência
260
subsiste na própria coisa, segundo o que é em si; com efeito, assim, uma coisa é sujeita à experiência quando é atingida em si. Isto é também provado a p r io r i porque uma cognição exterior d o sentido deve necessariamente ser terminada para algum objecto, não com o representado no interior d o sentido, logo, com o situado fora dessa potência sensitiva. Mas aquilo que é posto fora d o sujeito que v ê tem uma existência física, ou, se não existe, por este próprio facto o sentido carecerá de um objecto terminante, e logo, não terá um objecto acerca d o qual verse, o que é uma contradição. A premissa m enor é provada p elo facto de que os sentidos externos não formam um ídolo, para que a cognição seja aperfeiçoada no interior do próprio sentido c o m o num term o intrínseco, com o será p rovad o mais largamente nos livros D e A n im a . A razão pela qual o sentido externo não forma a sua espécie final é que as coisas qu e são sentidas são sensíveis em acto último fora d o próprio sentido, assim com o a cor se torna ultimamente visível por m eio da luz, daí que o sentido não necessite de alguma espécie para que nessa espécie o objecto seja tom ado formado com o sensível em acto último. Nem, novamente, pertence aos sentidos externos a memória, que possam recordar-se de coisas ausentes, com o sucede com os sentidos internos; logo, não existe neles nenhuma razão para formar uma espécie expressa ou palavra. Portanto, neste princípio com o numa raiz, é fundada a .impossibilidade de conhecer uma coisa ausente através do sentido externo, para que o sentido não careça de um objecto terminante, supondo que um sentido externo não forma no interior de si a espécie na qual a cognição é terminada. Mas se o objecto existe em alguma coisa produzida por si com o numa imagem ou efeito, não será visto imediatamente, mas com o contido na imagem, enquanto é a própria imagem que é vista.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Argumenta-se em primeiro lugar: uma apercepção intuitiva p od e salvar-se sem a presença física do objecto, mas apenas com a presença objectiva; logo, a presença física não é requerida para que seja dada uma apercepção intuitiva. A antecedente é provada por muitos exemplos: primeiro, porque Deus p od e produzir uma espécie representando alguma coisa futura, por exem plo o Anticristo tal com o ele é em si, e com tanta evidência e certeza com o se ele estivesse presente. Na verdade é provável que Cristo Nosso Senhor visse intuitivamente coisas futuras através d e
261
um conhecimento infundido. Logo, p od e ser dada uma cognição in tuitiva que ‘represente alguma coisa ausente. A antecedente prova-se porque o facto de tal coisa futura ser representada não en volve em si uma contradição maior d o que uma coisa passada ser representada, sendo contudo dada uma espécie propriamente representativa da coisa passada. Depois porque aquela espécie que o Anticristo emite a partir de si quando for presente pode ser produzida por Deus independentemente d o Anticristo; logo, então o Anticristo será representado intuitivamente antes que exista em si. E o m esm o argumento se mantém acerca das espécies dos anjos, que são infundidas neles antes de as coisas serem produzidas, e representam as coisas sem nenhuma variação intrínseca, quer as coisas existam, quer não; logo, as espécies representam sempre in tuitivamente. Pois uma apercepção intuitiva é ou a mesma cognição que uma apercepção abstractiva, ou uma cognição diferente. Se é a mesma, já será dada uma apercepção intuitiva de uma coisa ausente, porque a mesma apercepção continua quando a coisa está presente e quando está ausente. Se é diferente, então a representação num anjo é variada quando v ê a coisa intuitiva e abstractivamente, enquanto a espécie é, apesar de tudo, inteiramente a mesma. O segundo exem plo está em Deus, que v ê as coisas futuras intuitivamente, antes que elas existam em si próprias; de outro m odo a sua apercepção dependería, para que fosse intuitiva, da presença física da coisa. N em p od e ser dito que as coisas futuras são presentes fisicamente na eternidade. Tanto porque isto não é certo, e o oposto é mais provável; com o porque mesmo se coisas futuras não existirem na eternidade, elas serão ainda vistas p o r Deus intuitivamente. E ainda porque as coisas futuras existem na eternidade com o numa causa, da qual depende a sua duração no tempo, pois elas existem num acto estranho de ser e numa medida estranha. Logo, para uma apercepção da coisa ser intuitiva, a existência física da coisa em si não é requerida, mas uma existência em outra basta. Finalmente, p orqu e as coisas existindo apenas condicionalm ente são vistas intuitivamente, com o não são atingidas por uma intelecção simples, e contudo não têm presença em acto, nem em si, nem na eternidade, mas teriam essa presença se a condição fosse preenchida. Logo, uma apercepção intuitiva não requer a presença actual da coisa em si. O último exem plo pode ser visto no nosso próprio intelecto, que conhece as coisas intuitivamente, e contudo não tem a espécie representativa da coisa singular, e consequentemente não tem a espécie da presença enquanto coexistente, a qual apenas convém à coisa singular. Logo, uma cognição intuitiva não requer que a presença física seja atingida.
262
Respondemos que nestes exem plos são tocadas muitas coisas que pertencem às matérias teológicas, e por essa razão não podem os tratá-las muito longamente. Brevemente, contudo, responde-se ao primeiro exem plo que não pode ser dada uma espécie da coisa futura que represente essa coisa com o é em si, se a qualificação «em si* expressa a coexistência da própria presença e a terminação da cognição por essa própria presença imediatamente, contudo pode bem existir uma espécie qu e represente a coisa futura com o é em si, se a qualificação «em si* expressar a própria essência da coisa futura com o pertencendo ao m otivo e especificativo da cognição. Logo, a própria essência d e uma coisa futura p od e ser representada, quanto à sua substância e acidentes, ao m odo de uma essência, e isto com maior certeza e evidência do que se fosse vista intuitivamente, porque a evidência e a certeza são derivadas d o lado da luz e d o m eio pelo qual a cognição é feita, não da parte da terminação. D onde o fiel está mais certo d o mistério da Encarnação d o que eu estou deste papel que vejo. Mais ainda, da parte d o m odo de terminar nunca p od e o futuro ou o passado ser conhecido segundo a presença, com o é em si, mas com o é em outro, seja porque é representado nalguma coisa semelhante, seja na imagem formada dessa coisa futura, ou em alguma causa na qual está contida uma dada coisa futura, ou nalguma revelação e teste munho de um falante, ou em alguma outra coisa semelhante. Logo, este m odo da cognição, que é terminar tal cognição pela própria presença da coisa, nunca é encontrado excepto numa cognição intuitiva, não importa quão abstractiva e clara seja da parte d o m eio e da luz, que fazem a cognição. D onde aparece a resposta para as provas aduzidas em apoio d o nosso exem plo. Pois dizem os que de uma coisa passada p od e ser dada uma representação própria da coisa em si, porque ela já se mostrou a si própria, e assim p od e terminar a representação de si; mas não p od e terminar através de si própria tal com o é requerido para uma apercepção intuitiva, mas em algo produzido por si, com o dissemos acima. Para segunda prova diz-se que a espécie p od e ser produzida por Deus, assim com o seria produzida pelo Anticristo quanto ao ser entitativo da espécie, mas não podería ter o m esm o exercício de representar o Anticristo com o se fora presente, tal com o é requerido para uma intuição, especialmente da parte da terminação pela presença de si. Assim a cognição apenas poderia ser terminada para a coisa futura tal com o é em outro e mediante outro. E por esta razão é impossível que a cognição tida por tal espécie da coisa enquanto futura, se fosse tomada presente e feita intuitivamente, não fosse 263
variada intrinsecamente, devido à diferença entre a terminação para uma coisa em si ou em outro, e à diferença na atenção que tal diferença na terminação exige. Donde no sentido externo não poderia ser posta uma espécie ímediatamente representando o Anticristo como coisa futura. E semelhantemente, para prova acerca das espécies dos anjos, diz-se que eles não podem representar coisas futuras por uma terminação para essas coisas em si, mas enquanto contidas nas suas causas. Mas então as coisas futuras terão primeiro começado a ser representadas em si próprias, quando existem em si, e cessam de ser futuras, o que não requer um acto de representação distinto da parte da espécie quanto à razão de representar e à coisa representada, mas quanto ao m odo de terminar deste objecto, em cuja terminação a semelhança da espécie é extrinsecamente completada, com o diz S. Tomás na Suma Teológica, I, q. 57, art. 3, e q. 64, art. 1, resp. obj. 5- Logo, se as coisas futuras estão contidas nas causas contingente mente, um anjo não pode, não importa quanto possa compreender a sua espécie, conhecer essas coisas com o determinadamente existentes, mas apenas indeterminadamente, porque elas não estão de outro modo contidas na causa representada nessa espécie, embora o anjo pudesse conhecer propriamente a sua essência. Mas deste facto, que a cognição de um anjo é variada quando é tomada intuitiva, não se segue que a sua espécie impressa seja variada essencialmente, mas apenas a terminação da coisa representada; com efeito, a espécie que representa a coisa e a presença também coexiste com a coisa presente. Para o segundo exemplo a resposta é que esta opinião acerca da presença física requerida por uma intuição não pode ser sustentada, a não ser que as coisas futuras sejam postas com o fisicamente coexistindo na eternidade, em cuja medida podem as coisas coexistir fisicamente com a cognição divina antes que existam numa medida própria, e assim, por esta razão, supomos ser esta a opinião mais certa, podendo ser vista a explicação de tal opinião nos intérpretes da Sum a Teológica de S. Tomás, I, q. 14, art. 13, particularmente a interpretação de Caetano; e na Suma contra os Gentios, I, cap. 66. Donde nem mesmo Cristo Nosso Senhor era capaz de ver coisas futuras intuitivamente através de um conhecimento infundido, a não ser que aquela cognição pudesse ter sido medida pela eternidade, o que, contudo, não parece possível admitir, com o no caso da visão dos Beatos, que claramente manifesta Deus ele próprio, e conse quentemente a sua eternidade em si, na qual as coisas futuras estão contidas.
264
E para prova deste exemplo diz-se que as coisas não estão contidas na eternidade apenas com o numa causa eficiente, mas com o numa medida superior medindo a duração das coisas ainda não existentes na sua própria medida; de outro modo, a eternidade não seria imutável e indivisível ao medir, se só medisse coisas em acto quando mutavelmente existem em si próprias, e não as medisse se não existissem assim, o que está contra a razão da medida da eternidade, medida essa que é imutável e indivisível mesmo ao medir. Donde todas as coisas estão na eternidade com o numa medida estranha, contudo de tal forma que não estão nela como no interior das causas, mas com o em si, todavia não como produzidas na sua própria medida e segundo uma ilação de recepção e mutação, mas como atingidas por uma duração imutável e eterna, enquanto são atingidas pela acção eterna de Deus sob o aspecto da acção, não sob o aspecto da recepção. Pois a acção de Deus não é sempre conjunta com a recepção e consequência de um efeito numa mutação própria, com o S. Tomás diz na Sum a Teológica, I, q. 46, art. 1, resp. obj. 10. E, contudo, em si, a acção de Deus é sempre uma acção eterna, e sob este aspecto eterno diz respeito ao termo e eleva-o a medida da acção eterna na razão da acção, e diz-lhe respeito não apenas com o estando contido no interior das causas. Mas destas distinções tratam os teólogos mais detalhadamente. Para a outra prova acerca das coisas futuras condicionadas, a resposta é que essas coisas não são atingidas por Deus intuitivamente, porque verdadeiramente elas não existem, mas poderíam ter existido. Mas elas são atingidas por uma intelecção simples, não enquanto a intelecçâo simples exclui um decreto da vontade mas enquanto exclui a visão. Pois uma intelecção é dita ser simples, seja porque não envolve alguma coisa da presença física que pertence à visão, seja porque não envolve alguma coisa de uma ordem para a vontade, que pertence à decisão, como S. Tomás ensina em D e Veritate, q. 3, art. 3, resp. obj. 8. E a respeito do condicionado contingente da verdade terminada, é dado um decreto determinando aquela verdade, mas não quanto à consequência que, quando a condição e a aplicação da concorrência de Deus são postas, se toma uma proposição de verdade necessária. Mas o decreto salvaguarda a natureza do sujeito livre, que não é suficientemente determinada pelo mero preenchi mento dessa condição, mas por decreto e vontade de Deus. Donde esta determinação não é atingida por uma intelecção simples, enquanto a qualificação «simples» é oposta a uma ordem para a vontade, mas é uma intelecção simples enquanto oposta a uma presença física em acto.
265
Para o último exemplo respondemos, em primeiro lugar, que em bora o nosso intelecto não tenha uma espécie impressa directamente representando o singular, contudo tem uma concomitante, pela ordem e reflexão para o fantasma, um conceito propriamente representando o singular, com o explicamos mais largamente nos livros da Física, q. 1, e nos livros D e A nim a, q. 10. Isto basta para do intelecto ser dito ter uma apercepção intuitiva da coisa presente, ou seja, mediante tal conceito. Ou, em segundo lugar, diz-se que deste próprio facto de que o intelecto conhece com uma continuação e dependência dos fantasmas, enquanto os fantasmas são coordenados com os sentidos, porque um fantasma é o movimento produzido por um sentido em acto, com o é dito no tratado de Aristóteles D e A nim a, III, cap. 3, segue-se que embora a cognição intelectual seja feita por uma espécie não directamente representando o singular, pode contudo pelo menos indirectamente conhecer esse singular por meio das suas coordenação e continuação relativamente aos sentidos. Isto basta para do mesmo modo o intelecto ter uma apercepção intuitiva. Argumenta-se em segundo lugar que pode existir uma apercepção abstractiva no sentido externo, porque um infiel ou herético não acreditando que Cristo é tornado presente na Eucaristia pela consagração, continua a ver e julgar do pão da mesma maneira que antes, e é assegurado da presença do pão da mesma forma que antes, nomeadamente por meio daqueles acidentes. Mas antes que exista uma apercepção intuitiva, não apenas dos acidentes, mas também do pão através dos acidentes; logo, a apercepção intuitiva acerca de tal objecto permanece tal com o antes. Pois se fosse abstractiva, seria outra apercepção ou outro julgamento, e contudo o pão está ausente, logo é dada uma intuição da coisa ausente. Confirma-se porque no espelho é dada a apercepção intuitiva da própria coisa aí representada, uma vez que é feita através das espécies emitidas do objecto e reflectidas do espelho para o olho. Mas uma apercepção que é feita por meio das espécies conservadas e emitidas pelo próprio objecto, é uma cognição intuitiva. E contudo a presença física do homem não é dada no espelho porque, por exemplo, ele pode estar por trás e não em frente da pessoa que v ê quando é visto como um objecto no espelho, e por esta razão o pão visto no espelho não está apto para a consagração, porque não está presente aí. Se fosse dito que a própria coisa representada não é vista no espelho, mas apenas é vista a sua imagem, seria uma dificuldade a esta passagem de S. Tomás no D e Veritale, q. 2, art. 6, onde ele diz que «por meio da semelhança que, do espelho, é recebida na vista, a vista é directamente levada à cognição da coisa reflectida, mas
266
através de um tipo de reversão é levada, por m eio da mesma semelhança recebida, para a própria semelhança que está no espelho-. Logo, segundo S. Tomás, o acto de ver não apenas vê a semelhança no espelho, mas também a própria coisa representada. A resposta a isto é que é dada em nós, a respeito d o pão consagrado, uma dupla cognição: uma pertence ao olho exterior a respeito do objecto que vê; a outra é um julgamento que é feito no intelecto acerca da substância da coisa vista. A primeira cognição permanece intuitiva tal como antes, igualmente para o fiel e o não fiel do mistério da Eucaristia, porque permanece invariante acerca do objecto primário e essencial, que é alguma coisa colorida. Mas a respeito do objecto sensível acidental, que é a substância, essa visão não permanece, porque o sentido não é actuado por alguma coisa acidentalm ente sensível, co m o diz o F ilósofo nos livros D e A n im a, II, cap. 6, e como pode ser visto na lect. 13 d o comentário de S. Tomás aos livros D e A nim a. Logo, ao sentido externo, enquanto é externo, pertence apenas atingir intuitivamente a coisa colorida segundo a sua aparência exterior, mas o que lhe é interior, a própria substância da coisa, uma vez que é acidentalmente vista, é também acidentalmente atingida intuitivamente pelo sentido. Donde, quando tal substância é removida, não continua a ser vista acidentalmente, mas o próprio acto da visão externa não é intrinsecamente variado como consequência deste facto, porque aqueles aspectos das coisas ' que são acidentais a uma dada cognição não variam intrinsecamente a cognição. Mas o julgamento do intelecto pelo qual o herético decide que aquela substância é pão, nunca foi intuitivo em si imediatamente, mesmo antes da consagração, porque a substância da coisa não é vista em si. Nem é um julgamento propriam ente intuitivo ou abstractivo, excepto por razão dos extremos, a partir dos quais é estabelecido; pois -intuitivo» é dito da apercepção simples, não da apercepção judicativa, a qual formalmente não versa acerca da coisa enquanto presente, mas enquanto coincidente com outra. O mesmo julgamento acerca da substância do pão pode, deste modo, ser continuado antes e depois da consagração, embora a verdadeira intuição do pão, cuja substância foi vista acidentalmente e não em si, seja interrompida, porque o que é visto apenas acidental e intuiti vamente, não pertence à cognição intrinsecamente, mas extrinsecamente, tal com o sucede com a verdade ou falsidade. E do mesmo m odo, se uma substância nua pudesse permanecer quando os acidentes fossem removidos, a sua cognição continuada no intelecto não seria intuitiva; assim, invertendo-se a situação, quando os acidentes permanecem mas não a substância, a sua cognição no intelecto não é intuitiva, e contudo é a mesma cognição. 267
Para confirmação, a resposta é que no espelho não é vista intuitivamente a própria coisa, mas a sua imagem, que é formada no espelho pela refracção das espécies e da luz. Que uma imagem é gerada, ensina S. Tomás no C om entário às Sentenças de Ped ro Lombardo, IV, dist. 10, q. 1, art. 3, quaestiunc. 3, e na Suma Teológica, III, q. 76, art. 3; e no C om en tá rio ao Tratado A ris to té lico da M eteorologia, III, lect. 6, num tipo de digressão acerca das cores do arco-íris, q. 4, resp. obj. 2. N o espelho, logo, pela luz refractada juntamente com as espécies que são feitas com essa luz, a imagem é gerada e resulta, assim como de uma nuvem oposta ao Sol resultam as cores do arco-íris. E aquilo que o olho vê no espelho é a imagem formada aí, a qual o olho mais definidamente vê intuitivamente; mas as coisas espelhadas só são vistas enquanto estão contidas na própria imagem do espelho. Contudo, do olho é dito ver por m eio das espécies emitidas pelo objecto e refractadas, não porque formalmente e imediatamente veja por meio das espécies enquanto emitidas pelo objecto, mas pelas espécies da própria imagem formada no espelho pelas espécies que são originadas pelo objecto, resultando as outras espécies através da refracção. Mas quando S. Tomás diz que o acto de ver é feito directamente na cognição da coisa espelhada por meio de uma semelhança que, a partir do espelho, é recebida na vista, ele não fala de ver apenas em termos de cognição sensitiva exterior, mas em termos do todo da cognição, tanto interior como exterior, a qual ê recebida do espelho e não subsiste na própria imagem do espelho, mas na coisa espelhada, para a qual essa imagem conduz; e esta totalidade é nomeada acto de ver ou visão. Em terceiro lugar argumenta-se: alguma espécie representando uma coisa ausente pode ser colocada no sentido externo por Deus ou por um anjo; logo, essa coisa ausente será, então, vista pelo olho. A consequência é clara, porque um olho formado por uma espécie, especialmente quando a luz exterior permanece, pode produzir um acto de visão; pois para nada mais é requerido um objecto presente do que para fornecer a especificação ao olho. Logo, quando as espécies são postas sem o objecto, a visão eliciará um acto de ver. A antecedente prova-se: Prim eiro, porque não é impossível que Deus conserve as espécies sem o objecto, pois as espécies dependem desse objecto apenas na ordem de uma causa eficiente, que Deus pode suprir. Segundo, porque algumas aparências acerca dos corpos são muitas vezes vistas quando nenhuma mudança é feita nos corpos, mas apenas no sentido da pessoa que vê, como é claro quando a forma de um homem jovem ou da carne aparece na Eucaristia, como S. Tomás ensina na Suma Teológica, III, q. 77, art. 8. E quando Cristo foi visto pelos seus discípulos noutna forma, com o S. Tomás ensina
268
no mesmo trabalho, q. 54, art. 2; q. 55, art. 4, isso sucedeu através da produção de uma semelhança no olho, como se fosse naturalmente produzida, com o S. Tomás ensina no Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, IV, dist. 10, q. 1, art. 4, quaestiunc. 2. Mais ainda, algumas ilusões são feitas da mesma maneira através da actividade dos demônios, quando as espécies contactam os órgãos dos sentidos exteriores e as coisas são vistas como se estivessem exteriormente presentes, com o S. Tomás ensina no seu C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, II, dist. 8, q. 1, art. 5, resp. obj. 4. Isto é confirmado pelo facto de que Deus pode elevar uma coisa sensível para que opere em alguma coisa distante, e mesmo operar instrumentalmente em alguma coisa espiritual. Logo, da mesma forma, não é impossível para Deus ou para um anjo elevar o sentido externo para que possa operar por um acto imanente dizendo respeito a alguma coisa não presente, uma vez que a razão da presença ou ausência não está fora do seu objecto adequado. A resposta ao argumento principal é que Deus pode na verdade preservar a espécie no olho quanto à sua entitatividade, suprindo a eficiência do objecto, assim com o a luz pode conservar-se no ar sem o Sol. Mas o olho actuado por tal espécie não pode tender para o objecto não presente, assim como não pode ver sem a luz exterior, porque sem a luz exterior ou objecto presente o olho carece de forma ou termo da sensação experimental e externa, uma vez que nenhum ídolo é formado no interior do sentido externo pelo qual a cognição possa ser aperfeiçoada independentemente de um objecto sensível exterior terminante, com o vimos acima. Donde "envolve contradição uma coisa ser conhecida pelo acto de sentir e experienciar de uma sensação externa, que difere da sensação imaginativa, excepto atingindo alguma coisa externa em si própria, e não com o formada no interior d o sentido. Para segunda prova diz-se que estas aparências externas apenas podem ser feitas de duas maneiras: seja através da eliciação de uma visão externa, ou através da eliciação de uma visão imaginativa, que considera ou se julga a si própria para ver externamente, enquanto as espécies que existem interiormente descem para os órgãos dos sentidos; seja dos sentidos comuns ou dos sentidos externos, e movida por aquelas espécies a percepção imagina que vê por uma visão externa, porque é movida pela própria visão, isto é, pelas espécies que m ovem a visão. Se as aparências são feitas do primeiro modo, sempre é dada alguma mudança no meio ou em algum corpo exterior, por uma perturbação do ar e pelo aparecimento da cor, assim com o o fumo algumas vezes faz as suas colunas parecerem serpentes, ou vinhas, ou coisas semelhantes. E deste modo não é impossível para 269
algumas aparições ocorrerem na Eucaristia ou acerca do corpo de Cristo, não porque uma mudança toma lugar no próprio corpo, mas no ambiente circundante, contudo não porque o olh o possa ver alguma coisa sem existir um visível exterior, seja aparente ou verdadeiro. A mesma coisa sucede sempre que coisas visíveis sâo vistas multiplicadas por uma refracção das espécies. N o segundo m odo a visão não é formada pelo próprio olho, mas a imaginação é enganada ou movida tomando-se a si própria para ver coisas que não vê, assim com o nos ébrios as espécies são duplicadas pela imaginação com o consequência da com oção excessiva dos espíritos animais, e os demônios muitas vezes as usam deste m odo para enganar e iludir a imaginação. Mas porque isto é feito através dos estímulos das espécies ou ícones que estão nos espíritos da potência imagina tiva, descendendo até aos órgãos externos, com o resultado de que a potência imaginativa parece então ser movida, por essa razão S. Tom ás diz qu e aquelas espécies contactam os órgãos d o sentido externo, nomeadamente ao descerem da cabeça para os sentidos, para qu e então possam ser novamente levadas para a imaginação, e assim alguma coisa parecería ser vista. Para confirmação, a resposta é que é díspar a razão entre os agentes por uma acção transitiva ou qualquer causa eficiente, e a cognição d o sentido externo. Pois a causa eficiente, a presença da coisa para ser agida pelo agente, é apenas uma condição para o agir pertencendo à conjunção do que recebe, não à espécie formal de agir, e lo g o essa condição pode ser suprida preservando a razão essencial de agir. Mas para os sentidos, por contraste, a presença do objecto não pertence à conjunção d o que recebe, mas à conjunção do termo especificando a acção, termo esse de que a cognição essen cialmente depende. Assim com o uma acção transitiva depende do efeito produzido, assim uma acção imanente depen de da coisa conhecida, mesmo se não p od e ser dado um acto de intelecção sem uma palavra, seja unida ou produzida; mas para os sentidos externos, no lugar da palavra, é dada a coisa sensível, presente no exterior. Mas se a visão fosse fortalecida para ver alguma coisa muito distante, que de outro m odo lhe estaria ausente, isto não é ser elevado a ver uma coisa ausente, o que sucede é que pela força da visão a coisa é tomada presente, e não o estaria para uma potência mais fraca.
270
Capítulo n i
DE QUE MODO DIFEREM OS CONCEITOS REFLEXIVOS DOS CONCEITOS DIRECTOS
Três coisas provocam dificuldade neste capítulo: P rim e iro , existe a questão de saber se o conceito reflexivo se distingue realmente do conceito directo, e qual é a causa desta diferença. Segundo, o que é conhecido por m eio de um conceito reflexivo, e de que tipo são os objectos que eles têm. Terceiro, se os conceitos directos e reflexivos diferem essencialmente. Relativamente à primeira causa de dificuldade, alguns são de opinião que para conhecer o seu próprio conceito não é necessário formar outro conceito dele, com o pode ser visto em Ferrariensis, no C om entário à Sum a con tra os Gentios de S. Tomás, I, cap. u ii . Começa com «mas quando é objectado». Mas S. Tomás diz expressamente na Sum a Teológica, I, q. 87, art. 3, resp. obj. 2, que «o acto p elo qual alguém intelecciona uma pedra é um acto, o acto pelo qual alguém se intelecciona a si próprio inteleccionando é outra coisa bem diferente»; logo, o conceito reflexivo é um conceito distinto de um conceito directo, porque actos distintos produzem conceitos distintos. Isto é mais claramente expresso por S. Tomás em D e Poten tia , q. 9, art. 3, onde diz: «Quanto a isto, não faz diferença se o intelecto se intelecciona a si próprio ou a alguma coisa diferente de si. Pois assim com o quando intelecciona alguma coisa diferente de si forma um conceito dessa coisa, coisa essa que é significada pela voz, assim, quando se intelecciona a si próprio forma uma palavra expressiva de si, a qual também pode ser expressa pela voz.»
272
Alguns autores laboram para dar a razão e a necessidade deste conceito reflexivo para que alguém inteleccione os seus próprios conceitos. Mas vê-se claramente que isto pode ser deduzido das pa lavras de S. Tomás, na passagem eitada da Suma Teológica, I, q. 87, art. 3, resp. obj. 2. Supomos que apenas uma potência intelectiva, não uma sensitiva, pode ser reflexiva, isto é, capaz de reflectir sobre si, primeiro porque a potência do intelecto respeita universalmente todos os seres, logo, também se respeita a si, mas a potência sensitiva, no seu acto é despida daquilo que conhece; por exemplo, o acto de ver não tem a cor em si, e assim não se atinge. Novamente, porque um corpo não pode agir sobre si próprio com o um todo, mas uma parte sempre age sobre outra parte; uma parte de um órgão, contudo, não basta para eliciar a cognição. Neste ponto as observações de S. Tomás no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, II, dist. 19, q. 1, art. 1, e III, dist. 23, q. 1, art. 2, resp. obj. 3, devem ser consultadas; bem com o o que nós próprios dizemos nos livros D e A nim a, q. 4. Na potência intelectiva toda a razão da reflexão é originada disto, que o nosso intelecto e o seu acto não são objectivamente inteligíveis nesta vida, excepto dependentemente das coisas sensíveis, e assim os nossos conceitos, embora estejam formalmente presentes, não são contudo presentes objectivamente enquanto não são formados ao m odo de uma essência sensível, a qual apenas pode ser feita por m eio de uma reflexão tomada a partir de um objecto sensível. Mas no caso dos anjos e das substâncias separadas tal conceito reflexivo não é necessário, porque os anjos conhecem directamente a sua própria substância e o seu próprio intelecto, e as coisas que estão em si com o acidentes da sua substância, e logo, através da mesma espécie pela qual se conhecem a si podem também atingir aqueles acidentes. Mas não se conhecem a si próprios reflexivamente, logo, nem os seus próprios conceitos porque, quando são produzidos, os conceitos deles próprios são inteligíveis pelo seu intelecto não menos que a sua própria substância. A razão para isto é então tomada da passagem supramencionada da Suma Teológica, I, q. 87, art. 3, resp, obj. 2, porque cada coisa é conhecida segundo aquilo que é em acto. Mas a perfeição última do intelecto é a sua operação, porque pela operação não é ordenado para aperfeiçoar outro, como sucede na acção transitiva. Logo, isto é a primeira coisa que é inteleccionada pelo intelecto, nomeadamente, o seu próprio acto de inteleccionar, porque isto é o que é mais actual no intelecto e consequentemente de si primeira e maximamente .inteligível. Contudo, este facto é diferentemente compreendido em diferentes ordens do intelecto. Pois existe uma inteligência, nomea 272
damente a divina, que é em si o seu próprio acto de inteleccionar, e assim, para Deus, inteleccionar-se a Si próprio inteleccionando, e inteleccionar a Sua essência são uma e a mesma coisa, porque a Sua essência é o Seu acto d e inteleccionar. Existe também outra inteligência, nomeadamente a angélica, que não é o seu próprio acto de inteleccionar, mas onde, contudo, o primeiro objecto do seu acto de inteleccionar é a sua própria essência. Assim, embora para um anjo inteleccionar-se a si próprio inteleccionando, e inteleccionar a sua essência, seja distinto segundo a razão, contudo um anjo intelecciona ambos ao mesmo tempo e pelo mesmo acto, porque inteleccionar a sua própria essência é a própria perfeição da sua essência, mas, simultaneamente e por um acto, a coisa com a sua perfeição é inteleccionada. Mas existe uma outra inteligência, nomeadamente a humana, que nem é o seu próprio acto de inteleccionar, nem o seu primeiro objecto é o acto de inteleccionar a sua própria essência, mas o primeiro objecto do intelecto humano é alguma coisa extrínseca, nomeadamente a natureza da coisa material; e logo, aquilo que é primeiramente conhecido pelo intelecto humano é este tipo de objecto, e o próprio acto pelo qual o objecto material é conhecido é conhecido secundariamente, e através do acto é conhecido o próprio intelecto do qual o próprio acto de inteleccionar é a perfeição. Disto manifestamente se segue que toda a raiz da reflexão de um conceito sobre o próprio acto e a potência de inteleccionar deriva da própria razão objectiva do intelecto, porque embora o conceito e a cogniçâo estejam formalmente presentes à potência, contudo não são presentes objectivamente; nem uma presença formal basta para que alguma coisa seja directamente cognoscível, com o é notado por Caetano no seu Com entário à Suma Teológica, I, q. 87, art. 3, resp. obj. 2. A presença objectiva é requerida. Mas uma coisa não pode estar objectivamente presente a não ser que se revista das condições de um objecto de uma dada potência. Como o objecto do nosso intelecto é a essência da coisa material segundo ela própria, aquilo que não é uma essência da coisa material não é directamente presente ao intelecto objectivamente, e para que se revista de tal carácter necessita da reflexão. E assim os nossos conceitos, embora sejam inteligíveis segundo eles próprios, contudo não são inteligíveis segundo eles próprios ao m odo de uma essência material, e logo não são primária e directamente presentes objectivamente, excepto quando são recebidos ao m odo de uma essência sensível, m odo que, sem excepção, deve ser recebido de um objecto sensível. E porque recebem isto, no interior da potência, a partir de um objecto exterior directamente conhecido, são ditos serem conhecidos 18
273
reflexivamente, e serem tornados inteligíveis pela inteligibilidade de um ente material. A totalidade do que nâo ocorre no caso dos anjos nem n o de Deus, que directa e primariamente inteleccionam a sua própria essência e o que quer que esteja nela. Mas se perguntas, que espécie impressa serve para a cognição reflexiva do conceito, responde-se a partir de S. Tomás, em D e Veritate, q. 10, a rt. 9, resp. obj. 4 e 10, que aquelas coisas que sâo conhecidas através da cognição reflexiva não são conhecidas através da sua essência ou por meio de uma espécie própria, mas por conhecer o objecto, isto é, através da espécie daquelas coisas acerca das quais versam o acto e o conceito, a partir do facto de que o conceito e o acto necessitam da reflexão enquanto necessitam de ser formados ao m odo de um objecto sensível, acerca do qual o conceito directo versa. Logo, a cognição reflexiva necessita da espécie de tal objecto para ser formada à semelhança desse objecto e para que conheça. Donde S. Tomás diz, no seu Com entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, III, dist. 23, q. 1, art. 2, resp. obj. 3, que «o intelecto conhece-se a si próprio assim com o conhece outras coisas, porque claramente conhece por m eio de uma espécie, não de si, mas do objecto, que é a forma daquilo a partir de que o intelecto conhece a natureza do seu próprio acto, e a partir da natureza do acto, conhece a natureza da potência, e a partir da natureza da potência, conhece a natureza da essência, e consequentemente das outras potências. Não que o intelecto tenha semelhanças diferentes para cada um destes, mas porque no seu objecto o intelecto não só conhece a razão do verdadeiro, mas toda a cognição que está nele». Aqui S. Tomás ensina claramente com o a espécie do objecto serve para a cognição do acto, nomeadamente enquanto representa no seu objecto a razão de uma coisa conhecida. Com efeito, permanecem na memória espécies não apenas representando um objecto, mas também representando o próprio facto de que foi conhecido, e deste hábito do conhecido regride o intelecto para a própria cognição e para os seus princípios. Donde também através de tal espécie a própria espécie pode ser atingida reflexivamente, não imediatamente em si, mas enquanto é alguma coisa do objecto conhecido. Contudo posterior mente nâo é contraditório que o intelecto possa separadamente formar espécies do conceito, da potência, e de outras coisas semelhantes, do mesmo m odo que forma outras espécies a partir de espécies previamente conhecidas; por exemplo, por meio das espécies da montanha e do ouro, forma a espécie da montanha de ouro, com o S. Tomás ensina na Suma Teológica, I, q. 12, art. 9, resp. obj. 2. Acerca da segunda dificuldade, importa explicar duas coisas: primeiro, quanto ao objecto material da cognição reflexiva, existe a 274
questão de saber sobre quais coisas versa a cognição reflexiva. E para isto brevemente respondemos que são todas aquelas coisas que são encontradas na alma e se revestem, como resultado da cognição do objecto material, da representação e do m odo de uma essência sensível, e assim o intelecto regride para conhecer não apenas o conceito e o acto de conhecer, mas também o hábito, a espécie, a potência, e a própria natureza da alma, com o diz S. Tomás na passagem recentemente citada do livro in do seu C om entário às Sentenças de Pedro Lom hardo, dist. 23, q- 1, art. 2, resp. obj. 3. E quando é dito, na definição do conceito reflexivo, que é um conceito de outro conceito, entende-se que é também um conceito de todas as coisas que concorrem no interior da alma para produzir o conceito, como dissemos no primeiro livro das Súmulas, cap. 3. Ou é dito que o conceito reflexivo é um conceito de outro conceito porque a primeira coisa que é atingida pela reflexão é outro conceito, depois a potência, e a alma, e assim por diante. A segunda coisa que deve ser explicada pertence à razão formal pela qual um conceito reflexivo diz respeito a algo. E assim também dizemos brevemente, a partir do mesmo texto de S. Tomás, que o conceito reflexivo formalmente diz respeito ao conhecimento da natureza daquilo sobre que reflecte, ao modo no qual essa natureza pode ser conhecida através dos seus efeitos, ou conotativamente ao modo de uma essência sensível. E embora os conceitos estejam ■presentes no intelecto fisicamente, contudo, porque não são tomados presentes objectivamente por m eio deles próprios, mas por meio da semelhança e da conotação com uma essência sensível — -o que é atingir essa presença com o se fora em outro e não em si própria — não é dito que vejamos os nossos conceitos intuitivamente. Disto segue-se que por meio de um conceito reflexivo, enquanto regride para um conceito directo, esse próprio conceito é representado como um tipo de qualidade e a imagem significada em acto ao modo da essência de uma imagem; e consequentemente a coisa significada por meio do conceito directo não é representada aí, no conceito reflexivo, excepto muito remota e indirectamente. E a razão é que no conceito reflexivo a própria coisa significada funciona como termo a partir do qual a reflexão se inicia; logo, o conceito reflexivo não representa essa coisa com o seu objecto e com o termo no qual a representação é feita, mas apenas conotando essa coisa como termo a partir do qual a reflexão principiou. E embora o conceito reflexivo atinja o conceito directo enquanto este é um tipo de imagem, e o movimento na imagem esteja também na coisa a partir da qual a imagem é feita, contudo, isto só é inteleccionado quando a imagem não é considerada separadamente e segundo ela própria, mas 275
enquanto exerce o oficio de conduzir para o seu protótipo, como ensina o Filósofo no seu livro A cerca da M em ória e da Rem iniscência, e como S. Tomás explica no seu comentário, lect. 3- Mas num conceito reflexivo o movimento é feito de m odo oposto, isto é, a partir do objecto para a imagem; pois por conhecer um objecto directamente, reflectimos para conhecer o conceito, que é imagem do objecto, e logo, o intelecto é levado, por meio de tal reflexão, para uma imagem ao m odo de uma essência sensível, e para atingir essa imagem significada em acto. Consequentemente, o intelecto não necessita de tender através dessa imagem para a coisa significada, embora indirectamente, com o dissemos, também atinja esse significado, enquanto este é o termo a partir do qual é feito este movimento reflexivo. Acerca da última dificuldade, responde-se brevemente que embora as qualificações «directo» e «reflexivo», enquanto significam certos movimentos do intelecto, não pareçam implicar diferenças essenciais da cognição, assim como o conhecimento enquanto formado através do discurso e sem ele, se é acerca do mesmo objecto, não varia a natureza essencial do conhecimento, contudo, enquanto os conceitos reflexivos e directos importam diversas representações e diversos objectos representados — porque o conceito directo é uma semelhança do objecto, enquanto o conceito reflexivo é uma semelhança do próprio conceito, ou de um acto, ou de uma potência — por esta razão devem diferir simplesmente em tipo; assim com o sucede com as outras cognições e representações que versam acerca de objectos diversos.
RESOLUÇÃO DOS CONTRA-ARGUMENTOS
Contra isto que resolvem os acerca da primeira dificuldade, argumenta-se em primeiro lugar com base em que o intelecto intelecciona pelo mesmo acto o conceito ou palavra, e o objecto representado nesse conceito. E, semelhantemente, o intelecto é con duzido pelo mesmo acto para o objecto e para o acto de conhecer, com o ensina S. Tomás no C om en tá rio às Sentenças de Ped ro Lom bardo, 1, dist. 10, q. 1, art. 5, resp. obj. 2. Logo, o intelecto não necessita do acto reflexivo para discernir entre o conceito e o acto. Isto é confirmado porque o conceito e o acto estão muito mais intimamente presentes e unidos ao intelecto do que o próprio objecto, que é unido à potência mediante tal conceito. E, semelhantemente, o conceito e o acto são ímateriais e inteligíveis em acto último, e por essa razão o conceito é comparado à luz, pela qual o próprio objecto 276
é iluminado, como S. Tomás diz no Opúsculo 14; mas o que é inteligível em acto último não necessita de outro conceito ou forma inteligível para que seja conhecido. Donde a luz é conhecida pelo olho através da sua essência, e não por meio da semelhança, o que S. Tomás expressamente diz no C om entário às Sentenças de Pedro Lom bardo, 2, dist. 23, q. 2, art. 1, onde distingue entre o m odo como a luz é vista, e o m odo como a pedra é vista, dizendo que a luz não é vista pelo olho por meio de alguma semelhança de si deixada no olho, mas informando o olho através da sua essência; embora uma pedra seja vista por m eio da semelhança deixada no olho. O mesmo significa esta passagem da Suma Teológica, I, q. 56, art. 3. A mesma coisa é também habitualmente dita de uma espécie impressa, que de si própria já é cognoscível. Logo, a fo rtio ri, o conceito, que é espécie expressa, está mais em acto do que uma espécie impressa. A resposta ao argumento principal é que a potência é levada para o objecto e para o acto pelo mesmo acto, segundo o acto é razão de conhecer, mas não segundo é a coisa conhecida; pois deste m odo o acto necessita d o conceito reflexivo. E é deste m odo que S. Tomás é entendido no texto citado pelo contra-argumento: ele fala acerca do acto de inteleccionar segundo é atingido com o razão de conhecer o objecto directo; pois é deste modo que o acto de inteleccionar é atingido pelo mesmo acto com que o seu objecto é atingido. E o mesmo é verdadeiro quanto ao conceito ou palavra; pois o conceito 'e a coisa representada são inteleccionados pelo mesmo acto, segundo a palavra é tomada como razão expressando o objecto da parte do termo. Por este motivo, também a própria palavra é algumas vezes dita ser conhecida como aquilo que é apreendido quando um objecto é conhecido, isto é, porque é conhecida como estando da parte do termo que é apreendido, e não com o estando da parte d o princípio, ou com o aquilo por que a coisa é conhecida. Para confirmação respondemos, a partir de S. Tomás em D e Veritate, q. 10, art. 8, resp. obj. 4, e do Com entário à Sum a Teológica de Caetano, I, q. 87, art. 3, que a palavra ou conceito está presente ao nosso intelecto formalmente, mas não objectivamente; com efeito, é uma forma inerente pela qual um objecto é conhecido, contudo não é em si um objecto dado com aquela inteligibilidade que é requerida pelo nosso intelecto, ou seja, inteligibilidade ao m odo de uma essência sensível, não sendo o conceito por essa razão nem inteligível nem inteleccionado em acto por meio de si a respeito do nosso intelecto. Mas no caso de substâncias separadas, o conceito é por si próprio inteligível formal e objectivamente, porque substâncias separadas não inteleccionam apenas essências sensíveis, mas tudo o que é puramente espiritual. 277
E para aquilo que é acrescentado acerca da luz, respondemos, a partir de S. Tomás, em D e Veritate, q. 10, art.8, na resposta à objecçâo 10 da segunda série de objecções, que a luz não é vista através da sua essência, excepto enquanto é razão de visibilidade e um tipo de forma dando ser visível em acto. Mas a luz, segundo está no próprio Sol, não é vista excepto pela semelhança dele no olho, tal como a pedra é vista. Logo, quando S. Tomás diz, no liv. n, dist. 23, q. 2, art. 1, do seu C om entário ás Sentenças de Ped ro Lom bardo, que a luz é vista através da sua essência, o sentido da frase é que a luz é forma de visibilidade através da sua essência, e precisamente porque é tal forma, dando visibilidade actual à cor, não é vista por m eio de uma semelhança distinta daquela que a própria cor que toma visível emite. Mas da espécie impressa dizemos que é cognoscível através de si própria com o aquilo «pelo que», mas não como aquilo «que», e como a coisa conhecida; e deste m odo a espécie impressa necessita do conceito reflexivo. Argumenta-se em segundo lugar, porque as coisas espirituais, Deus e os anjos e o que quer que não tenha essência material, não podem ser atingidas pelo intelecto, excepto revestindo-se do m odo de um objecto sensível, e contudo não são conhecidas por uma cognição reflexiva. Logo, nem os nossos conceitos nem os nossos actos são inteleccionados reflexivamente com o consequência do facto de que são conhecidos ao m odo de um objecto sensível. Pois se fossem conhecidos tal com o são em si, seriam conhecidos directamente pelo mesmo m odo pelo qual os anjos os conhecem. Isto é confirmado porque os conceitos reflexivos e directos são formados através de espécies distintas, uma vez que uma coisa é a espécie representando o conceito, outra a espécie representando o objecto, assim como as próprias coisas representadas são também diversas. Logo, não funcionam com o movimento reflexivo e directo; com efeito, o movimento reflexivo deve necessariamente ser contínuo com o movimento directo e ser proveniente do mesmo princípio. Pois se movimentos distintos procedem de princípios distintos, um não é reflexivo a respeito do outro. A resposta a isto é que para a razão do conceito reflexivo não basta conhecer alguma coisa à semelhança de outra, mas é necessário que aquilo que é conhecido se tenha da parte do princípio do conhecer. Pois deste modo é feita a regressão de um objecto para a cognição, ou princípio da cognição. Mas quando algum objecto real é revestido, através da construção do nosso intelecto, do m odo de outro objecto, haverá aí uma ordem ou comparação de um com outro, mas não uma reflexão.
278
Para confirmação, a resposta é que, seja ou não o conceito conhecido por m eio de espécies distintas das espécies do objecto, contudo é dito ser conhecido reflexivamente, porque tal movimento da cognição tem a sua origem a partir do objecto, e a partir da cognição do objecto a pessoa é movida para formar a cognição do conceito e das espécies, pelas quais o objecto é conhecido. Donde esta distinção dos princípios não remove o carácter reflexivo da cognição, mas conduz ainda mais para isto, porque os próprios princípios de conhecer ou espécies, são formados por aquele movimento reflexivo continuado e derivado da cognição do objecto.
279
Capítulo IV
QUAL É A DISTINÇÃO ENTRE CONCEITO ULTIMADO E NÃO ULTIMADO
O ultimado e o não ultimado são expressos, respectivamente, com o fim e como meio. E assim, geralmente, pode ser dito conceito ultimado qualquer conceito que é termo e fim de outro, para que um conceito seja ordenado para outro; e assim uma operação do intelecto é ordenada para outra, os princípios são ordenados para as conclusões, e o raciocínio discursivo para o julgamento perfeito; e em todos estes casos é encontrada alguma coisa na qual a cognição subsiste, e isto é chamado ultimado; e alguma outra coisa é encontrada, através da qual a cognição tende para tal termo, e isso é chamado meio ou termo não ultimado. Entre os dialécticos, que lidam com nomes e discursos significativos, os conceitos ultimado e não ultimado são distinguidos através disto: o conceito ultimado versa sobre as coisas significadas, enquanto o não ultimado versa sobre as próprias expressões ou palavras signifícantes. Com efeito, esta forma de distinguir o ultimado e o não ultimado oferece uma maneira de distinguir entre o objecto da Lógica, porque o dialéctico não trata das coisas elas próprias, enquanto são coisas, à maneira de como o físico trata delas, mas dos instrumentos pelos quais as coisas são conhecidas, os quais, na maioria das vezes, são palavras significativas correctamente arranjadas e ordenadas. D e tudo isto deduz-se que o ultimado e o não ultimado por si e formalmente não são diferenças essenciais dos conceitos, porque não se têm da parte do próprio objecto, enquanto exprime a razão
280
do cognoscível, mas têm-se antes da parte da ordem de um conceito ou cognição para outro, e assim apenas acrescentam ao conceito relações ou modos de ser para os objectos, não enquanto os objectos são cognoscíveis e especificantes, mas enquanto são ordenados como meio e termo. Mas uma diferença essencial na cognição é tomada a partir do objecto enquanto motivo e especificativo e cognoscível; todas as outras diferenças são modos de ser acompanhantes ou conotações. E contudo, pressupostamente, sucede algumas vezes que estes modos de ser acompanhantes supõem a distinção de objectos, embora formalmente não constituam essa distinção, e é deste m odo que o ultimado e o não ultimado, de que falamos no presente contexto, são exercidos entre conceitos distintos, dos quais um versa sobre a coisa significada, o outro sobre a expressão ou voz significante. E por esta função, porque o conceito ultimado e não ultimado têm objectos diferentes acerca dos quais versam, são conceitos distintos pressupostamente, não formalmente e por virtude do ultimado ou não ultimado. E não pode ser dito que o conceito da voz significativa significa convencionalmente o objecto do conceito ultimado, com o ensinam alguns autores, não porque o próprio conceito não ultimado seja imposto para significar, mas porque o seu objecto, nomeadamente a expressão ou voz, significa a coisa convencionalmente. Mas isto é impossível, porque o conceito é uma semelhança natural de um •objecto, que de nenhum m odo retira do objecto uma significação convencional, mas o próprio conceito não ultimado significa natu ralmente aquela significação da voz, que é convencional, com o uma imagem daquela significação; e assim a significação convencional da voz não é o exercício de significar o conceito, mas um objecto signi ficado pelo conceito. Permanece portanto dúbio na presente questão saber se um conceito não ultimado da vo z representa apenas a própria voz, mas não a sua significação, ou se tal conceito representa tanto a expressão como a sua significação. E quase todos concordam que alguma ordem para a significação é requerida para que um conceito seja não ultimado. Pois se a vo z é nuamente considerada como um certo som feito por um animal, é evidente que pertence a um conceito ultimado, porque deste m odo é considerada enquanto é um tipo de coisa, isto é, do m odo como a Filosofia trata aquele som. Contudo, alguns dizem não ser necessário que a significação da expressão seja representada num conceito não ultimado, bastando que aquela significação seja exercida ou que seja suposto ser habi tualmente conhecida.
281
Mas a opin iã o mais verdadeira é a que sustenta que a p róp ria significação deve também ser representada no conceito não ultim ado, porque é dito ser não ultimado enquanto é concebida alguma coisa na qual a cognição não cessa, mas que é tomada com o meio para um termo ulterior. Mas apenas a significação da voz constitui a aquela voz na razão do meio a respeito da coisa significada. Logo, se a significação não é concebida, também não é concebido aquilo através do que a expressão é constituída na razão do meio ou não ultimado. Nem basta dizer que a significação em questão é exercida, porque o que sucede é, antes, que a voz, enquanto representada no conceito não ultimado, não exerce a sua significação convencional. Pois tudo o que é exercido em tal conceito é de significação natural; logo, a significação convencional da vo z concebida não é exercida, mas representada, embora não seja necessário atingir a própria essência da significação convencional e a relação de imposição, mas basta conhecer a significação quanto ao facto de que existe. Menos ainda basta a apercepção habitual de significação ou imposição para um conceito não ultimado, porque a apercepção habitual só é apercepção em acto primeiro; logo, a não ser que a apercepção surja em acto segundo, não pode ser dita ser um conceito em acto não ultimado, porque o conceito actual é uma representação. Logo, o conceito actual não ultimado não pode ser denominado a partir de uma apercepção habitual de significação. Mas objectas: certamente o homem rústico, ouvindo esta expressão latina «animal», cuja significação ignora, forma um conceito não ultimado dessa enunciação, porque não passa para a coisa significada, e contudo ignora a significação. Logo, a representação da significação não é requerida para o conceito não ultimado. Esta objecção é confirmada porque o conceito significa a mesma coisa junto de todos os homens, com o diz o Filósofo no primeiro livro do tratado D e Interpretatione, cap. t Mas as significações das vozes não são as mesmas junto de todos os homens; logo, os conceitos não ultimados não representam as significações das vozes, de outro m odo não significariam a mesma coisa para todos os homens. A resposta a isto é que o rústico ouvindo a expressão latina ou conhece que é significativa, porque vê os homens usarem aquela expressão no discurso embora ignore o seu significado; ou então, de nenhum m odo está ciente de que aquela expressão é significativa. Se ele apreende a voz do primeiro modo, forma um conceito não ultimado, porque verdadeiramente conhece aquela palavra com o significativa. Se apreende do segundo modo, o conceito que forma será um conceito ultimado, porque apenas representa a expressão ou voz enquanto é um tipo de sçm, não com o signo e m eio
282
conduzindo para outro. Mas quando percebe a significação no que toca ao facto de existir, sem contudo conhecer para que fim essa significação é imposta, em tal caso o conceito é chamado não ultimado, porque embora de facto não conduza para a coisa significada como para a coisa última em particular, contudo conduz para uma coisa significada pelo menos em geral e de um modo confuso surgido da deficiência do sujeito ignorante da significação. Para confirmação dizemos que os conceitos significam a mesma coisa para todos quando são acerca do mesmo objecto e formados do mesmo modo; pois são semelhanças naturais. E assim todos os conceitos não ultimados representantes de expressões ou palavras enquanto significativas representam a mesma coisa junto de todos aqueles entre os quais são assim formados. Mas se não são assim formados entre todos os homens, devido ao facto de que nem todos conhecem a significação das vozes, então não serão conceitos da mesma coisa, e assim não significarão a mesma coisa junto de todos. Argumenta-se em segundo lugar: se o conceito não ultimado representa a própria significação de uma expressão ou voz, então segue-se que quando representa um termo equívoco, ou vários conceitos são formados dessa expressão, ou apenas um. Se apenas um, será dado um equívoco na mente, porque o conceito não ultimado significa uma expressão com várias significações não subordinadas. Se há vários conceitos formados, segue-se que não é dado na mente um conceito de um termo equívoco, porque uma v o z nunca é representada com várias significações, e logo, um termo equívoco poderá ser originado pela enunciação de uma expressão vocal, porque não se pode enunciar salvo o que é concebido pela mente; mas nesse caso não é concebido algum termo equívoco, porque vários conceitos são formados da expressão ou termo em questão, cada um dos quais tem apenas uma significação, e assim será unívoco. A resposta é que o conceito de um termo equívoco, com o por exem plo o de cão, é apenas um conceito não ultimado, porque representa uma expressão ou voz tendo várias significações, assim como o conceito que representa o homem tendo vários acidentes é apenas um conceito; nem se segue disto que exista um equívoco nesse conceito, porque estas várias significações não estão no conceito formalmente, mas objectivamente. Com efeito, o conceito em questão representa um objecto que tem várias significações, nomeadamente a expressão ou v o z em questão, mas fá-lo por uma única semelhança natural representando uma única expressão afectada por várias imposições. Um equívoco na mente, contudo, seguir-se-ia apenas quando um conceito tivesse várias significações formais, as quais são
283
semelhanças naturais; pois estas não podem ser multiplicadas num conceito. Mas que um conceito represente várias significações de uma expressão ou signo enquanto coisa representada não apresenta nenhum inconveniente, porqu e isto é fe ito p o r uma única representação formal. Mas se insistes: o conceito não ultimado do termo equívoco é ordenado para vários conceitos ultimados, porque é ordenado para várias coisas significadas, e não por uma única ordenação, mas por várias, as quais pertencem à representação do conceito ultimado. Logo, assim com o existe um equívoco, na expressão por causa de várias significações relativas a vários significados, assim o conceito dessa expressão deve ser chamado equívoco, devido a ter várias relações com vários conceitos ultimados. A resposta a isto é que o conceito não ultimado é ordenado para vários conceitos ultimados por uma única ordenação da parte da representação formal, mas por várias ordenações da parte do objecto representado. Com efeito, representa por uma única significação e representação natural uma expressão ordenada para várias coisas significadas como resultado de várias imposições, e assim, da parte d o seu objecto, representa as várias relações pertencendo a uma expressão coincidindo com várias coisas e com vários conceitos ultimados, pelo que o conceito não ultimado expressa várias relações enquanto representadas; mas formalmente tem uma única representa ção daquela vo z ou expressão assim afectada por várias relações. Finalmente, argumenta-se que um conceito não ultimado não precisa de representar o facto de que uma expressão é significativa, porque o mesmo conceito não ultimado da voz, pelo mero facto de que aquela vo z é retirada da sua significação, continuará com o conceito ultimado, porque então significará essa voz como uma coisa na qual a cognição ultimamente subsiste. Logo, o conceito não ultimado não é distinguido essencialmente de um conceito ultimado, uma vez que sem nenhuma mudança intrínseca pode ser tornado ultimado. Nem pode ser dito que, porque se representa a si, a expressão ou v o z em questão terá a capacidade de fazer as vezes do termo a respeito de si; pois assim qualquer coisa que se representasse a si teria um conceito não ultimado, enquanto se representa a si própria. A resposta a isto é que estes conceitos não diferem essencialmente, devido precisamente ao facto de que um é ultimado enquanto o outro é não ultimado, como já foi mostrado, mas devido ao facto de que eles são pressupostos serem de diversos objectos, a partir dos quais a diferença essencial é derivada. Donde, no caso de expressões privadas da sua significação, se o ^intelecto conhece esse facto e
284
forma o conceito da expressão como não significante, esse conceito é já distinto do conceito não ultimado que foi previamente formado daquela vo z como significativa, porque então será um conceito ultimado da expressão como coisa, não como signo. Mas se o intelecto não está ciente de que a expressão perdeu a sua significação e mantém o conceito previamente formado daquela vo z como som significativo, o conceito permanece não ultimado tal como antes, embora falso, e então será mudado quanto ã falsidade, não quanto à sua representação essencial. E nota que as relações do ultimado e do não ultimado, embora possam ser distinguidas em tipo como diversos modos de conceitos, contudo não funcionam enquanto especiflcantes dos próprios conceitos formalmente. E assim causam os próprios modos a serem distinguidos em tipo, mas não a própria razão intrínseca dos conceitos, excepto porque os conceitos, com outros fundamentos, têm objectos distintos em espécie.
285
GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS POR JOÃO DE SÃO TOMÁS
Absoluto — O que é considerado isoladamente em si, e não relacionado com outra coisa. É aquilo que não depende de nada extiínseco a ele próprio nas suas constituição e especificação. Opondo-se ao absoluto estão os relativos, que constituem relações secundum esse, têm todo o seu ser para outro e dependem dele inteiramente. Há ainda coisas que são médias entre estas, que constituem relações secundum d ici: são as que têm em si algo de absoluto, e contudo nas suas constituição e espe cificação dependem de outro que lhe é exterior para agir ou causar al guma coisa. É o caso da potência cognitiva a respeito dos objectos que atinge, e que por isto tem uma ordem transcendental para aqueles. Acidente — E o que sobrevêm a um sujeito, pertencendo-lhe como atributo, sem modificar a sua essência. O acidente não pode subsistir por si, mas necessita de um sujeito — substância — para ser capaz de existência. Para Aristóteles, que será, neste ponto, retomado por S. Tomás de Aquino, a substância é a primeira categoria ou gênero supremo, po dendo as restantes nove categorias, quantidade, qualidade, relação..., ser subsumidas sob o conceito de acidente. Acto — Só pode ser concebido em relação com o conceito de potência. Para resolver o problema do movimento — que já fora objecto de soluções tão radicais quanto a de Parménides, que simplesmente o negava — Aristóteles vai defender que o movimento é consequência da passagem de potência a acto; sendo a potência todo o manancial de possibi lidades contido numa substância, e o acto a actualização de uma dessas possibilidades. Representa «a perfeição realizada pela acção e possuída pelo agente» \ O movimento é a consequência do perpétuo
1 Celestino Pires, 1989, «Acto», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasíleira de Filosofia, Verbo, Lisboa, p. 63.
287
devir executado por tudo aquilo que existe em potência a fim de poder passar a acto. Analogia — O termo ser aplicado às criaturas tem um significado não idêntico, mas semelhante ou proporcionalm ente coincidente com o ser de Deus. Esta é a relação de analogia, que não é identidade, nem diferença, mas semelhança sob uma certa proporção. É que o ser das criaturas é separável da essência, e portanto é criado, ao passo que o ser de Deus, sendo idêntico à essência, é necessário. É por isso que estes dois significados de ser não são unívocos, nem equívocos; são análogos, isto é, semelhantes mas de proporções diversas. «Só Deus é ser por essência, as criaturas têm o ser por participação; as criaturas, enquanto são, são semelhantes a Deus, que é o prim eiro princípio universal de todo o ser, mas Deus não é semelhante a elas: esta relação é a analogia. A relação analógica estende-se a todos os predicados que se atribuem ao m esm o tem po a Deus e às criaturas; porque é evidente que na Causa agente d evem subsistir de m od o indivisível e simples aqueles caracteres que nos efeitos são divididos e m últiplos»2. Anjo — Substância que é forma pura, inteligência pura, sem matéria. Um anjo não tem com posição de matéria e forma, mas tem a de essência-existência. A essência de um anjo está em potência em relação à existência, e por isso esta última requer o acto criador d e Deus. Já em Deus a essência é a própria existência, porque Deus é por essência. Em Deus, não há uma essência que seja potência, por isso se diz d'Ele que é acto puro. Apercepção — É a apreensão simples ou o acto p elo qual é form ado o termo mental, e com preende tanto a apreensão intelectiva com o a dos sentidos externos. N ão é tanto, com o o termo parece sugerir, o próprio acto de o sujeito se aperceber de alguma coisa, mas sobretudo o conteúdo dessa apercepção, a noção que é gerada ou «termo mental», com o João de São Tom ás tão bem explica. Apercepção abstractiva — Trata-se da apercepção de uma coisa ausente, sem existência física. Apercepção intuitiva — É a apercepção de uma coisa fisicamente presente no exterior da potência cognitiva, com portando assim existência real e física. Conceito directo — O conceito pelo qual se conhece algum objecto, sem reflectir sobre o próprio acto de conhecer. Conceito reflexivo — Trata-se d o conceito p elo qual o hom em conhece que conhece. T em por objecto o próprio acto cognitivo da potência cognoscente, daí ser reflexivo. Este conceito reflexivo não está, obviamente, acessível às operações dos animais nem dos sentidos externos. Conceito ultimado — É o conceito da coisa significada por um termo.
2 Nicola Abbagnano, 1985, H istória da Filosofia, vol. iv, cap. xv, sobre S. Tomás de Aquino, Editorial Presença, Lisboa, p. 36.
288
Conceito não ultimado — É o conceito pelo qual um term o é tido com o significante, ainda que se desconheça qual o seu significado. Conotação — Acto de apreender uma coisa não através d e um conceito próprio, absolutamente, mas conotativamente e a respeito de outro, à semelhança d o qual o objecto é concebido. Denominação extrínseca — A cto p elo qual se atribui um nom e às coisas, nom e esse que só exprim e relações com outros objectos. Denominação intrínseca — Acto pelo qual se atribui um nom e às coisas quando exprim e propriedades intrínsecas de um objecto. Ente de razão — Ens ra tion is é o que depende da razão, opondo-se ao ente real porque não tem nenhum ser nem existência fora d o intelecto, mas só objectivamente — enquanto conhecido — reside na razão. É um tipo de ente, embora com um caracter entitativo mínimo, porque é conhe cido com o se fora um ente real, mas não tem existência física nas coisas d o mundo. T o d o o ente de razão resulta da actividade cognitiva, pois é o próprio m od o de conhecer d o hom em que constrói apreensivamente com o ente o que não é ente, p e lo que tod o o ente d e razão resulta da cognição. Há dois tipos de ente de razão: negação e relação, sendo este último que ocupa João de São Tomás. A relação é um ente d e razão, porque é puro «ser para» e portanto não pode ser concebida absoluta mente (e m si), nem em outro sujeito, mas com o «em direcção a outro». Equivoco — N om e que é comum a várias realidades distintas, opondo-se a unívoco. Trata-se da utilização de um mesmo e único nom e para denominar coisas inteiramente diferentes; é o caso, por exem plo, da palavra ca n is em latim, que tanto p od e significar «cão» com o «cons telação». Espécie — É a semelhança ou im agem das qualidades sensíveis d e um ser que é imprimida nos sentidos para que o objecto possa ser percebido. N ão há percepção nem experiência sem as espécies emitidas pelo objecto. A etim ologia de species vem de forma, semelhança, imagem-, é aquilo que faz as vezes d o objecto tom ando-o presente ao sujeito cognoscente. «Para S. Tomás e seus comentadores trata-se de ‘formas sem matéria’, ‘semelhanças individuais sem matéria', qualidades sensíveis ou inteligíveis...» 3. Essência— Conjunto das determinações de um ser que fazem com qu e este seja aquilo que é. É o que resta de um ser quando é despojado dos seus acidentes. A essência, para S. Tomás de Aquino, não é separada, existe no objecto e p od e ser abstraída pelo pensamento. Trata-se d o sujeito ou substância que é substrato d e acidentes, e engloba todas as determi nações à falta das quais a coisa deixaria d e ser aquilo que é. Fantasma— São as espécies ou imagens produzidas pela imaginação que são submetidas à acção iluminadora do intelecto. C om o o fantasma é um
3 Manuel Morais, 1990, «Espécie», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa, p. 219. 19
2 89
signo formal, não é constituído propriamente p e lo ícone mental (caso em que seria signo instrumental), mas pela relação de substituição entre as imagens e aquilo qu e representam. Indução— E o acto de ascender dos singulares para os universais (in d u c tio p e r ascensum ); e dos universais descender aos singulares (in d u c tio p e r descensum ). Intenção objectiva — E a própria relação d e razão que é atribuída a uma coisa conhecida. Intenção form al — Trata-se d o conceito pelo qual a intenção objectiva é formada. Meio n o qu al— E aquilo em que outra coisa é vista, assim com o, por exem plo, quando o hom em é visto no espelho — e esse espelho é m eio n o qu a l. Pode ainda ser material e exterior ao sujeito cognoscente, com o no caso d o espelho; ou intrínseco à potência cognitiva, com o sucede no caso da forma expressa ou palavra mental. M eio pelo qu al— E a espécie através da qual o objecto é visto. M elo sob o qu al— Trata-se das condições sob as quais alguém apreende um objecto, assim com o a luz permite a apreensão das cores. Operações do intelecto — São três as operações d o intelecto. A primeira é a apreensão dos termos, sem que nada se afirme ou negue sobre eles. A segunda é a com posição ou divisão, que forma a proposição atri buindo ou negando algo ao termo. A terceira é a elaboração d o discurso ou raciocínio, quando da verdade d e uma proposição se infere outra verdade aí não presente. Potência — N oção introduzida por Aristóteles que surge para solucionar o problema d o m ovim ento e da multiplicidade n o ponto — extre mamente com plicado — em que os eleatas o haviam deixado, negando pura e simplesmente a sua existência ou possibilidade. Para explicar a mudança, Aristóteles vai imaginar os seres constituídos, simultanea mente, d e potência e acto. O acto é a determinação, aquilo que um ser num dado
m omento é; enquanto a potência é
a indeterminação
determinável, o conjunto d e possibilidades que uma coisa, por acção do acto, p o d e vir a ser. Em João d e São Tomás, todavia, este termo é fundamentalmente usado para se referir às potências cognitivas, e abrange tanto os sentidos internos — o intelecto propriam ente dito — quanto os sentidos externos — visão, olfacto, tacto, gosto... Razão — Pode ser a faculdade d e pensar, mas, n o sentido mais comum em que João de São Tomás utiliza o termo, é razão e causa de porque uma coisa é tal com o é. Costuma ser, também, definida com o natureza ou essência. Sendo ra tio aquilo p elo que a realidade é o que é, confunde-se com ideia, natureza, essência, mas é também princípio d e inte ligibilidade, logos, razão imanente, essencial e substancial das coisas. Trata-se d o princípio imanente das coisas determinando-as na sua essên cia e actualidade. Relação — Trata-se de um ente de razão que é constituído unicamente com o ser p a ra um outro, daí ter um carácter entitativo mínimo. A relação é a ligação entre duas ou mais coesas que recebem o nom e d e termos;
290
é portanto a referência de um sujeito a um termo. Consta d e três elementos, um su jeito — aquilo que é referido, o qu e é form ado e denom inado pela relação; um term o — aquilo a que o sujeito se relaciona ou para que tende; e um fu n d a m e n to — aquilo p e lo que o sujeito se refere ao termo, e que é razão e causa de on de as relações obtêm existência. Relação categorial ou predicamental — E a relação em qu e o fundamento se distingue d o sujeito relacionado e o termo se distingue do sujeito. Na relação categorial, sujeito, termo e fundamento são reais e realmente existentes.
Além
disso,
os
relacionados, sujeito
e
termo,
têm
de
pertencer à mesma ordem. Relação de razão — E a relação lógica que se dá em virtude das operações mentais d e um sujeito que relaciona idéias ou conceitos. As relações de razão pertencem às coisas segundo o ser objectivo, e são apenas afecções mentais pelas quais as coisas são comparadas umas com as outras. Relação real — É a relação que se dá nas coisas, independentem ente da operação mental que pode, ou não, apreendê-las. E o caso da relação de paternidade, que existe, ou não, independentem ente d e ser conhe cida. Relação segundo o ser ou ontológica — Integram relações secundum d ic i aquelas coisas cuja totalidade d o seu ser se orienta para outro, com o é o caso d o signo; e com preendem tanto as relações reais co m o d e razão, com fundamento real ou sem ele. A sua essência é referir-se, ser referência a outro. Relação transcendental ou segundo o ser dito — E aquela na qual o sujeito da relação se identifica com o fundamento. Na relação secundum d ic i o relacionado é uma coisa absoluta conhecida por com paração cpm outro. A o contrário da relação secundum esse, aqui temos uma ordem para outro derivada de um sujeito absoluto. A totalidade d o ser da relação transcendental não é «ser para outro», mas mantém em si algo de relativamente independente... Com o tal, têm um ser absoluto e não são totalmente para outro. Segunda intenção — Trata-se da afecção qu e pertence à coisa segundo o m od o com o é conhecida; enquanto a que pertence às coisas tal com o são em si constitui as primeiras intenções. As segundas intenções, que são relações de razão, constituem propriamente o objecto da Lógica, porque a tarefa da disciplina é ordenar as coisas enquanto existem na apreensão. A distinção entre primeiras e segundas intenções baseia-se na distinção entre os dois estados sob os quais a matéria p o d e ser considerada: tal com o é em si, quer na existência quer na essência; ou tal com o é na apreensão. Este último estado é segundo relativamente ao ser em si, que é primeiro, pois ser conhecido é posterior ao ser em si d o objecto. Semelhança — E a espécie de um ser que é produzida ou emitida p elo objecto e imprimida nos sentidos do sujeito, a fim d e que este possa conhecer essa realidade que lhe é exterior.
291
Signo — A lg o que representa ao intelecto uma coisa diferente d ele próprio, sem que constitua, necessariamente, uma realidade material e física, pois só assim a definição de signo abrange tanto o formal com o o instru mental. O signo comporta tanto uma relação com outro, ao qual representa, co m o dependência desse outro — o seu objecto — pois é sem pre mais im perfeito do que aquilo que representa e manifesta ao sujeito cognoscente. O signo relaciona-se assim com o objecto com o seu substituto e subordinado, e a representação é tanto mais perfeita quanto mais próxim o este estiver d o objecto significado, com o qual tem, ne cessariamente, alguma conexão ou proporção. Signo consuetudlnário — Representa, a partir do uso, por um costume amiudadamente repetido, mas sem «imposição da autoridade pública» para significar. Signo convencional— Considera a relação d o signo co m o seu objecto, e qu e a capacidade de tal signo representar algo distinto d e si se d eve a uma im posição convencional ou acordo estabelecido entre os homens, com o é o caso das palavras. Signo form al— O signo formal determina-se pela relação d o signo à potência cognoscente. É a apercepção que representa algo a partir d e si própria, e não mediante outro, com o é o caso dos conceitos. Signo instrum ental— Classifica-se a partir da relação d o signo com a potência. O signo instrumental representa algo a partir d e uma cognição pré-existente d e si. Funciona com o instrumento para conhecer a cois$ que significa, assim com o o vestígio do lobo, se d ele já tivermos uma imagem, significa o animal que o produziu. Substância — Trata-se do substrato dos acidentes de um ser. A substância «está sob os acidentes, é fonte d e acção, revela aquilo que a coisa é [...] é aquilo que é em si e não noutro; é o que subsiste em si [...] aquilo d e qu e em prim eiro lugar e principalmente se diz que é, porque é, no plano ontológico, sujeito d e todas as determinações; porque é natureza, isto é, centro d e actividade, e essência, isto é, o qu e determina o ser a ser aquilo que é» . Termo — É o último elem ento que forma a proposição e oração simples. Trata-se d o signo convencionalm ente significativo a partir d o qual se elabora a proposição, e com preende tanto o termo mental, quanto o pronunciado ou escrito.
4 Celestino Pires, 1992, «Substância», in Logos— Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa, p. 1330.
292
•
B IB L IO G R A F IA D E ESTUDOS SOBRE J Ó Ã O D E S Ã O TO M Á S
A. G., 1944, -Notas: na Passagem do Terceiro Centenário da Morte de João de São Tomás», in Lum en, Revista de C u ltu ra d o C lero,
x ii ,
Lisboa,
pp. 661-663. A nônim o , A., 1944, «Traços Biográficos de João de São Tomás, Insigne Filó sofo e T e ó lo g o Português», in Estudos, Revista de C u ltu ra e F orm a çã o C atólicas, número especial 8-9, Coimbra, pp. 331-348. .A n ô nim o , B., 1944, -A Obra Filosófica e T eológica do Padre Mestre Frei João de São Tomás», in Estudos, Revista de C u ltu ra e F orm a çã o Católicas, número especial 8-9, Coimbra pp. 401-408. A lmeida , Fortunato de, 1970, H istória da Ig reja em P o rtu g a l, livro m, Livraria Civilização, Porto. A lves, Gabriel do Rosário, 1985, -Frei João de São Tom ás e S. Tom ás de Aquino. O Tratado da Aprovação», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa,
pp. 231-238,
B elisario, D. Tello, 1954, -El ente de razón según Juan de Santo Thomás», in Philosophia, pp. 344-351. B f.iif .ratf., Bruno, 1955, -Principais Contributos de Frei João de São Tom ás à Doutrina da Analogia d o Cardeal Caetano», in Revista Portuguesa de F ilosofia , xi, Braga, pp. 344-351. --------- , 1985, «Conceito de Existência em João de São Tomás», in A n to lo g ia de Estudos sobre João de Santo Tomás, org. d e Jesué Pinharanda Gom es, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 167-184, B lanes, Guil, 1956, «Las raices de la doctrina d e Juan d e Santo Tom ás acerca dei universal lógico», Estúdios F ilosóficos, Las Caldas de Besaya, pp. 418-421. Bo n d i , Eugene, 1966, *A study o f predication based on the Ars Lógica o f John o f St. Thomas», in The Thom ist, 30, pp. 260-294.
293
Carvalho , José G onçalo Herculano de, 1969, «Segno e significazione in Joâo de S. Tomás», in Estudos Linguísticos, vol. n, Atlântida Editora, Coimbra, pp. 131-168. --------- , 1995, «Poinsot’s Semiotics and the Conimbricenses», in Ensaios de H om enagem a Thom as Sebeok, Cruzeiro Semiótico, n.051 25-26, coord. Norm a Tasca, Fundação Eng. Antônio de Almeida, Porto, pp. 129-138, D eely, John, 1985, Tractatus de S ig n is — the S em iotic o f Joh n P oin sot, University o f Califórnia Press, Berkeley. D eusdado , Manuel Ferreira, 1978, A F ilosofia Tom ista em P o rtu g a l, Lello & Irmão, Porto. D oyle , John, 1953, “John o f St. Thom as and Mathematical Logic», in The New Scholasticism , 27, pp. 3-38. Fidalgo , Antônio, 1995, Sem iótica, a Lógica da C om u n ica çã o, Universidade da Beira Interior, Covilhã. Furton , Edward James, 1997, A M ed ieva l Sem iotic: R eference a n d Representa tio n in Joh n o f St. Thom as Tbeory o f Signs, Peter Lang, N ova Iorque. G arcia , Mário, 1985, -Reflexão sobre a Natureza e a Divisão d o Sinal na Lógica de João d e São Tomás», in A n tolog ia de Estudos sobre João de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gom es, ed. d o Instituto Amaro da Costa, Lisboa, pp. 277-281. G arcia , Prudêncio Quintino, 1886, «Comentários feitos à Sum m a Theologica de Santo T h om a z d ’A qu in o p o r T h e o lo g o s Portuguezes», in In s ti tu ições Christãs, revista da Academia de Santo Thom az d ’Aquino, vm,. Coimbra. --------- , 1979, A Teologia Tom ista em P o rtu g a l’ Lello & Irmão, Porto. --------- , 1985, «Fr. Joâo de São Tom ás e o Primado do Tomismo», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 197-214. G arrigou -Lagrange , R., 1945, «João de São Tomás, T e ó lo g o Português», in Verdade e Vida,
v ii ,
Lisboa, pp. 396-404.
G lanville , John, 1958, «Zabarella and Poinsot on the Object and Nature o f Logic», in R eadings in Logic, ed. Roland Houde, W illiam Brown, Dubuque. G omes, Jesué Pinharanda, 1985, Joã o de Santo Tom ás n a F ilosofia P ortu gu e sa d o Século XVII\ col. Biblioteca Breve, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa. G onçalves, Antônio Manuel, 1955, «Actualidade de Frei Joâo de São Tomás», in Revista Portuguesa de F ilosofia , xi, Braga, pp. 586-591. --------- , 1957, F re i Luís Poinsot, M estre C oim brão, sep. d o t. m das publi cações d o X XIII Congresso Luso-Espanhol, Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Coimbra, pp. 5-12. --------- , 1971, «Posição Doutrinai de Frei João de São Tomás», in A rqu ivos do C en tro C u ltu ra l Português, vol. íu, pp. 672-681, Fundação Calouste Gulbenkian, Paris. --------- , 1985, «O Tom ism o Indefectível de Frei João de São Tomás», in A n to lo g ia de Estudos sobre João de Santo Tom ás, org. de Jesué Pinharan da Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 85-92.
294
--------- , 1985, “O Curso F ilosófico de Frei João de São Tomás», in A n tolog ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 93-104. H ellin, José, 1957, La M etafísica de la Possibilid ad ’ Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Coimbra. K ane , Declan, 1959, “T h e Subject o f Predicamental Action according to John o f St. Thomas», in The Thom ist, 22, pp. 366-388. La v au d , M.-Benoit, 1928, «Jean de Saint-Thomas, Thom m e et 1’oeuvre», in In tro d u c tio n à la tb é o lo g ie de S a in t Thom as, André Blot, Paris, pp. 411-446. --------- , 1926, «Les maítres et modéles: Jean d e Saint-Thomas», in La Vie S piritu elle, pp. 387-415. M aritain , Jacques, 1922, A n tim od em e, Éditions de ia Revue des Jeunes, Paris. --------- , 1985, «Jean d e Saint-Thomas», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de S anto Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 267-276. M artins , Antônio Manuel, 1989, «Conimbricenses», in Logos, E n ciclop éd ia Luso-B rasileira de F ilosofia , Verbo, Lisboa. Martins , Mário, «Frei Joâo d e São Tom ás na História das Idéias Estéticas na Península», in A n to lo g ia de Estudos sobre Joã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. d o Instituto Am aro da Costa, Lisboa, pp. 185-196. M asson , Richard, s. d., «Duns Scotus according to John o f St. Thomas: an appraisal», in D e D o ctrin a Joa n n is D u n s S coti (Acta Congressus Scotistici Internationalis O xon ii et Edinburghi), vol. iv, pp. 517-534. M enéndez-Reigada , Frei Ignacio, 1944, «Os Dons do Espírito Santo e a Con tem plação segundo Frei João de São Tomás», in Lum en, Revista de C u l tu ra d o C lero, xn, Lisboa, pp. 677-689. --------- , 1944, «No Terceiro Centenário da M orte de João de São Tomás», in A cçã o C a tólica , B oletim A rqu id iocesa n o, n.° 12, Braga, pp. 629-635. M ercier, Dume, 1903, «Prefácio», in Curso de P h ilosophia, Typographia da «Revista Catholica», Viseu, pp. 11-24. M ininni , Giuseppe, 1983, aIl Pensiero Linguístico in Tom m aso d ’Aquino», in L in g u ística M edievale, Adriatica Editrice, Bari, pp. 55-122. M o n d in , Battista, 1996, «Giovanni di S. Tommaso», in S toria delia Teologia, vol. ni, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, pp. 279-283. M orlion , Félix, 1944, «A Dialéctica de João d e São Tom ás Aplicada aos Problemas Actuais», in Estudos, Revista de C u ltu ra e F orm a çã o Católicas, número especial 8-9, Coimbra, pp. 349-362. M orency , Robert, 1946, V a ctiv ité a ffective selon Jean de S a in t Thomas, Editions de 1'Université Lavai, Quebeque. M oreno , Alberto, 1959, «Implicación material en Juan de Santo Tomás», in Sapientia, 14, pp. 188-191. --------- , 1963, «Lógica proposicional en Juan de Santo Tomás», in S a pientia, 18, pp. 86-107.
295
Múrias, Manuel, 1923, O Seiscentismo em Portugal, Tipografia da Gazeta dos Caminhos de Ferro, Lisboa. -------- , 1925, Cultura Peninsular no Renascimento, ed. da revista Nação Portuguesa, Lisboa. N oel, Léon, 1944, «A Obra Filosófica e Teológica de Frei João de São Tomás», in Estudos, Revista de C ultura e Form ação Católicas; número espe cial 8-9, Coimbra. O liveira , P.e João de, 1944, «Realismo de João de São Tomás e Nominalismo de Descartes», in Estudos, Revista de Cultura e Form ação Católicas, número especial 8-9, Coimbra, pp. 363-394. -------- , 1944, «Os Requisitos para Ser Verdadeiro Discípulo de São Tomás, segundo João de São Tomás», in Lumen, Revista Católica do Clero, viii, Lisboa, pp. 415-422. ---------, 1944, «Síntese Teológico-Filosófica do Conhecimento através da Obra de João de São Tomás», in Lumen, Revista Católica do Clero, xn, Lisboa, pp. 690-702. O nofre, Antônio de Jesus Soares, 1944, «Frei João de São Tomás, o Homem, a Obra, a Doutrina», in Lum en, Revista de Cultura do Clero, xn, Lisboa, pp. 664-676. P aquin , Jules, 1932, La lum ière de g lo ire selon Jean de Saint-Thom as, L'Imaculée-Conception, Montréal. Pola, M., G., 1972, «Juan de Santo Tomas o Juan Poinsot», in D iccion a rio de Historia Eclesiástica de Espana, vol II, Instituto Enrique Florez, Consejo* Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. Pontes, José Maia da Cruz, 1981, A n tôn io de Sena: um Português na História do Tomismo, Guimarães. ---------, 1992, «Tomismo em Portugal», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa. Prieto del Ray , Maurilio, 1965, «Significación y sentido ultimado: la noción de suppositio en la lógica de Juan de Santo Thomás», in Convivium , 19-29, pp. 45-72. Rendeiro, Francisco, 1944, -João de São Tomás Interpretando a Doutrina da Imaculada Conceição segundo S. Tomás de Aquino», in Lumen, Revista Católica do Clero, u, Lisboa, pp. 703-709. Romeo, Luigi, 1979, «Pedro da Fonseca in Renaissance Semiotics: A Segmen tai History os Footnotes», in Ars Semeiotica, 11, John Benjamin, Amesterdão. Salgueiro, Manuel Trindade, 1940, O Conhecim ento Intelectual na Filosofia de Fr. foã o de São Tomás; separata da Bihlos, vol. xvi, t. n, Coimbra. ---------, 1985, «Intelecto Agente e Intelecto Possível», in A ntologia de Estudos sobre fo ã o de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. do Instituto Amaro da Costa, Lisboa, pp. 105-118. Silva, Paula Oliveira, 1991, «João de São Tomás», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Verbo, Lisboa. T homas, Ivo, 1950, «Material implication in John o f St. Thomas», in D om inican Studies, n.° 3.
296
T homas, John o f St., 1955, Outlines o f Form al Logic, trad. Francis Wade et al., col. Medieval Philosophical Texts in Translation, Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin. -------- , The M aterial Logic o f John o f St. Thomas — Basic Treatises, trad. Yves Simon, John Glanville, Donald Hollenhorst, The University o f Chi cago Press, Chicago, Illinois. T omás, Joâo de São, 1930-1937, Cursus Philosophicus Thomisticust Ars Ló gica Seu de Form a et Matéria Ratiotinandi, vols. i-rri, ed. P. Beato Reiser, Marietti, Sancte Sedis et Sacrae Rituum Congregationis Typographi, Turim. ---------, 1931-1964, Cursus Theologicus — opera et studio m onachorum quorum dan solesmensium, vols. i-v, Parisiis: Typis Societatis S. Joannis Evangelistae. -------- , 1944, «Habitação da Santíssima Trindade na Alma Justa», trad. anô nima, in Lumen, Revista Católica do Clero, xii, Lisboa, pp. 710-716. -------- , 1944, «A Acção Imanente», trad. anônima, in Estudos, Revista de Cultura e Form ação Católicas, número especial 8-9, Coimbra, pp 395400. -------- , 1951, The Gifts o f the H oly Ghost hyJohn o f St. Thomas, trad. Dominic Hyhes, Dominic, Sheed & Ward, Nova Iorque. -------- , 1930, Les dons de Saint-Esprit, trad. Raissa Maritain, Raissa, Éditions du Cerf, Juvisy. Vaz , Luís, 1985, «Lovaina, Encruzilhada do Espírito», in A ntologia de Estudos sobre João de Santo Tomás, org. de Jesué Pinharanda Gomes, ed. do Instituto Amaro da Costa, Lisboa, pp. 65-72. V entosa, Enrique Rivera de, 1982, «Significación de Juan de S. Tomás en la historia dei pensamiento», in Actas do I Congresso Luso-Brasileiro de Filosofia, Revista Portuguesa de Filosofia, 38-n, Braga, pp. 581-592. V ílanova, Evangelista, 1987, H istoria de la Teologia Cristiana, .t. i e n, Biblioteca Herder, Sección de Teologia y Filosofia, Editorial Herder, Bar celona. W inance , Eleuthére, 1985, «Echo de la querrelle du psychologisme et de 1’antipsychologisme dans YArs Lógica de Jean Poinsot», in Semiótica. W inter, William, 1958, The M otive and the A ct o f D ivine Faith A ccording to John o f St. Thomas, Pontifícia Universitas Gregoriana, Roma. W o l ic k a , Elzbieta, 1979, «Notion o f Truth in the Epistemology o f John o f St. Thomas», in The New Scholasticism, n.° 53, pp. 96-106.
297
colecção
PENSAMENTO PORTUGUÊS
Últimas obras publicadas: LE A L CONSELHEIRO D om Duarte Edição critica, introdução e notas de Maria Helena Lopes de Castro Prefácio de Afonso Botelho O BRA FILOSÓFICA Francisco Sanches Prefácio de Pedro Calafate Tradução de Giacinto Manuppella, Basílio de Vasconcelos e M iguel Pinto de Meneses E N SAIO SOBRE A PSICOLOGIA, NOÇÕES ELEMENTARES DE FILOSOFIA E OUTROS ESCRITOS FILOSÓFICOS Silvestre Pinheiro Ferreira Prefácio de Maria Luísa Couto Soares Tradução de Rodrigo S. Cunha POESIA DO DIREITO. ORIGENS POÉTICAS DO CRISTIANISM O. AS LE N D A S CRISTÃS T e ó filo Braga Prefácio de M aria da Conceição Azevedo N O T A S SOBRE A N TE R O , C AR TAS DE PRO B LEM ÁTIC A E OUTROS TEXTOS FILOSÓFICOS A n tôn io Sérgio Introdução de Antônio Pedro Mesquita D IÁLO G O S DE A M O R Leão Hebreu Apresentação de João Vila-Chã, S. J. T R A T A D O DOS SIGNOS João de São Tomás Tradução, introdução e notas de Anabela Gradim Alves
Esta edição de T ra ta d o dos S ign os
foi executada na IMPRENSA NACIONAL-CASA D A MOEDA com uma tiragem de oitocentos exemplares. Orientação gráfica do Departamento Editorial da INCM. Acabou de imprimir-se em Novem bro de dois mil e um. ED. 130 000 2080 C Ó D . 245 023 000 ISBN 972-27-1100-8 Depósito legal n .° 172 125/01 www.inem .pl E-mail: [email protected] E-mail Brasil: [email protected]
Related Documents

Pdfslide.net_resistencia-de-materiales-carlos-joo-2014docx.docx
February 2021 0
2 Gradim Tratado Signos Incm
March 2021 0
So
January 2021 4
Tratado Da Reintegracao Dos Seres - Martinez Pasqually
January 2021 0
Signos-de-puntuacion
February 2021 1
Examen Fundamentos De So
February 2021 0More Documents from "jorge"